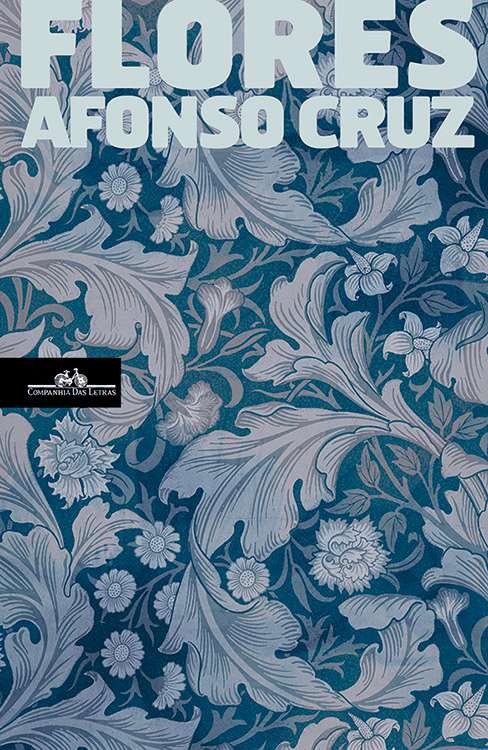Um gesto romântico, uma coroa num funeral, um pedido de desculpas, um apelido. As flores no título do mais recente romance de Afonso Cruz são isto tudo. Tal como isto tudo cabe no livro que acaba de chegar às livrarias: amor, morte, rotina, um homem que dá beijos como quem pousa os lábios na borda de um copo vazio e outro que ficou sem memória e se indigna com as notícias, as contas e a publicidade que chegam pelo correio enquanto repete que as pessoas precisam de ter mais “altitude”.
“O ser humano é o único animal que ri, apesar da taxa de desemprego”, lê-se na página 123. E é assim, entre o humor e a gravidade, que o autor de Jesus Cristo Bebia Cerveja fala também sobre o seu novo romance. Em entrevista ao Observador, Afonso Cruz revela qual acha que deve ser o papel do escritor nos nossos dias, fala da importância da banalidade mas também dos seus perigos — “olhar para a corrupção quotidiana como quem olha uma montra de um pronto-a-vestir” é um deles — e explica porque é que deveríamos ter uma caveira na mesinha de cabeceira a servir de despertador.
Regressas aqui a alguns temas que estão em livros anteriores. A morte, o passado e o amor — esta é a tua santíssima trindade na literatura?
São os grandes assuntos, e também são as coisas basilares da nossa vida. Nós vivemos com esses grandes problemas permanentemente. Mesmo que não tenhamos consciência deles a todo o instante, são o fundamento da nossa existência. Não faríamos nada se não tivéssemos a pressão da morte — não havia pressão para agir se não me sentisse efémero. E claro, inevitavelmente, isso toca outros temas. A memória é um deles, o amor, a felicidade, a desgraça. Tudo isso faz parte de um bolo.
Começando pelo amor. O narrador deste romance está afundado no tédio e à beira do divórcio. Olha para a mulher e já não sente nada. A realidade, no sentido do quotidiano – sejam as reuniões de condomínio ou a loiça por lavar – é inimiga do amor?
Sim e não. Há aqui duas coisas a considerar. Uma é que nós, evidentemente, gostamos da novidade, de tudo o que sai da rotina e é extraordinário. Por outro lado, as nossas relações também são consolidadas pela rotina. É a rotina que nos solidifica. Ou seja, se eu me comportar sempre da mesma maneira, posso considerar-me uma pessoa assim, com essas características. Se eu me comportar de uma maneira errática, mais dificilmente consigo encontrar uma identidade. É precisamente a rotina e o facto de agir de uma determinada maneira que me caracteriza. E caracteriza as nossas relações também, isto é, faz-nos sentir confortáveis com outra pessoa.
Sabemos o que esperar.
Eu uso no [livro] O Pintor Debaixo do Lava-Loiças uma frase de uma senhora que diz: “Nós só somos felizes quando deixamos de sentir os sapatos nos pés.” Porque antes magoam-nos. Há uma naturalidade que se ganha e que uma coisa mais caótica não tem. Por outro lado, perde-se vivacidade, perde-se a experiência da novidade, das primeiras vezes, daquela coisa vulcânica, e perde-se esse momento arrebatador das paixões, em que estamos apaixonados, em que o mundo muda radicalmente porque nós mudamos também. Portanto temos essas duas coisas para equilibrar.
Há uma frase do livro que até foi escolhida para a contracapa, que diz: “Beijamo-nos como quem faz a cama.” Naquele contexto ela tem uma interpretação negativa, porque é algo que já se fez tantas vezes que nem se sente. Mas também poderia ter uma interpretação positiva. Concordas?
Sim. Podia ser querer chegar a casa e ter aquele beijo que se reconhece, que já se sabe que é assim. Da mesma maneira que na nossa vida quotidiana gostamos de ter determinadas coisas arrumadas em determinados sítios e ficamos irritados quando não as encontramos. Por outro lado, [a rotina] também cria uma certa anestesia em relação ao mundo. Vivemos de certa forma alheados, o que até pode provocar coisas mais graves como uma desumanização em relação à sociedade. Por vivermos constantemente rodeados de determinados problemas, criamos uma capa em que deixamos de os ver.

Afonso Cruz venceu o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores com o romance anterior, “Para Onde Vão os Guarda-Chuvas”. © Hugo Amaral / Observador
Este é talvez o teu romance em que há mais personagens zangadas com o que veem, sejam os bombardeamentos em Gaza ou o facto de em Portugal se viver sem cultura ou com os filhos a emigrarem. Isto é porque tu estás zangado com o mundo atual? Ou zangado com o facto de não haver mais pessoas zangadas?
Se calhar as duas coisas. Há essa questão de já não repararmos em determinados acontecimentos. Morrem pessoas o tempo inteiro, das maneiras mais atrozes, mas se forem separadas, isso não é notícia. Se morrem 20 pessoas num atentado, num terramoto, pode ser notícia. Mas o facto de morrerem continuamente, espalhadas pelo mundo, muito mais pessoas do que aquelas 20, não é notícia. E nós dessensibilizamo-nos em relação a esse tipo de coisas.
Há pouco tempo li um livro do [Georges] Perec em que ele diz que se calhar não é tão importante o facto de ter havido uma fuga de gás numa mina, mas o trabalho nas minas é que devia ser criticável, porque é constante. Acontece todos os dias, mas nós já nem reparamos. É preciso acontecer alguma desgraça para tornar esse trabalho um foco, porque normalmente estamos alheados da injustiça constante. Isto por um lado. Por outro, as grandes tragédias têm a capacidade de nos revoltar, mas é uma coisa episódica. Somos capazes de estar indignados durante dez minutos mas rapidamente temos os e-mails para ver, ou outra coisa para fazer, e seguimos em frente. O que também é normal, não podemos estar permanentemente escandalizados com tudo.
O que é que podemos fazer então?
Às vezes uma pequena mudança comportamental, de atitude, pode mudar imensas coisas à nossa volta. No livro há uma história de uma flor no cabelo que muda uma aldeia inteira, e eu acredito mesmo que uma pequena alteração pode mudar o meu comportamento em relação a determinadas coisas ou determinadas pessoas, levar essas próprias pessoas a mudarem e isso ser um contágio. Porque é mais fácil eu conseguir mudar as coisas que estão ao meu alcance do que as que estão muito longe. Apesar de hoje em dia a distância já ser uma coisa relativa. Já não nos podemos focar nos nossos mortos porque quaisquer pessoas que morram no mundo são os nossos mortos.
Mas claro, sinto-me por vezes impotente em relação a determinadas coisas que acontecem, e também sinto que agimos muito pouco, saímos muito pouco do nosso lugar e do nosso bem estar de classe média confortável. Há muitas vezes o discurso de “mas eu não sinto a crise”. Sim, mas o facto de eu não sentir a crise não quer dizer que outras pessoas não sintam, e essa empatia seria essencial, especialmente vinda de pessoas mais informadas e que têm alguma capacidade para mudar ou, quanto mais não seja, para pelo menos emitir uma opinião e poder com isso chegar a determinadas pessoas.
Como os escritores?
Há uns meses estive na Hungria, na feira do livro, numa sessão em que 30 e tal escritores estavam a debater se o escritor deveria ou não ter um papel relevante na sociedade. Curiosamente, naquela mesa as pessoas dividiam-se entre Europa ocidental e Europa de Leste. No Leste, onde se viveram ditaduras e sistemas opressivos durante mais tempo, e se calhar de uma maneira mais radical, tem-se muito a ideia de que o escritor deve ter um papel social, enquanto na visão dos ocidentais, que têm uma relação mais próxima da liberdade, a maior parte dos escritores limita-se ao “eu escrevo o que me apetece”. Eu concordo perfeitamente – um escritor deve escrever aquilo que lhe apetece – mas também acho que um escritor não se pode esquecer de uma coisa muito importante: nós temos uma arma que o cidadão comum não tem. Nós chegamos a uma série de pessoas e temos essa responsabilidade. Eu posso optar por não a utilizar enquanto arma mas a verdade é que tenho isso nas mãos. Apesar de perceber perfeitamente os dois lados, a verdade é que os escritores têm essa possibilidade e parece-me que é um desperdício não a usar de vez em quando.
Há essa espécie de alerta no livro. Quer para despertarmos perante as coisas más, quer, por outro lado, para despertarmos perante as coisas boas como o amor ou a amizade.
Claro, porque eu não acho que as coisas sejam dissociáveis. As pequenas atitudes que melhoram a minha vida pessoal também melhoram a sociedade de uma maneira geral. As pequenas coisas que nos dão esperança ou otimismo ou felicidade são muito importantes para construirmos uma sociedade melhor. Neste caso, este é um livro mais focado em Portugal. Há uma relação mais direta com o que estamos a passar, apesar de eu optar por nunca ser muito direto porque quando se é demasiado direto o livro perde atualidade. Daqui a dois anos já ninguém se lembra que o Paulo Portas disse que tomou uma decisão irrevogável.
Há uma personagem que não se lembra de certeza e que se distingue das outras precisamente por isso: o senhor Ulme, que teve um aneurisma e por isso não tem memórias. Tu escreves, a propósito disso: “Deixar de ser é pior do que sofrer por ser ou ter sido.” Ou seja, mesmo que as memórias sejam más, é preferível tê-las?
Claro, em especial neste tipo de passado, que é um passado afetivo. E se há uma coisa importante para nós são os nossos afetos e as relações que criamos, e o facto de sentirmos que não somos uma ilha e que não estamos sozinhos. Quando não temos afetos, isso muda tudo, tanto dentro de nós como à nossa volta, e o mundo fica uma coisa completamente diferente.
O narrador empenha-se em reconstruir o passado do senhor Ulme mas há coisas que se calhar preferia não ter descoberto, e que até lhe vai omitir.
É uma generosidade natural. Porque ele vai ter relatos muito antagónicos da personalidade do senhor Ulme, o que tem um pouco a ver com as pessoas gostarem de nós ou não gostarem de nós. As pessoas que não gostam focam-se nas coisas más, as que gostam focam-se nas coisas boas. E de repente, aos olhos de quem nos adora, nós somos santos, sábios, justos, somos uma coisa quase divinizada. Mas para uma pessoa que não gosta de nós, somos uma espécie de pequeno demónio. E nesse sentido o narrador, que gosta do vizinho, poupa-o a determinadas coisas. O que também é perfeitamente normal nas nossas relações, até porque criamos uma capa de civilidade, que é útil mas que não deixa de ser uma espécie de constante mentira.
Os índios, por exemplo, chamam-nos mentirosos. Porque se eu chegar ao pé de um índio que não tem pudor com a verdade e tiver o nariz grande, ele vai dizer: “olha, tens o nariz grande”. E isso é algo que nós não fazemos, sobretudo porque conhecemos pessoas novas, com quem não temos uma relação de sinceridade, o tempo todo. E claro, nós para eles somos mentirosos porque passamos o tempo nestas pequenas mentiras, que às vezes são absolutamente essenciais para continuarmos a conviver.
Depois também é explorar essa coisa tão estranha que é nós não sermos o que julgamos que somos, até porque somos mais benevolentes connosco do que com os outros. Aquilo que nós vemos ao espelho, que pode ser um conjunto de virtudes, aos olhos dos outros pode ser um conjunto de defeitos. E isto passa-se exatamente com a mesma ação. Eu posso estar perfeitamente convicto de que estou a fazer uma coisa do mais ético que há, e para outra pessoa essa ação ser quase um crime.
Por exemplo?
Quando damos um emprego a alguém, que à partida é uma coisa boa, estamos evidentemente a recusar um emprego a não sei quantas pessoas que não escolhemos. Estes dois lados são inevitáveis. E para todas as pessoas a quem recusamos um emprego, nós somos uns idiotas, enquanto para aquela pessoa a quem arranjámos emprego, somos bons. Curiosamente, neste tipo de decisões, o bem é mais pequenino do que o mal, e é normal também que a visão de muita gente até seja menos laudatória do que nós imaginaríamos. Gosto muito de explorar essa ideia, e até brinco com isso. Agora já não vou ao barbeiro, porque estou careca, mas quando ia, de vez em quando ainda via a minha nuca. Agora raramente vejo a minha nuca, portanto há pessoas que conhecem a minha nuca muito melhor do que eu. Se calhar tu conheces a minha nuca melhor do que eu [risos]. Ou seja, até o nosso corpo, que pensamos conhecer intimamente, há partes que realmente não conhecemos assim tão bem. E se com o nosso corpo temos este tipo de relação, imagina com a alma, que é muito mais complexa e que tem fios ligados a tantas coisas e a tantas pessoas, como uma tapeçaria que é impossível de interpretar de uma só maneira.
Isto para além da quantidade de ficção que metemos na nossa própria memória, a forma como recriamos os eventos, como à medida que crescemos vamos reinterpretando e até mudando as coisas. Apropriamo-nos de histórias de outras pessoas e acreditamos piamente que elas são nossas, de tanto as ouvir ou repetir. E não é só isso. A determinada altura, é um pouco como ler um livro. Eu leio um livro com dez anos, leio esse mesmo livro com 20 anos, e o livro que eu vou ler é diferente do primeiro. A nossa memória é um pouco assim: olhamos para esses acontecimentos agora de uma perspetiva diferente, e vemos outras coisas. Não necessariamente mais verdadeiras, mas diferentes.
E dependemos dos outros não só para ver a nuca. Como diz o livro, dependemos dos nossos pais para ter certas memórias de infância.
Eu tive essa consciência quando a minha mãe morreu. Para além dos anos de vida que nós perdemos, eu perdi os meus cinco anos, os anos que a minha mãe passou comigo, o tempo todo, e em que é ela que se lembra como é que eu era, como é que me portava. Ela seria uma espécie de guardiã, e quando ela morre leva consigo os primeiros cinco anos da minha infância, que se calhar são os mais formadores e os mais importantes para a construção daquilo que eu sou hoje, da minha personalidade e do meu caráter. E isso é algo irreversível: morre uma mãe — ou um pai — e nós perdemos essa parte da nossa vida.
E também acontece o inverso. Tu também terás memórias dela que és tu que tens e que desaparecerão contigo.
Exatamente. Por exemplo os meus avós: quando os netos, e as pessoas que os conheceram, morrerem, eles desaparecem. Quando nós morremos, também eles vão connosco. É também por esse motivo que cada vez que fazemos uma coisa qualquer, são os nossos antepassados todos a fazerem, são as pessoas todas que estiveram com os nossos antepassados, e portanto temos um povo inteiro atrás de nós a empurrar-nos o braço. Tal como temos também uma série de esperanças a puxar-nos também. O futuro, os filhos que não nasceram a puxarem-nos e a dizerem: “sobrevive lá porque eu vou precisar de nascer um dia”.
Apesar de estar sempre tão presente, tu transmites uma ideia da morte como uma espécie de motor, o que poderia ser contraditório. Se a vida é efémera, podíamos pensar que não vale a pena fazer grande coisa. E funciona ao contrário, como naquela imagem que está no livro e que diz que devíamos ter uma caveira como despertador.
É aquela história do [Jorge Luis] Borges d’O Imortal. Um homem cai num buraco e ninguém o salva porque, se eu sou imortal, amanhã ou daqui a mil anos significa o mesmo, e portanto eu posso salvá-lo daqui a mil anos ou daqui a um milhão, não importa, não tenho essa pressão nem tenho urgência nenhuma em fazê-lo. Mesmo para a pessoa que cai – se ela for imortal, um dia, mil dias, também não é assim grande diferença. Deixamos de ter essa noção de tempo, e de efemeridade, e deixamos de fazer coisas boas, e também coisas más. Já não temos urgência em agir. Quando sabemos que amanhã podemos não estar aqui, enfim, temos de fazer alguma coisa, e temos de fazer alguma coisa hoje. A morte confronta-nos com a importância das nossas ações. Se eu souber que morro amanhã, se tiver essa certeza, se calhar não vou fazer exatamente a mesma coisa que tinha planeado para hoje, vou fazer outras coisas. Se tivéssemos esse despertador, se calhar seríamos melhores, porque estaríamos sempre a pensar: “esta ação que eu vou fazer, vale a pena ser feita? Ou é um desperdício de tempo e estou aqui a desperdiçar a minha vida numa coisa que não tem interesse nenhum?”. A morte acaba por dar importância àquilo que fazemos.