Índice
Índice
“A história é escrita pelos vencedores” é uma frase que, independentemente de quem a formulou – tanto é atribuída a Winston Churchill como a Walter Benjamin – tem uma boa parcela de verdade. O aforismo costuma ser aplicado ao caso da história dos conflitos militares e das lutas políticas, que é escrita na perspectiva do país beligerante que ganhou a guerra ou do monarca que afastou o rival. Tome-se o exemplo da história da Roma imperial: todos os imperadores que foram derrubados nos são apresentados pelos historiadores e cronistas do seu tempo como cruéis, corruptos, prepotentes, iníquos e tarados – tratar-se-á de uma extraordinária coincidência, ou os historiadores e cronistas estavam apenas a fazer o trabalho que lhes foi encomendado pelo novo imperador, denegrindo o antecessor de forma a legitimar o acto de usurpação?
Atribui-se a Churchill uma variante da frase acima: “estou certo de que a História me julgará com benevolência, pois faço tenção de ser eu a escrevê-la”. E Churchill fê-lo com efeito – com tanto afinco que até ganhou o Prémio Nobel da Literatura – e a imagem idealizada e heróica de Churchill que ainda hoje domina os imaginários resulta, em parte, de a sua versão da história ter prevalecido.

Winston Churchill foi um autor prolífico, deixando, entre outros livros, uma história da II Guerra Mundial em seis volumes, e A history of the English-speaking peoples, em quatro volumes. Foi distinguido com o Nobel da Literatura em 1953
Mas a frase tem também aplicação fora do âmbito dos livros de história no sentido estrito: também as narrativas, análises, interpretações e prognósticos sobre o mundo e os eventos que nele têm lugar, surjam elas sob a forma de livros, artigos na imprensa, entrevistas, intervenções em debates e conferências e textos e palestras difundidos na internet tendem a ser pronunciadas por quem está na mó de cima – as elites políticas, empresariais e académicas.

Bill Clinton proferindo uma TED Talk, em 2007
Ora acontece que estas pessoas, mesmo que estejam animadas de boas intenções e almejem ter uma visão realista e isenta, vivem numa bolha de conforto, abundância e segurança que os isola dos cidadãos comuns e das suas necessidades, agruras e inquietações.
Parece ser este o caso de Yuval Noah Harari, professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém, autor de Sapiens: História breve da humanidade (ver O macaco que se converteu em deus), uma original e controversa síntese da história da Humanidade, e da sua sequela, recentemente editada em Portugal pela Elsinore, Homo Deus: História breve do amanhã (tradução de Bruno Vieira Amaral).
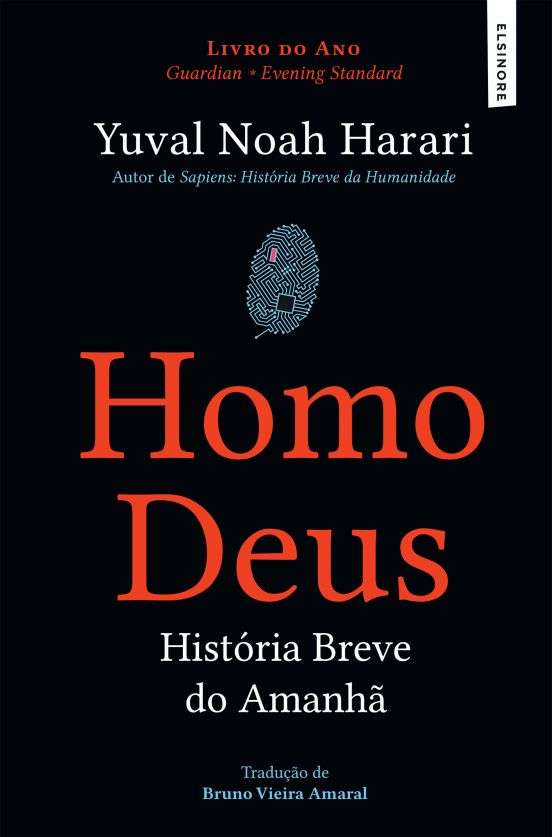
“Homo Deus – História Breve do Amanhã” , de Yuval Noah Harris (Elsinore)
Homo Deus retoma a argumentação do último capítulo, “O fim do Homo sapiens”, de Sapiens: História breve da humanidade: estamos num ponto da história em que estão prestes a ser resolvidos todos os grandes problemas que atormentaram a Humanidade durante milénios: guerras – é mais provável cometer-se suicídio do que morrer num conflito armado –, fome – é mais alto o risco de obesidade do que de fome – e doenças – a morte tornou-se um simples problema técnico e estamos perto de alcançar a imortalidade.

Yuval Noah Harari
Fome
Quanto à fome, a visão de Harari é de uma frieza e de um simplismo estarrecedores: “no mundo já não há fomes que tenham origem em causas naturais, apenas privações alimentares devidas a causas políticas. Se há pessoas a morrerem à fome na Síria, no Sudão ou na Somália é porque algum político assim o quer”.
Presume-se que será um consolo, para quem hoje ainda morre à míngua, saber que tal não se deve a escassez de alimentos, pois os agricultores produzem mais do que suficiente para as necessidades da população do planeta, mas a decisões políticas. Será também um consolo, retrospectivo, para os 15-45 milhões de chineses que morreram nas fomes decorrentes do Grande Salto em Frente de Mao Tse-Tung, para os 2.4 a 12 milhões de ucranianos que morreram de fome em 1932-33, em resultado das políticas de Stalin, ou para os 2 a 3 milhões de indianos que pereceram na grande fome de Bengala em 1943 quando Winston Churchill e o Gabinete de Guerra da Grã-Bretanha não permitiram que fossem encaminhados para Bengala alimentos provenientes de outras partes da Índia e menos ainda que fossem para lá canalizados suprimentos de cereais destinados ao esforço de guerra britânico. A política é feita por pessoas e mesmo as pessoas que estão, genericamente, do lado certo da história, como Churchill em 1943, podem ser levadas a agir em função de preconceitos – Churchill deixou por várias vezes explícito o seu desprezo pelos indianos e considerou que a fome dos bengalis era, afinal, culpa deles mesmos, “por se reproduzirem como coelhos”.

Vítimas da fome em Bengala, 1943
Sim, a produção global de alimentos está hoje menos sujeita a imponderáveis como secas, inundações, vagas de calor e frio e pragas, a produtividade agrícola aumentou espectacularmente (frequentemente à custa de danos sérios no ambiente) e a probabilidade de se morrer de fome num país europeu diminui vertiginosamente nos últimos séculos, mas isso não significa que a fome no mundo esteja em vias de ser erradicada. Há muito que o mundo, tomado globalmente, produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes e, todavia, a má distribuição dessa abundância, resulte ela da negligência, da incompetência, da ganância, da corrupção, da indiferença, da malevolência, do preconceito racial, do livre funcionamento dos mercados ou da política, nunca deixou de fazer vítimas. Assim sendo, parece provável que, por mais excedentes de soja que os agricultores dos EUA consigam produzir, há-de haver gente a morrer de “fome política” na Somália ou no Sudão do Sul.

Campo de acolhimento em Dollow, na fronteira entre a Somália e a Etiópia, Julho de 2011. A fome que atingiu a África Oriental em 2011 fez 150.000 vítimas. As Nações Unidas estimam que existam hoje 20 milhões de pessoas em risco de morrer de fome na Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Yemen
Conflito
No plano dos conflitos bélicos, Harari também está optimista. No seu gabinete na Universidade de Jerusalém e nos auditórios pelo mundo fora em que dá conferências, não lhe chegaram rumores da ascensão dos nacionalismos e dos populismos e da extrema-direita, da intensificação do fundamentalismo religioso nos países islâmicos, do descrédito no projecto europeu que alastra à esquerda e à direita do espectro político, da perda de confiança dos cidadãos na democracia, do alheamento crescente dos jovens em relação à política. Harari também não vê sinais preocupantes no renascer das ambições imperiais na Rússia de Putin, nem adivinha uma feroz disputa por recursos entre a China e os EUA. Não o preocupa a putrefacção do sistema político brasileiro, o insolúvel impasse na Venezuela ou o fracasso generalizado dos países africanos, que leva os seus habitantes desesperados a preferir arriscar o afogamento no Mediterrâneo a ficar em países atolados em corrupção e inércia.

Um caça J-15 no convés de voo do Liaoning, o primeiro porta-aviões chinês, que entrou ao serviço em 2016 e +e um dos eixos do programa de modernização das Forças Armadas do país
Não dá pelas disputas territoriais entre a China e os países vizinhos, nem pela animosidade entre o Irão e a Arábia Saudita, não teme um acto insensato de Kim Jong-un, nem lhe passa pela cabeça que a China possa ter um sério problema de instabilidade social no dia em que deixar de crescer às taxas a que tem crescido. Só não poderia esperar-se que Harari se mostrasse preocupado com o facto de a nação mais poderosa do mundo ser governada por uma criatura imprevisível e patologicamente narcísica, pois o livro foi publicado originalmente em 2015.
Harari também não parece aperceber-se de que a despesa mundial em armamento, que, após o fim da Guerra Fria, descera para um bilião de dólares por ano na viragem dos séculos XX-XXI, voltou a crescer espectacularmente, rondando, desde o início da presente década, 1.7 biliões de dólares por ano. Ou de que os conflitos existentes hoje no mundo são responsáveis pela existência de 21 milhões de refugiados – não dão muito nas vistas, pois não costumam ser convidados para TED Talks nem para a Web Summit.
Prosperidade
No domínio económico, Harari faz contas ao PIB per capita e congratula-se com os progressos registados um pouco por todo o mundo – é o tipo de pessoa que acha que se ele comeu um frango e outro não comeu nada, então é porque cada um comeu meio-frango.
Os PIBs per capita são números muito convenientes para quem queira escamotear a realidade, pois não deixam transparecer que ao crescimento efectivo do PIB está associado, desde o final dos anos 70, um aumento das assimetrias na sua distribuição; não deixam ver que a quota correspondente ao capital tem aumentado à custa da quota correspondente à remuneração do trabalho; que a razão entre a remuneração dos CEOs face às remunerações dos trabalhadores médios das empresas se multiplicou várias vezes; que o crescimento consistente do número de milionários e bilionários contrasta com a estagnação ou até a diminuição dos rendimentos da classe média, quando corrigidos do efeito da inflação; que o aumento da carga fiscal sobre o cidadão médio é acompanhado pela intensificação do uso pelas grandes empresas e pelos milionários de esquemas cada vez mais ardilosos e retorcidos para se furtarem às obrigações fiscais.
[Vídeo da entidade promotora do turismo das Ilhas Cayman, um arquipélago que tem muito mais para oferecer para lá das belezas naturais]
Os PIBs per capita não mostram que as taxas de desemprego jovem – mesmo entre os que têm formação superior – têm vindo a crescer; que algumas profissões intelectuais e criativas têm vindo a sofrer um processo acelerado de proletarização; que há cada vez maiores receios de que os sistemas de segurança social não sejam capazes de assegurar uma reforma digna a quem está hoje na meia-idade, quanto mais aos que acabaram de entrar no mercado de trabalho.

Desempregados, Grande Depressão, EUA
Harari reconhece que a satisfação das pessoas com a vida não tem acompanhado o aumento dos PIBs per capita, mas não atribui isso ao facto de muitas delas não estarem, na realidade, a beneficiar do aumento global de rendimentos– a culpa será da natureza da psique humana: “Não é por levarmos uma vida próspera e pacífica que ficamos satisfeitos. Ficamos satisfeitos quando a realidade coincide com as nossas expectativas. A má notícia é que, sempre que as condições melhoram, as expectativas disparam”. Nisto tem Harari razão, não há limite para as expectativas do ser humano e a “estagnação” é uma palavra temida por políticos e execrada por economistas – a condição desejável das economias é o crescimento, pois não há cidadão que não aspire a auferir maiores rendimentos e desfrutar de mais bens e serviços amanhã.
Harari não parece preocupado com o facto de o crescimento continuado depender, para lá do maior ou menor empenho e produtividade da população e da gestão mais ou menos eficaz de empresários e políticos, de uma arca inesgotável de recursos naturais e de uma capacidade ilimitada do ecossistema planetário para absorver e neutralizar os subprodutos tóxicos do crescimento. Apesar de se saber que a presente pegada ecológica média dos habitantes da Terra já excede largamente os recursos do planeta e de não ser sustentável a longo prazo, Harari está do lado dos economistas e políticos que crêem que será possível aumentá-la de forma a satisfazer todos os sonhos que os marqueteiros nos vendem diariamente, aguardando talvez que descobertas científicas providenciais possam salvar-nos da catástrofe ecológica, tal como nos westerns a cavalaria aparece para salvar os colonos sitiados pelos índios no momento em que aqueles dispararam os derradeiros cartuchos.

Um ex-paraíso: Nauru era uma ilha tropical tão paradisíaca como as Cayman, mas a extracção descontrolada de fosfatos deixou-a assim
Em certos trechos do livro, Harari mostra estar consciente de um dos problemas sociais e económicos mais candentes dos próximos anos – a substituição de postos de trabalho humanos por máquinas (ver Robôs: Que fazer com toda esta gente supérflua? e Ascensão dos robôs: Até onde podem chegar as máquinas). Perante o cenário de mudança vertiginosa associado à economia digital, que está a tornar desnecessários muitos trabalhadores humanos, Harari adopta uma atitude optimista: sim, acabou essa ideia caduca do “emprego para a vida”, mas isso não é mau, basta que as pessoas se reinventem constantemente e vão descobrindo para si mesmos novos nichos à medida que as máquinas se apoderam dos antigos. É fácil de se dizer quando se tem uma mente brilhante, um emprego para a vida como professor universitário e, para mais, se pertence ao jet set académico internacional, a quem nunca faltarão convites para leccionar, fazer palestras generosamente remuneradas, arengar nas TED Talks ou ser consultor de um governo na área da inovação e do desenvolvimento.
Empenhado como está em demolir as teorias humanistas que defendem que o homem é uma criatura “especial”, é com algum regozijo perverso que Harari vai enunciando as muitas áreas em que as máquinas estão a superiorizar-se ao homem, provando que afinal este é bem menos esperto e dotado do que gosta de imaginar-se. Mas o que é desconcertante é que a perspectiva de a robotização estar a fazer desaparecer milhões de empregos por ano e de isso gerar uma massa crescente de gente sem emprego nem rendimentos, susceptível de criar uma disrupção na sociedade, não belisca a convicção de Harari de que a humanidade resolveu os problemas económicos. Ora, se é verdade que a produção de bens e serviços continua a aumentar e há uma participação cada vez menor de trabalhadores de carne e osso, o problema da distribuição da riqueza gerada agudiza-se de ano para ano, pois os humanos lançados no desemprego não têm dinheiro para adquirir os bens e serviços. Por outro lado, não se poderá contar com as máquinas para consumir bens e serviços, pelo que o sistema acabará por sofrer um colapso. Resolver o problema da escassez não serve de muito se não se resolver o problema da desigualdade da distribuição.
Saúde
Harari descreve-nos com entusiasmo um mundo em que “a cada ano que passa, as equipas de investigação acumulam mais e melhor conhecimento, usado para criar medicamentos e tratamentos eficazes” e em que “nano-robots médicos poderão um dia percorrer a nossa corrente sanguínea para identificar doenças, eliminar agentes patogénicos e células cancerígenas”.

O futuro próximo de Yuval Harari: nano-robots médicos em acção
Os progressos na medicina no último século foram formidáveis e há sem dúvida ainda mais inovações de admirável engenho e sofisticação que se concretizarão brevemente. Mas uma coisa é o último grito da tecnologia médica e da farmacêutica e outra bem diversa são os serviços de saúde que o cidadão médio do planeta tem meios para pagar (ou que o Estado é capaz de lhe proporcionar).

O presente do nosso mundo: vítima de malária na Etiópia. Em 2015, foram registados em todo o mundo 296 milhões de casos de malária, que causaram 731.000 mortes
O mundo real é feito de países menos desenvolvidos, em que centenas de milhões de pessoas apenas beneficiam dos mais rudimentares cuidados de saúde, e de países desenvolvidos em que a sofisticação dos sistemas de saúde foi acompanhada por um aumento exponencial dos seus custos.
Cada fármaco inovador e cada novo processo de imagiologia acrescem à eficácia da medicina, mas também acrescem à sua factura. O aforismo “a saúde não tem preço” é uma meia-verdade: a saúde pode não ter preço, no sentido de ser inestimável na óptica individual, mas tem certamente um custo e este não pára de aumentar, exercendo pressão cada vez maior sobre os orçamentos dos cidadãos e dos sistemas nacionais de saúde. Um pouco por todo o mundo desenvolvido, os sistemas nacionais de saúde começam a evidenciar tremendas tensões, com os utentes a reclamar o usufruto dos últimos progressos da medicina e o Estado a tentar conter a incomportável escalada das despesas – o Estado acaba por ver-se forçado a desempenhar um papel cínico e calculista, que por vezes se torna, aos olhos da opinião pública, odioso, tentando convencer os utentes a contentar-se com tratamentos de segunda escolha ou colocando aos utentes tais dificuldades de acesso (nomeadamente através de tempos de espera incomportavelmente longos) que estes se vêem obrigados a recorrer aos sistemas privados de saúde se pretendem ser tratados em tempo útil. O florescimento exuberante dos sistemas privados de saúde nas últimas décadas atesta que o Estado está a conseguir moderar a escalada do orçamento do Ministério da Saúde à custa do aumento das despesas dos cidadãos no sector privado.
Nesta perspectiva, pode dizer-se que os admiráveis progressos da medicina são, paradoxalmente, a maior ameaça à sustentabilidade dos sistemas nacionais de saúde. E há que ter em conta que as despesas do Estado neste domínio tenderão a crescer ainda mais à medida que a esperança média de vida aumenta e o número de nascimentos diminui, criando uma sociedade envelhecida, formada maioritariamente por idosos alquebrados por doenças e mazelas que, há umas décadas tinham pouca expressão porque as pessoas tendiam a morrer antes da idade em que elas costumam manifestar-se.

Auguste Deter, em 1902. Deter foi a primeira pessoa a quem Alois Alzheimer diagnosticou a doença a que foi dado o seu nome
Os nano-robots e outros prodígios da ciência anunciados entusiasticamente por Harari serão eventualmente uma realidade para a elite endinheirada, mas dificilmente estarão acessíveis ao cidadão médio. Vive-se hoje mais tempo e com mais saúde do que há 50 ou 100 anos, mas daí a sugerir-se que os problemas essenciais de saúde da humanidade estão resolvidos vai um abismo.
Imortalidade
Após ter, supostamente, demonstrado que, neste início do século XXI, a humanidade conseguiu resolver os problemas que a atormentaram durante milénios, Harari explana a sua visão de futuro: “O sucesso gera ambição e as nossas conquistas mais recentes estão a encaminhar a humanidade para objectivos ainda mais ousados. Depois de assegurar níveis inéditos de prosperidade, saúde e harmonia, e tendo em conta a nossa História e valores actuais, é provável que os novos objectivos da humanidade sejam a imortalidade, a felicidade e a divindade […] Tendo elevado a humanidade acima do nível animalesco da luta pela sobrevivência, procuraremos transformar os humanos em deuses e fazer do Homo sapiens o Homo deus”.
E dá-nos exemplos da “minoria cada vez maior de cientistas e filósofos [que] tem vindo a [afirmar] que o principal objectivo da ciência moderna é derrotar a morte e conceder aos seres humanos a eterna juventude”. E enumera as possibilidades abertas pela sequenciação do genoma e pela engenharia genética e cita os profetas que surgem sempre que se fala de imortalidade e que, além de gerontologistas como Aubrey de Grey, parecem resumir-se a uma mão-cheia de novos-ricos de Silicon Valley e arredores: Ray Kurzweil, da Google, Peter Thiel, fundador da PayPal, Bill Maris, da Google, Elon Musk, da Tesla.

Raymond Kurzweil na Singularity Summit, na Universidade de Stanford, em 2006. Kurzweil crê na “singularidade tecnológica”, isto é, que não está longe um novo tipo de ser humano, resultante da fusão do seu corpo biológico com as tecnologias de informação
Argumenta Harari na pg. 36: “No século XX, quase duplicámos a esperança de vida de 40 para 70 anos, por isso, no século XXI poderíamos duplicá-la de novo até aos 150 anos”. Pelo mesmo raciocínio pueril, se em 1895 o record do mundo do salto em altura era de 1.97 m e em 1993 era de 2.45 m, isso significaria que no final do século XXI o record teria subido para os 2.93 m – acontece que nas últimas décadas a subida da fasquia começou a tornar-se cada vez mais lenta, à medida que eram atingidos os limites biomecânicos do corpo humano. Na verdade, o record do mundo no salto em altura não subiu um centímetro nos últimos 24 anos – é detido por Javier Sottomayor desde 1993. Algo de análogo acontecerá provavelmente com a esperança de vida: depois de resolvidos os problemas “fáceis”, nomeadamente os que envolvem a diminuição da mortalidade infantil e o controlo de epidemias, os progressos tornar-se cada vez mais pequenos a cada ano que passa, devido às limitações inerentes ao corpo humano.
[La passacaglia de la vita, de Stefano Landi (c.1586-1639), por Marco Beasley e o ensemble L’Arpeggiata, dirigido por Cristina Pluhar: “Enganas-te se pensas/ que os anos não hão-de acabar/ É preciso morrer/ É um sonho a vida/ que parece tão doce,/ é breve o gozo/ É preciso morrer/ De nada serve a medicina,/ inútil é o quinino,/ não podemos curar-nos/ É preciso morrer/ […] Não há forma/ de desfazer este nó,/ de nada serve fugir/ É preciso morrer/ É assim para todo o mundo,/ de nada vale ao astuto/ querer esquivar-se ao golpe/ É preciso morrer”]
Incompreensivelmente, na pg. 38 (apenas duas páginas à frente), Harari dá o dito por não dito e reconhece que “mesmo que a esperança de vida tenha duplicado nos últimos 100 anos, não há motivos para se fazer uma extrapolação e concluir que a conseguiremos duplicar novamente no próximo século”. Este é um aspecto recorrente de Homo deus: a formulação de afirmações sensacionais que são contraditadas pelo próprio autor umas páginas à frente. Basta mais uma página para que Harari volte a exprimir, com base numa lógica pueril, a crença de que a ciência encontrará um caminho para a vida eterna: “Os cientistas que estão sempre a gritar ‘imortalidade’ são como rapaz que gritava ‘lobo!’: mais cedo ou mais tarde, o lobo aparece”. Pela mesma lógica, se os cientistas gritarem repetidas vezes “vaca voadora”, “sereia” ou “colónias em Vénus”, também estas se tornarão reais?
É desconcertante a fé que Harari deposita na ciência, quando as suas fotos revelam que, aos 40 anos, o topo do seu crânio exibe uma cobertura capilar rala – como pode ele crer na inevitabilidade da descoberta do segredo da imortalidade, quando a ciência não conseguiu, em mais de um século de busca, um remédio minimamente eficaz para algo tão simples e prosaico como a calvície?
[Ária para baixo “Bestelle dein Haus”, da Cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106, de Johann Sebastian Bach, por Peter Harvey (baixo) e The Purcell Quartet (Chandos): “Arruma a tua casa/ pois irás morrer/ e nada ficará vivo”]
https://youtu.be/g0KDn-XdlME
É revelador que as fantasias sobre imortalidade provenham invariavelmente de génios como Kurzweil ou Musk, que se têm em tão alta conta que não são capazes de conceber que o seu fabuloso ego possa um dia cessar de existir e a seguir venha um imenso nada.

Elon Musk, CEO da Tesla Inc., um homem cujo valor está estimado em 15.200 milhões de dólares
Esta aspiração à imortalidade pela parte de figuras de proa do novo capitalismo digital encontra eco no fascínio pela extensão da vida entre as elites da URSS de Stalin, como relata Simon Ings em Estaline e os cientistas: Uma história de triunfo e tragédia: 1905-1953 (ver Os limões de Estaline e as grandes fomes soviéticas): “Homens idosos e desgastados que acreditavam religiosamente na ciência, bolcheviques como Gorki e Lunacharsky, eram adeptos das mais recentes técnicas de rejuvenescimento: implantações de glândulas de macacos, vasectomias, os banhos de soda de Olga Lepeshinskaya e o gravidan, uma curiosa substância extraída da urina de mulheres grávidas”.
Quem sabe se a ansiedade em relação à morte dos egos sobredimensionados dos milionários visionários de Silicon Valley e não se acalmaria com a leitura do poema “Visto do alto”, da polaca Wysława Szymborska e se não passariam a dirigir a sua prodigiosa inteligência e empreendedorismo para algo mais nobre e útil do que a auto-perpetuação: “Na estrada do campo há um besouro morto./ Os três pares de patinhas, dobrou-os com esmero sobre o ventre./ Em lugar do desvario da morte – asseio e ordem./ É moderado o horror desta visão,/ âmbito rigorosamente circunscrito entre escalracho e menta./ A tristeza não se pega./ O firmamento é azul.// Para nosso sossego, é uma morte como que mais chã/ há um morrer para os homens outro para os bichos,/ que perdem – queremos crer – menos sentido e mundo,/ ao partirem – quer-nos parecer – de um palco menos trágico./ As suas almas miudinhas não nos assustam as noites,/ respeitam distâncias,/ conhecem os usos.// E eis aqui este besouro morto no caminho,/ num estado indeplorável, luzindo a um ínfimo sol./ Pensa-se nele o simples tempo de o avistar:/ parece que não lhe sucedeu nada de importante./ Parece que o importante só a nós diz respeito./ Para vida que é só nossa, uma morte só nossa,/ morte que goza de prioridade absoluta”.

Wysława Szymborska (1923-2012)
Mas a poesia também é capaz, através de Álvaro de Campos, de dar uma resposta sarcástica e ácida ao anseio de eternidade dos novos-ricos da economia digital: “Se te queres matar, porque não te queres matar?/ Ah, aproveita! que eu, que tanto amo a morte e a vida,/ Se ousasse matar-me, também me mataria…/ Ah, se ousares, ousa!/ De que te serve o quadro sucessivo das imagens externas/ A que chamamos o mundo?/ A cinematografia das horas representadas/ Por actores de convenções e poses determinadas,/ O circo policromo do nosso dinamismo sem fim?/ De que te serve o teu mundo interior que desconheces?/ Talvez, matando-te, o conheças finalmente…/ Talvez, acabando, comeces…/ E de qualquer forma, se te cansa seres,/ Ah, cansa-te nobremente,/ […] Fazes falta? Ó sombra fútil chamada gente!/ Ninguém faz falta; não fazes falta a ninguém…/ Sem ti correrá tudo sem ti”.
Mas os génios das start ups e da indústria 4.0 são mais dados a ler flow charts e relatórios & contas do que poetas obscuros…
[Coro “Es ist der alte Bund”, da Cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106, de Johann Sebastian Bach, por Emma Kirkby (soprano), Michael Chance (contratenor), Charles Daniels (tenor), Peter Harvey (baixo) e The Purcell Quartet (Chandos): “Eis o antigo pacto:/ Homem, tens de morrer”]
https://youtu.be/j_-xshPA-kw
Por outro lado, os profetas da imortalidade parecem não perceber que o enorme valor que atribuímos à vida resulta precisamente de ela ser curta. O ensaio intitulado “Ficar comovido”, de G.K. Chesterton, foi redigido quando o escritor estava a mudar de casa, com os homens das mudanças a esvaziar pouco a pouco o escritório onde trabalhava: “Regresso à minha mesa de trabalho: não o digo com rigor, já que levaram também a mesa, num gesto de silente perfídia, enquanto eu me encontrava junto à janela a reflectir sobre a morte. Sento-me na cadeira e tento escrever sobre o joelho […] Sinto-me estranhamente grato pelo nobre quadrúpede de madeira em que me sento. Quem sou eu para que a espécie humana tenha esculpido e dado forma a quatro pernas adicionais de madeira para meu usufruto, para além das duas que me foram concedidas pelos deuses? O objectivo primordial de todo o género de privação é afinar a nossa concepção de valor, e talvez seja este, afinal de contas, o fundamento do enigma da morte […] Por uma qualquer perturbação que está na raiz da psicologia humana, temos de ser lembrados de que uma coisa é nossa através da possibilidade de ela se perder. Para nós, o auge da vida é um sonoro e glorioso grito vindo dos que estão a morrer […] Nos quatro cantos do templo humano da felicidade encontra-se um homem estropiado a apontar para uma estrada, um cego a prestar culto ao sol, um surdo à escuta dos pássaros e um homem morto a agradecer a Deus pela Sua criação”.

G.K. Chesterton (1874-1936)
A caminho da distopia?
Mas se a imortalidade parece ser uma fantasia, é plausível que os avanços na medicina consigam, dentro de décadas, através da sequenciação de genomas, de engenharia genética e tratamentos e medicamentos altamente sofisticados, acrescentar alguns anos de vida a Elon Musk e Ray Kurzweil, ou, senão a eles, aos seus filhos. Então e o resto da humanidade que não faz parte do clube dos milionários?
É inquietante perceber que estes avanços da medicina parecem remeter não para um futuro paradisíaco para toda a humanidade, mas para as distopias exploradas nos livros de ficção científica desde os anos 70, em que uma pequena elite super-poderosa assegura para si mesma saúde e longevidade invejáveis, bem como descendência geneticamente optimizada, enquanto as massas levam uma vida apagada, miserável e alienada.
Embora, por um lado, exulte com as possibilidades abertas pelos avanços na medicina, Harari está consciente – intermitentemente – de que “o aperfeiçoamento das pessoas saudáveis é um projecto elitista” e que é provável que o fosso entre ricos e pobres no domínio da saúde tenderá a aumentar. Mas nem tira daí a conclusão de que temos problemas mais prementes para resolver do que aumentar a longevidade, o QI ou o pénis de uma elite de privilegiados, nem dá qualquer pista sobre a forma de tornar acessíveis ao cidadão comum os anunciados (e previsivelmente caríssimos) “últimos gritos” da gerontologia e do retardamento do envelhecimento.
Contra o humanismo
Boa parte de Homo deus é consagrado a demolir o conceito de humanismo, isto é, a crença de que “a experiência humana é a fonte suprema de autoridade e de sentido” e de que, de acordo com as palavras de Wilhelm von Humboldt, o objectivo da existência será “transformar em sabedoria o maior número de experiências de vida” e que “a vida tem um único cume, o de se sentir integralmente tudo o que é humano”.

Wilhelm von Humboldt (1767-1835), filósofo e diplomata alemão, fundador da Universidade de Berlim
Harari começa por alinhar provas de que, no plano das sensações e das emoções, o homem não se diferencia assim tanto dos outros animais: “as nossas memórias, ilusões e pensamentos não existem numa qualquer área imaterial mais elevada. Em vez disso, são avalanches de sinais eléctricos disparados por milhões de neurónios” e acaba por concluir que o livre arbítrio humano – o alicerce fundamental do humanismo – é uma ilusão e que “tal como os ratos, também os humanos podem ser manipulados e que é possível, estimulando os locais certos do cérebro, criar ou eliminar até mesmo sentimentos complexos como o amor, a raiva, o medo e a depressão”.
Em resposta a René Descartes, que entendia que os animais, por não possuírem alma, não eram mais do que um mecanismo de carne e osso, Milan Kundera expôs, em A insustentável leveza do ser, uma admirável argumentação que ergue o animal acima da condição de machina animata cartesiana e o aproxima do homem. Também Harari aproxima o animal do humano, mas fá-lo rebaixando o homem à condição de machina animata.

René Descartes (1596-1650), a partir de um retrato realizado em 1648 por Frans Hals
Para Harari, o humanismo não passa de uma fábula conveniente que contamos a nós mesmos e que a consciência humana não é mais do que um pífio teatrinho electro-químico. Não há sublime, nem transcendência, apenas activação de centros de prazer (ou de dor) no cérebro, pelo que tanto faz que tal resulte de ouvir o Kyrie da Missa em si menor de Bach ou o último hit de Miley Cyrus, de contemplar O sepultamento de Cristo de Caravaggio ou o YouPorn, de ler As elegias de Duíno de Rilke ou o último thriller de José Rodrigues dos Santos, de degustar um jantar no Noma ou trincar um cheeseburger industrial. Os filósofos e poetas que têm repetidamente apresentado o amor e a arte como as únicas coisas que dão sentido à existência, estavam lamentavelmente equivocados: aquilo a que chamamos paixão amorosa e deleite estético são apenas uns fogachozitos neuronais, que não diferem por aí além daqueles que tremulam no cérebro de um papa-formigas quando insere a língua num formigueiro.
Também a angústia que um trabalhador sente ao ser despedido, a frustração que o adepto de futebol sente quando o seu clube perde, a saudade que o emigrante sente da família, o desespero do reformado que não consegue pagar as contas ou a dor que uma mãe experimenta pela morte de um filho não passam de fogos-fátuos electroquímicos. E uma vez que esta electroquímica é susceptível de manipulação, talvez se conseguirmos, mediante descargas ou moléculas adequadas, activar na mãe chorosa o centro de prazer correspondente à aquisição de uns sapatos Christian Louboutin, talvez ela se esqueça do filho morto.
Entregar o volante à máquina
Se o livre arbítrio é uma ilusão, a democracia é um equívoco – as escolhas dos eleitores são mal informadas e influenciadas por factores externos ao real valor dos candidatos e dos seus programas – e o mesmo se passa com o mercado livre – o consumidor tem escasso discernimento e é facilmente orientado para escolhas que não são racionais, económicas ou saudáveis. Escreve Harari que o liberalismo (entendido no sentido político que tem nos EUA, não no sentido económico que tem na Europa), “consagra o ser narrador e permute-lhe fazer as suas escolhas nas urnas, nos supermercados e no mercado das relações amorosas […] Porém, a partir do momento em que há um sistema que me conhece realmente melhor, seria imprudente entregar a autoridade ao ser narrador”.
Esse “sistema” mirífico resulta da combinação de sofisticadíssimos algoritmos de tomada de decisão que operam a partir de uma quantidade colossal de informação sobre cada um de nós, coligida a partir do cruzamento de dados dos nossos cartões bancários, das nossas contas de Twitter e Facebook, do nosso histórico de navegação na internet, do historial das nossas deslocações registado pelo GPS, do historial das nossas leituras registado pelo Kindle, do historial das nossas audições registado pelo Spotify, bem como dos incontáveis gadgets capazes de registar, segundo a segundo, as nossas funções vitais, o nosso desempenho sexual, a actividade eléctrica do nosso cérebro e todo o tipo de informação biométrica.
[Mais um passo para a quantificação e monitorização da vida: o LifeLoversWatch, da GeeksMe inclui a função G!love, que contabiliza a duração e intensidade do acto sexual (incluindo as calorias queimadas no processo)]
Parece razoável que um condutor humano reconheça que o seu instinto e experiência são piores a avaliar as condições de tráfego do que a Waze (uma app de navegação rodoviária) e que deverá confiar nela quando indica que poupará tempo se virar à esquerda na próxima rotunda
[Waze: adeus aos engarrafamentos?]
Para quem não retira prazer do acto de conduzir um automóvel, também parece aceitável a ideia de prescindir de conduzir e deixar que o Waymo, o carro autónomo desenvolvido pela Google (ou um seu equivalente) o leve de regresso a casa, pois tudo indica que rapidamente irá provar ser mais seguro do que um condutor humano – e a sua segurança aumentará quando os veículos autónomos se tornarem dominantes nas ruas e estradas e estiverem ligados em rede.
[O Waymo]
Mas o que Harari defende é bem mais radical: como o “sistema” também é mais eficaz do que nós a escolher a que tipo de restaurante devemos ir jantar esta noite ou que namorado/a mais nos convém, também deveremos confiar-lhe essas decisões, de forma a, supostamente, maximizar a nossa felicidade.
Mais uma vez, Harari não tira todas as ilações das suas conclusões: se a máquina é mais eficaz na escolha de algo tão importante e subjectivo como uma nova relação amorosa, então é-o também em tudo o mais, pelo que podemos delegar nela todas as escolhas do nosso quotidiano: calças ou saia, cor da gravata, ir jogar ténis ou ficar em casa a ver Walking Dead, férias na praia ou no campo, ir na rua pelo lado do sol ou da sombra, comer uma laranja ou uma maçã, tomar um café curto ou normal, em chávena fria ou escaldada, fazer ioga ou aprender danças de salão, visitar Roma ou Londres. Ora, se viver é escolher fazer uma coisa em vez de outra, o que sobra então da vida de quem entrega as decisões aos sapientíssimos algoritmos?
O homem como um pistão de órgão
Bem antes de se sonhar com smartphones e apps, Dostoievsky anteviu a capciosa argumentação de Harari com inquietante precisão em Memórias do subterrâneo, publicado em 1864: “a própria ciência ensinará ao homem […] que, na verdade, não tem nem nunca teve vontade, nem capricho, e que ele próprio não é mais do que uma espécie de tecla de piano ou pistão de órgão, e que, além disso, ainda existem no mundo as leis da natureza; de modo que tudo o que ele faz é feito não por sua vontade, mas por si mesmo, segundo as leis da natureza. Por conseguinte, basta descobrir essas leis da natureza e o homem já não terá de responder pelos seus actos e para ele será extremamente fácil viver. Todos os actos humanos serão, pois, avaliados segundo essas leis, matematicamente, como uma tábua de logaritmos, até 108.000, e incluídos num almanaque; ou, melhor ainda, aparecerão algumas edições bem-intencionadas, como os actuais dicionários enciclopédicos, onde tudo está calculado e enunciado com tanta precisão que já não haverá no mundo nem procedimentos nem aventuras”.
Mas o narrador de Memórias do subterrâneo insurge-se contra esta perspectiva: “Não é de dar um pontapé em todo este bom senso […], mandar para o diabo todos esses logaritmos e voltarmos a viver segundo a nossa estúpida vontade? […] O homem, sempre e em toda a parte, fosse ele quem fosse, gostou de agir como queria, e nunca como lho mandava a razão e a vantagem; podemos querer contra a nossa própria vantagem, e por vezes isso é até positivamente necessário […] A nossa própria vontade, independente e livre, o nosso próprio capricho, por mais absurdo, a nossa fantasia, por vezes mesmo excitada até à loucura – tal é a mais vantajosa das vantagens, que é omitida, que não cabe em nenhuma classificação e devido à qual todos os sistemas e teorias vão constantemente para o diabo”.

Fyodor Dostoievsky em 1863, em Paris
O discurso torrencial e inflamado de defesa do livre-arbítrio prossegue, como se Dostoievsky replicasse directamente a Harari: “E onde foram todos esses sábios desencantar a ideia de que o homem precisa de uma qualquer vontade normal, virtuosa? […] O homem necessita apenas de uma vontade independente, custe essa independência o que custar e leve aonde levar […] E que interessa desejar pela tabela? […] O que é o homem sem desejos, sem vontade e sem querer, senão um pistão de órgão?”.
Mais adiante reivindica “o direito de desejar para si até coisas estúpidas e não estar limitado pela obrigação de desejar apenas coisas inteligentes. Porque essa coisa estúpida, esse capricho […] pode ser a mais vantajosa de todas as vantagens […] porque preserva o mais importante e mais valioso, isto é, a nossa personalidade e a nossa individualidade”.

Fyodor Dostoievsky em 1872, por Vasily Petrov
O que significa, afinal, estar vivo?
A perspectiva de Harari é um materialismo tão radical que se confunde com o cinismo e o nihilismo. Mas, se extrapolarmos a sua argumentação, podemos perguntar-nos: se todas as sensações e emoções e estados de espírito se resumem a reacções electro-químicas no cérebro e se a nossa consciência é apenas uma ficção que contamos a nós mesmos, de que serve vivermos, possuirmos e comandarmos um corpo, viajarmos, interagirmos com outros humanos? Poderemos ser mais felizes se formos apenas um cérebro dentro de um contentor de plástico com uma solução salina, a que foram implantados eléctrodos nos locais apropriados e que, através de uma adequada sequência de descargas eléctricas, controladas por um sofisticado programa de computador, nos produz a ilusão de viver a mais opulenta, excitante e plena das vidas. Desfrutaremos da vida sexual de quem possui os atributos e a resistência de uma estrela do cinema porno e o harém de um sultão ao seu dispor; faremos bungee jumping no Grand Canyon do Colorado sem risco de nos esborracharmos; nadaremos em águas opalinas entre tubarões-tigre sem perigo de nos convertermos na sua refeição; regalar-nos-emos todos os dias com os mais requintados pratos gourmet sem ter de pensar nas consequências para a nossa carteira ou para as nossas artérias; frequentaremos as festas mais animadas, dançaremos a noite toda e brindaremos com vinhos e champanhes vintage sem ter de pagar o preço da ressaca; e em vez de vivermos a excitação do futebol por interposta pessoa, talvez possa reproduzir-se (uma vez por semana, que é para não enjoar) a sensação que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi experimentam quando marcam o golo decisivo no último minuto do jogo decisivo do campeonato.
Há décadas que a ficção científica explora o universo da realidade simulada, ou seja a possibilidade de, através de manipulações genéticas, drogas ou interfaces cibernéticos, ser possível à mente humana viver sofisticadas experiências artificiais (mas completamente indistinguíveis das reais) durante dias a fio (ou durante minutos que são percepcionados como dias a fio), enquanto estão deitados num quarto escuro – entre muitos exemplos possíveis, temos os filmes da série Matrix ou o romance Os três estigmas de Palmer Eldritch, de Philip K. Dick.
[Há quem acredite que aquilo que julgamos ser o universo é uma realidade simulada por uma inteligência artificial. Donald Trump como presidente dos EUA e a vitória de Portugal no Festival da Eurovisão poderão ser lidos como indícios de que o que o “guionista” desta realidade simulada foi longe de mais?]
Mas, se seguirmos o raciocínio de Harari, podemos dispensar uma existência dupla e o fardo de um corpo propenso a avarias. Viveremos a vida de nababos ociosos e caprichosos, mas como cérebros em salmoura, com a vantagem de termos uma pegada de carbono mínima, pois deixarão de ser necessários aviões, aeroportos, automóveis, estradas, estádios, discotecas, mansões, lojas Louis Vuitton, piscinas, iates, sunset parties: toda esta humanidade feliz será economicamente acondicionada em contentores de plástico, metodicamente empilhados em armazéns com temperatura e humidade controladas. Ou poderemos converter aquilo a que chamamos a nossa consciência individual em alguns Terabytes de informação e fazer o seu upload para o disco rígido de um computador ou para a “nuvem” (Kurzweil vaticina que a tecnologia para esta operação estará disponível em 2040) e passaremos a existir apenas como 0s e 1s e não seremos atormentados pelo reumático nem ganharemos rugas e seremos eternos (desde que ninguém desligue a corrente).
Quando se atinge este patamar de insensatez, há que convocar mais uma vez um poema pleno de sabedoria, neste caso “Eterno”, de Carlos Drummond de Andrade: “E como ficou chato ser moderno./ Agora serei eterno./ Eterno! Eterno!/ O Padre Eterno,/ a vida eterna,/ o fogo eterno./ (Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie.)/ O que é eterno, Yayá Lindinha?/ Ingrato! é o amor que te tenho./ Eternalidade eternite eternaltivamente/ eternuávamos/ eternissíssimo/ A cada instante se criam novas categorias do eterno./ Eterna é a flor que se fana/ se soube florir/ é o menino recém-nascido/ antes que lhe dêem nome e lhe comuniquem o sentimento do efêmero/ é o gesto de enlaçar e beijar/ na visita do amor às almas/ eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo/ mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força o resgata/ é minha mãe em mim que a estou pensando/ de tanto que a perdi de não pensá-la/ é o que se pensa em nós se estamos loucos/ é tudo que passou, porque passou/ é tudo que não passa, pois não houve/ eternas as palavras, eternos os pensamentos; e passageiras as obras./ Eterno, mas até quando? é esse marulho em nós de um mar profundo./ Naufragamos sem praia; e na solidão dos botos afundamos./ É tentação a vertigem; e também a pirueta dos ébrios./ Eternos! Eternos, miseravelmente./ O relógio no pulso é nosso confidente”.

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) estava longe de poder adivinhar quão informado sobre a nossa vida íntima ficaria o nosso relógio de pulso em 2017
O profeta tonto
A mensagem central de Homo deus é a de que os humanos estão no limiar de poderem tornar-se eternos e divinos. Porém, Harari gasta a maior parte do livro a demonstrar que afinal não há nada que indique que a consciência e as sensações experimentadas pelos humanos são mais valiosas ou mais dignas de apreço que as das toupeiras ou dos morcegos. Ora, se somos tão irrisórios, falíveis e propensos à ilusão e tão pouco diferentes dos restantes animais, se não somos mais do que algoritmos biológicos, porquê então ter a aspiração de conquistar a imortalidade e nos tornarmos deuses? Se a consciência humana não é mais do que electroquímica e não existem diferenças apreciáveis entre os processos que decorrem quando um rato rói um bocado de queijo, Romeu beija Julieta pela primeira vez ou o compositor remata o derradeiro compasso da sinfonia, então porquê empenhar tantos recursos em proporcionar-nos prazeres e vida eterna? Se Harari está firmemente convicto de que o humanismo é uma falácia, que lhe interessa a ele o destino da humanidade, porque se empenha em apontar um destino divino ao homem?
Harari não dá mostras de estar consciente desta contradição, nem das muitas outras que enxameiam Homo deus. O livro tem momentos de grande erudição e brilhantismo intelectual, aborda temáticas candentes com desassombro e faz análises originais e pertinentes, mas é, essencialmente, uma obra bipolar e sob uma capa de optimismo delirante oculta-se o receio de que as coisas possam não correr bem. A lucidez intermitente e os raciocínios inconsequentes de Harari tanto nos prometem a divindade resplendecente como um futuro distópico, sombrio e miserável.
Por outro lado, à medida que Homo deus se aproxima do final, percebe-se que as pistas lançadas por Harari não conduzem a lugar algum e que o autor não tem a mais vaga ideia sobre a forma de concretizar, técnica e financeiramente, os propósitos grandiloquentes de fazer a humanidade alcançar a eternidade e a divindade – nem sequer chega a saber-se o que entende ele por um estado de divindade. As proclamações grandiloquentes de Harari assentam em ideias vagas, conversa fiada, especulações e devaneios e boa parte do livro não é mais do que uma dilatação de “O fim do Homo sapiens”, o último e débil capítulo de Sapiens: História breve da humanidade.
Depois de atravessar estas 450 páginas escritas por uma inteligência de uma frieza glacial, mas pouco vigiada, a ideia que acaba por impor-se ao leitor vai ao arrepio da proclamação do autor: neste início do século XXI, o desafio que se nos põe não é o de nos convertermos em deuses, é sabermos preservar a nossa humanidade na era digital.
[Coro “O Ewigkeit, du Donnerwort” (Oh eternidade, palavra atroadora), da Cantata O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 20 de Johann Sebastian Bach, pelo Monteverdi Choir e The English Baroque Soloists, com direcção de John Eliot Gardiner]
https://youtu.be/jKBOGID33lI
















