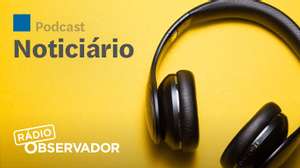No dia 14 de junho deste ano de 2024, em torno de Marienfeld, na Alemanha, milhares de pessoas aglomeraram-se ao longo da estrada ou junto a um hotel. Empunhavam bandeiras de Portugal, vestiam camisolas com as cores da sua selecção e até um grupo se apresentou vestido a preceito com as vestes de um rancho folclórico. A quase totalidade dessa multidão não vive em Portugal e muitos deles nem nasceram no país, mas continuam a sentir-se portugueses e, por isso, gastaram o dia para aclamar a selecção que os representa no campeonato da Europa de futebol em curso. As imagens de Marienfeld vão repetir-se nos dias dos jogos, por todo o país e em muitos núcleos de emigrantes. O povo gosta de futebol e o povo tem um profundo sentimento de portugalidade, que, em regra, ainda ganha mais força quando se vive longe do país.

Curiosamente, há 900 anos Portugal estava a ser criado por uma elite de magnates e de clérigos, que vislumbravam uma entidade própria entre os rios Minho e Mondego, embora falassem então a mesma língua dos seus vizinhos galegos. O povo que habitava o condado portucalense, tinha vínculo à sua vila ou cidade, ou ao vale ou à planura em que habitava e apenas sobrevivia; sabiam que pertenciam a um município ou que eram súbditos de um rico-homem, de um abade ou de um bispo; talvez soubessem pronunciar o nome do conde ou mesmo do rei, mas a maior parte das pessoas nunca os viu. Portugal foi, de facto, inventado por uma elite, que, em menos de dois séculos definiu o território peninsular do reino. O Tratado de Alcanizes, assinado em 1297, definiu a fronteira portuguesa e nas décadas seguintes a monarquia deu voz ao povo.
Ensina-nos a História que, em regra, as elites (sejam sociais, económicas ou mesmo intelectuais) são apátridas, e logo no início do século XIII, aquando da subida ao trono de D. Afonso II, a monarquia portuguesa esteve em risco pelo facto de muitos dos magnates que haviam servido D. Sancho I terem preferido colocar-se ao serviço do poderoso Afonso IX de Leão, em vez de porfiarem sob o frágil D. Afonso II de Portugal. Os ricos-homens do século XIV repetiram esse comportamento quando a dinastia entrou em crise, à morte de D. Fernando, em 1383. Nessa altura, porém, os antepassados dos que hoje empunham bandeiras nos estádios ou em torno de um autocarro, mostraram que a ideia de Portugal e que a vontade de ser português já animava a maioria da população do reino. Em 1295, o rei D. Dinis havia oficializado a língua portuguesa, como a escrita administrativa do reino e Alcanizes criou um facto político-linguístico sui generis, ao dar azo à formação de um estado-língua. Mais nenhuma formação política desse tempo agrupava todos os falantes de uma única língua. A prática de reunir cortes regularmente com a presença dos representantes dos concelhos contribuiu decisivamente para que vilas e cidades do reino se conhecessem e estabelecessem fortes laços de solidariedade.
Em 1383, o povo encheu as ruas de Lisboa em defesa do Mestre de Avis; sabemos que a populaça foi enganada, pois os conspiradores fizeram correr o boato de que o conde Andeiro queria matar o Mestre, quando sucedia precisamente o contrário. Assassinado o conde, D. João, mestre de Avis, foi envolvido pelo povo e escapou a qualquer tentativa de reacção de D. Leonor Teles e dos seus apaniguados. Entretanto, de norte a sul repetiam-se as manifestações de contestação à realeza de D. Beatriz e de seu marido o rei João I de Castela. Nessa época não havia redes sociais, tampouco telefones ou rádios; quer isto dizer, que as manifestações que varreram o país de lés a lés foram espontâneas e mostraram uma verdadeira vontade colectiva de não querer que o reino se tornasse numa parte de Castela. Muitos magnates perderam a vida nessas altercações porque defenderam a legalidade institucional, incapazes de perceber a vontade nacional.
A lição da crise de 1383-1385, com a demonstração de que a nação é o povo, repetiu-se noutras ocasiões, como naquela gélida madrugada de 20 de janeiro de 1554, em que o Terreiro do Paço se encheu de gente que seguia angustiada o parto da princesa, já viúva; era a continuidade dinástica que estava em causa e o nascimento de D. Sebastião foi festejado com júbilo; o mesmo Terreiro do Paço celebrou o golpe de 1 de dezembro de 1640 e aí aclamou o novo rei passados poucos dias. Tal como sucedera em 1383, neste ano de 1640 uma parte da elite portuguesa ficou em Madrid, mas os conjurados souberam interpretar a vontade do povo e arriscaram as suas vidas em busca de um destino glorioso para si, estribado numa vontade colectiva. E, de facto, a aclamação por D. João IV foi um novo momento de unidade popular em torno da ideia de Portugal. O novo rei só teve de enviar cartas a todas as localidades do país e do império e não foi preciso disparar um tiro, desde que a duquesa de Mântua foi detida e Miguel de Vasconcelos defenestrado. Não há notícia de hesitações, nem mesmo nas localidades fronteiriças que ficavam de imediato expostas aos ataques espanhóis. E se o aumento de impostos decretado por Madrid tinha levado às revoltas de 1637, o maior aumento de impostos decretado por D. João IV foi acatado pela população, que viria a suportar uma guerra de 28 anos sem fraquejar no apoio à causa independentista.
O mesmo sucedeu nos territórios ultramarinos, pois mesmo das zonas ocupadas pelos neerlandeses no Nordeste brasileiro, logo soaram vozes de apoio e de fidelidade à nova dinastia. Quando a notícia chegou a Goa, no início de setembro de 1641, o vice-rei hesitou, mas a notícia transpirou para a rua e o povo obrigou-o a proclamar a restauração da independência. A maior parte desses portugueses nunca tinham estado em Portugal e haviam nascido depois da integração do reino na monarquia dos Áustrias. Um ano depois, Macau também proclamou a nova dinastia, apesar de isso significar o rompimento com Manila, depois de terem perdido o comércio do Japão (1639), de Malaca ter sido conquistada pelos neerlandeses (1641) e de a dinastia Ming estar prestes a soçobrar sob a invasão manchu. Nesta conjuntura muito adversa, os portugueses de Macau assumiram a sua portugalidade, indiferentes a todos os riscos.
O conceito de estado-nação afirmou-se na Europa durante o século XIX, quando os velhos impérios foram perdendo capacidade agregadora e os povos que tinham mudado de senhor inúmeras vezes procuraram, finalmente afirmar politicamente as suas identidades. Portugal, contudo, tinha a sua fronteira estabilizada desde o final do século XIII e tinha percorrido a sucessão dos séculos tendo apenas um vizinho que, as mais das vezes, o respeitava mesmo que o cobiçasse. Por isso, a ideia de estado-nação formou-se em Portugal muito mais cedo do que no resto da Europa.
Tinha, aliás, voltado a manifestar-se na sua pujança, na primavera de 1808, quando todo o país se revoltou quase em simultâneo contra as forças ocupantes de Junot, o que levou o general francês a dar ordem de reagrupamento ao seu exército disperso, o que não evitou as derrotas nas batalhas de Roliça e do Vimeiro, a 17 e 21 de agosto. Passada a invasão francesa, impedida a hegemonia do Brasil, que condenava Portugal a um estatuto de dependência (na forma de um vice-reinado), Portugal não foi ameaçado na sua existência nos últimos 200 anos, período em que o mapa da Europa se fez e refez continuamente até aos nossos dias.
Talvez por isso, o sentimento pátrio parece muitas vezes esmorecido, ou mesmo como se fosse uma coisa do passado, sobretudo entre as elites endinheiradas ou bem-pensantes, que se movem em redes internacionais e que não percebem o povo. No entanto, tudo muda se a vida nos atira para fora do país; então, a saudade logo aviva a pertença e o orgulho pelas origens. E quando o desporto-rei entra em competição, o povo sai à rua, sem ter de lutar como em 1383, em 1640 ou em 1808, mas proclamando o mesmo vínculo entranhado e inexplicável de ser português.