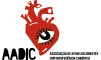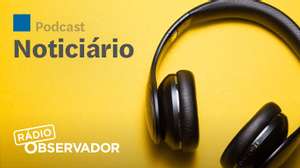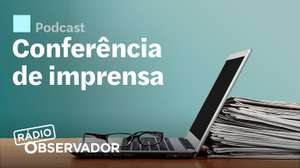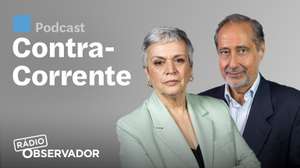É indiscutível a parte das doenças cérebro-cardiovasculares na mortalidade nacional e mundial: em Portugal, as doenças do aparelho circulatório representaram, em 2022, 26,5% do total de óbitos, valor ligeiramente inferior à estimativa para o globo (30%). Estão aqui incluídas, com elevada representatividade, a doença cardíaca coronária e a cerebrovascular; em valores inferiores, a doença arterial periférica, a reumática do coração, a cardíaca congénita, a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar.
Isto contabiliza cerca de 35 mil óbitos atribuíveis, em Portugal, a estas causas. No globo, terão sido 17,3 milhões em 2008, estimando-se uma subida para 23,3 milhões em 2030. A tendência nacional tem sido a de descida da mortalidade proporcional destas doenças, de 44-45% nos anos oitenta do século passado, para 25-26% na década atual, ainda assim à frente da mortalidade por tumores malignos, 22%. Quando se ajustam as nossas taxas por uma população tipo, menos envelhecida que a nossa (padronização), os valores são menos marcados e a descida menos acentuada.
Os progressos alcançados, medidos em redução da mortalidade, anos de vida livres de doença, qualidade de vida para doentes e familiares e rápida reinserção no circuito produtivo têm que ver com diversos fatores: efeitos da promoção da saúde e prevenção da doença, ou seja, da prevenção primária, melhor qualidade no tratamento na fase aguda e melhor gestão global da doença. Sem esquecer a melhor qualidade do registo da causa de morte.
Os principais fatores de risco, nesta como em muitas doenças crónicas, são, em parte, não-controláveis: hereditariedade, sexo e idade. E, podem ser em parte passíveis de intervenção individual ou de saúde pública. É o caso da hipertensão, tabagismo, stress, obesidade, diabetes, dislipidemias, por exemplo. A intervenção individual depende da literacia, iniciativa e capacidade do doente, família e comunidade que o rodeia.
Já a intervenção comunitária ou de saúde pública é realizada através de programas públicos de promoção da saúde e prevenção da doença, que aconselham uma alimentação variada, equilibrada e completa, atividade física regular, controlo frequente do peso e da pressão arterial. Este é o papel da Direção-Geral da Saúde, através dos seus programas específicos.
A qualidade do tratamento e recuperação dependem da prontidão, adequação, eficácia e qualidade dos serviços clínicos acessíveis a que o doente recorre, tanto em cuidados de saúde primários, pelo seu médico de família, como em cuidados hospitalares e de reabilitação. Mas, também, do reconhecimento rápido dos sinais da doença, da adesão do paciente à intervenção, terapêutica e reabilitação e da disponibilidade de meios de tratamento.
A gestão global deste conjunto de doenças está dependente de circunstâncias ainda pouco reconhecidas e pouco exploradas: elevada iliteracia, relutância natural do doente em reconhecer e conviver com a sua doença, escassez de meios para prevenção primária através da promoção dos fatores de manutenção da saúde, dificuldade e controlo oportuno e eficaz dos fatores de risco, por serem ainda escassos os exemplos de bem articulada prevenção secundária. Esta permite o acompanhamento regular pelo SNS do doente, desde o diagnóstico inicial até à reabilitação, em sistema de rede, integrando os cuidados hospitalares a que recorreu na fase aguda e os cuidados de saúde primários, de proximidade, a que deve aceder de forma fluente e facilitada.
Existem entre nós notáveis exemplos de excelente prevenção secundária: na doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), o doente não é “largado” na natureza após o contacto hospitalar, sendo acompanhado através de frequentes marcações de consultas e exames subsequentes. O mesmo se passará em serviços de oncologia, de tratamento da diabetes e outras doenças metabólicas. Talvez também no caso das doenças cérebro-cardiovasculares. O problema é que estamos a usar meios desproporcionados e descoordenados: consultas hospitalares subsequentes ocupam tempo e espaço que escasseiam para primeiras consultas de novos doentes.
Em cada episódio agudo, o doente continua perdido no sistema que o “largou” de mão, tendo de recorrer à via-sacra das urgências hospitalares com todo o cortejo de desperdício de recursos, desconforto e incómodos para quem se tornou de novo anónimo. Razões de sobra para que estes doentes sejam inseridos numa rede combinada ou articulada entre hospitais e centros de saúde. A burocracia hoje vence-se digitalmente, de forma rápida e eficaz. Falta, todavia, uma coisa aparentemente simples: a articulação entre organizações verticalizadas pela história e pelo preconceito.
A criação e bom funcionamento desta rede poderia ser impulsionada através de Clubes de Doentes Frequentes, instalados nos centros de saúde ou na sua proximidade, onde os doentes portadores de doença crónica e sob controlo se encontrassem com regularidade, em ambiente tanto quanto possível aprazível, ajudados por rececionistas que assegurassem o bom diálogo entre o centro de saúde e os seus médicos de família e o hospital de agudos, a que seja necessário recorrer episodicamente. A administração do sistema, a sua burocracia, estarão na comunidade e não no hospital.
A filtragem do recurso excecional ao especialista seria gerida pelo médico de família que asseguraria também as consultas de manutenção em colaboração direta com o colega do hospital. Os municípios e as freguesias teriam aqui a função de criar, equipar e animar os clubes, no âmbito das suas funções de proximidade às famílias e comunidades. Todos estes recursos já existem. O que falta? Falta organizá-los.
António Correia de Campos é professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Foi por duas vezes ministro da Saúde.
Arterial é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com doenças cérebro-cardiovasculares. Resulta de uma parceria com a Novartis e tem a colaboração da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, da Portugal AVC, da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É um conteúdo editorial completamente independente.
Uma parceria com:

Com a colaboração de: