Título: Butcher’s Crossing
Autor: John Williams (tradução de J. Teixeira Aguilar)
Editora: Dom Quixote
Páginas: 304 páginas
Preço: 16,11€
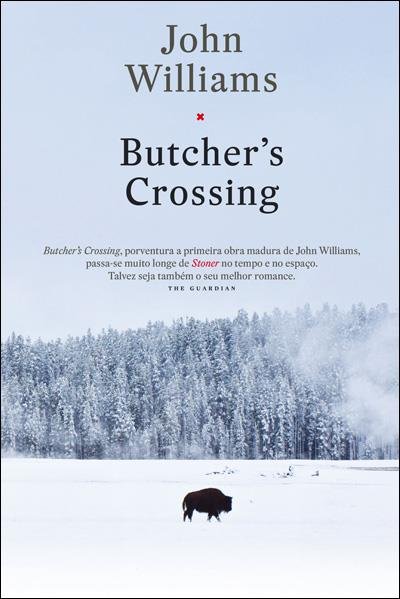
O que leva alguém a abdicar da sorte? O que leva uma pessoa a abandonar voluntariamente uma posição vantajosa por uma via árdua, sem garantias, desconhecida? Insensatez, responderá um cínico. “Aborrecimento” talvez não seja uma resposta pior. Pode ainda ser-se guiado pelo sentimento de que se é especial. Joseph Conrad ensaiou uma resposta porém mais elegante, que acomoda as anteriores: a juventude.
“Os últimos dezoito meses, preenchidos por várias novas experiências, afiguravam-se-me como um monótono e prosaico desperdício de dias”, escreveu em 1915, para explicar por que abandonara em tempos a posição de imediato de um navio rico da marinha de comércio. “Sentia — como dizê-lo? — não haver qualquer verdade a extrair desses dias. Que verdade? Teria sido difícil fazerem-me explicá-lo. Provavelmente, se me pressionassem, ter-me-ia desfeito em lágrimas e pronto. Era jovem o suficiente para isso” (The Shadow Line, 1916, trad. minha). Renunciar à bonança por se achar que nela “não [há] qualquer verdade a extrair” — que extraordinária noção. Parte desta premissa conradiana inconfundível o romance Butcher’s Crossing (1960), primeiro de uma, digamos, trilogia do norte-americano John Williams, continuada por Stoner (1965) e Augustus (1972).
William Andrews recebe uma pequena herança. Em parte, para “[dar com] o dinheiro em pantanas” (p. 275), e inspirado, em parte, pelas palestras de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), decide virar as costas a Harvard e perseguir o apelo da Natureza, cerca de 1873. “Sentia que, onde quer que vivesse, estava a abandonar cada vez mais a cidade, a afastar-se rumo à terra bravia. Sentia que era esse o sentido fulcral que podia encontrar na vida” (p. 56). Ao invés de Thoreau o qual, para escrever Walden (1854), não se afastara demasiado, Will parece disposto a perder-se. Parte para Oeste com intenções improferíveis, ou que não seriam bem entendidas: “encontrar, como numa visão, o seu eu inalterável”, “uma forma mais verdadeira do seu ser” (p. 300). Intenções para as quais arranja por isso um “estratagema” (55). Uma caçada. Sem a menor ideia do lugar para que este plano o encaminhava, é conduzido a Butcher’s Crossing, algures no Kansas, presumível paradeiro de “um tal J.D. McDonald” (p. 15), o seu único contacto para lá do Massachussetts. Instado por este a explicar-se, vemo-lo — como ao jovem Conrad — titubear:
“Tentou formular o que tinha para dizer a McDonald. Era um sentimento; era uma ânsia da qual tinha de falar. Porém, dissesse o que dissesse, sabia que seria apenas outro nome para a terra bravia que procurava. Era uma liberdade e uma bondade, uma esperança e um vigor (…) subjacentes a todas as coisas habituais da vida, que não eram livres nem boas nem esperançosas nem vigorosas. (…) — Vim até aqui para ver o mais que possa da região. (…) Quero conhecê-la. É uma coisa que tenho de fazer.” (pp. 24-25)
“A juventude”, comenta McDonald nessa altura, a lembrar o refrão de uma outra novela de Conrad, Youth (1898): “Não sabe o que fazer à vida” (p. 25).
“A juventude”, resmunga nas últimas páginas: “Sempre a querer começar do zero” (p. 275). (O livro tem, a propósito, uma estrutura simétrica quase imperturbada.) Por seu intermédio, Will contrata então os homens certos para escoltar a sua autodescoberta: Miller, um caçador calejado que sonhava retornar a um desfiladeiro perdido nas Montanhas Rochosas do Colorado, para lá do qual supostamente avistara, havia pelo menos dez anos, manadas de búfalos a perder de vista; e ainda Charley Hoge e Fred Schneider, os quais aceitam tornar-se personagens do sonho de Miller não sem manifesta relutância, por contraste aliás com a credulidade quase solícita de Will. Contraste que, sem uma palavra, transforma o seu breve contacto com um Emerson tardio no prenúncio de um padrão: o de se deixar levar pelos sonhos de um velho. Não deixa de ser irónico, de facto, que um impulso de auto-soberania (que o próprio vê como um imperativo pessoal genuíno: “É uma coisa que tenho de fazer”, p. 25) denote uma conduta heterónoma. “Faça o que o Miller lhe disser”, adverte McDonald antes de partirem, assinalando a como que requerida heteronomia da determinação da juventude: “Ele pode ser um filho da mãe, mas conhece a região; dê-lhe ouvidos e não se convença de que sabe o que quer que seja”, p. 54.)
Um precursor de Cormac McCarthy
Maiusculado, o diminutivo “Will” (em que, por razões explicadas adiante, é mais que provável encontrarmos uma refracção do nome “Williams”) não deixa de sugerir, por outro lado, na figura do protagonista, a Força de Vontade personificada. Com efeito, a natureza e mesmo a legitimidade dos fins e da determinação de cada indivíduo para os alcançar é um dos tópicos centrais de Butcher’s Crossing — o da linha ténue e frequentemente difusa que separa a seriedade de propósitos de ser-se movido por uma fixação. São dignos de nota, a este respeito, ao longo do trajecto, encontros ocasionais com outros grupos de viajantes, em cuja firmeza de propósitos detectam óbvias formas de cegueira e imbecilidade (por exemplo: uma família do Ohio que se recusa a fazer um curto desvio para dar descanso a uma mula moribunda, erro que provavelmente lhes custará muito caro, pp. 95-96); cegueira e imbecilidade que os próprios — em particular, Miller, que lidera a expedição — são todavia incapazes de admitir, ou mesmo identificar, nas suas próprias acções (por exemplo: para ganhar uma semana, atravessam uma ampla região sem água, na qual momentaneamente se perdem, o que — prefigurando sarilhos por vir — por pouco não lhes custa a vida, pp. 99-132). Determinação a que os constrangimentos do território, uma “terra bravia” e, na prática, sem lei, emprestam um interesse humano e filosófico — e, já agora, histórico — redobrado. Apesar de a fundação do Kansas remontar a 1861, o território do Colorado, no qual tem lugar toda a Segunda Parte (a saber, cerca de três quartos) do livro, só veio a ser anexado em 1876, atravessando, no período abrangido pela acção, e em nítido paralelo com a vida do protagonista, as últimas estações de uma transição. Aspecto nada secundário, já que o sucesso moral dos expedicionários acabará por ser julgado em relação a transformações económicas e políticas da região — transformações que se vão operando em pano de fundo, sem aviso, independentemente do seu conhecimento e das suas acções. (Uma nota lateral: que formidável imagem do luxo da juventude: andar perdido para lá das montanhas do Colorado enquanto a vida em geral continua — dura, comum, ininterrupta.)
Uma das qualidades do livro, levando a que John Williams, do qual poucos se lembravam até há bem pouco tempo, seja hoje considerado um precursor de Cormac McCarthy, é a sua visão implacável da carnificina inerente à ocupação do Oeste norte-americano. Inscrita, desde logo, no título Butcher’s Crossing — numa tradução desengonçada: a Encruzilhada do Carniceiro, título que deve ser lido como uma definição de “civilização” — esta crítica dos Estados Unidos vai sendo evocada pelos constantes vestígios de violência e matança ao longo da paisagem. Mediante a narração desencantada da expulsão (e extermínio) dos índios americanos dos seus territórios de origem à quase completa extinção, em poucos anos, de certas espécies animais, em nome do lucro sem escrúpulos procurado pelo negócio das peles, John Williams vai alimentando, na figura de Miller (ou melhor: no modo como no-lo apresenta através da admiração de Will pelo caçador escrupuloso), uma imagem idealizada da caçada virtuosa. Pode ser que a isso se devam até certo ponto as descrições habituais de Butcher’s Crossing como um “anti-Western” ou “Western revisionista”, ou mesmo a ideia de que se trata de um romance anti-capitalista. Porventura para desencorajar leituras dentro deste espírito, Williams sempre rejeitou que a palavra “Western” fosse impressa na capa do livro. E talvez alimente a fantasia (pseudo-Emersoniana) de uma caçada virtuosa apenas para, nas páginas seguintes, a reduzir a pó.
Descrevendo com paciência e minúcia inquebrantáveis a forma como numa questão de semanas Miller reduz, friamente, single-handedly, com o auxílio de uma espingarda, a escassas centenas de “búfalos” (o editor adverte-nos que são, realmente, “bisontes americanos”, p. 22), as quase cinco mil cabeças com que havia deparado; e a maneira metódica como Will e Schneider as desmembram e esfolam, uma a uma, dia após dia, semana a semana, amontoando peles e carcaças — em muito maior número do que seriam capazes de transportar consigo — até que o processo se torna uma repetição vazia; descrevendo-o, dizia, quase fastidiosamente, banalizando assim a carnagem, como que realizando no leitor um simulacro do efeito da caçada nos caçadores, nenhuma noção humana de “escrúpulo” ou “justiça” sobrevive à visão de John Williams da desproporção de forças entre caçadores e presas. Fazendo jus à epígrafe de Emerson, Will Andrews parte em busca da Natureza — mas a única que encontra é a natureza humana; até que, fazendo jus à epígrafe de Melville, a Natureza o encontra a si. No entanto, a esse respeito, pecando já por avançar demasiada informação, a minha longa paráfrase de Butcher’s Crossing nada deve acrescentar.
Uma transformação gradual
Este livro não é um “Western” salvo no sentido trivial em que a acção decorre no “Velho Oeste”, antes sendo, fundamentalmente, como os romances de Williams mencionados, um Bildungsroman. Deles difere por se concentrar num período formativo muito circunscrito (cerca de um ano), que coincide com a transição de Will para a idade adulta, ou antes, para a autonomia moral. Poderíamos descrevê-lo como um livro acerca dos efeitos de uma viagem nos viajantes: de um género de viagem da qual não se regressa, como prevê Francine, a única personagem feminina de Butcher’s Crossing. “Sim, vai voltar; mas não será a mesma pessoa. Não será tão jovem; passará a ser como os outros” (p. 70). Tal como sucede, de modo porém lateral, com algumas personagens de Stoner sensivelmente na mesma posição (isto é, a posição de rapazes moldados pela Universidade), verifica-se com Will um endurecimento de carácter; endurecimento que vai sendo reiteradamente descrito como uma perda de identidade. “Apenas passarei a ser eu próprio!”, responde a Francine, sem a mais pequena ideia, aos vinte e três anos, do que significa “passar a ser eu próprio”.
Em Stoner, tal endurecimento de carácter resulta da sua (daqueles rapazes) passagem pela II Guerra Mundial, da qual regressam transfigurados: uma sombra de si mesmos, como se houvessem desaparecido; desaparecimento que, a longo prazo, se vai operando, sem que tenha ido à Guerra, no próprio William Stoner — podemos aí falar do efeito da Universidade nas pessoas que nunca saem de lá. A julgar por um análogo ambiente masculino de camaradagem, embate (e contínuo exame) de caracteres, e de cooperação na adversidade; e a julgar — por que não? — por um análogo rasto da carnificina, Butcher’s Crossing pode ser lido (de facto, como a novela de Conrad, The Shadow Line) como uma alegoria da experiência da guerra: mais concretamente, da II Guerra Mundial — e possivelmente dos efeitos desta nos Estados Unidos. (Williams esteve destacado na Birmânia e na Índia até 1945, assunto em que evitava tocar. “Julgo que a II Guerra Mundial brutalizou este país”, afirmaria numa entrevista de 1981 citada por Alan Pendergast: “as pessoas quase se acostumaram a que pessoas sejam mortas”. Vem a propósito notar que The Sleep of Reason, romance começado numa viagem a Portugal em 1976, e que deixou inacabado, seria sobre a guerra e falsificações em arte.) Em todo o caso, o que significa “passar a ser eu próprio” é a grande questão de Butcher’s Crossing, para a qual Williams elabora a tese contra-intuitiva — mas, a meu ver, profunda e verdadeira — de que tornarmo-nos na pessoa que somos implica uma forma de desaparecimento da pessoa que éramos numa dada altura: um desaparecimento indelével, se é que podemos dizê-lo assim.
À estratégia utilizada para o mostrar deve Williams a confusão habitual, perpetuada por Bret Easton Ellis, de que este livro é um “Western”: apenas, acontece que inclui todos ingredientes típicos de um “Western”. Mas o que, além do colorido ambiental, o autor nos apresenta de início como um (curto) elenco de personagens-tipo (o dono do único hotel, o empregado do único bar, o barbeiro local, o ganancioso negociante de peles, os figurantes de má rês, o filho da mãe de confiança, um alcoólico maneta sempre agarrado à sua Bíblia, a prostituta Francine, etc.), está na verdade ao serviço de uma gradual transformação, verdadeiro assunto do livro. Os tipos vão-se transformando em pessoas ao longo da história: desaparecendo enquanto tipos, vão adquirindo humanidade, ou seja, defeitos, qualidades intermédias, contradições, mudanças de direcção, etc; transformação que se opera no olhar de Will. Melhor exemplo não existe que o da transfiguração final de Francine — pela qual a de William Andrews se apreende. Antes a prostituta inconsútil, vemo-la então, pelos olhos transformados de Will (que desaparecera sem dar por isso na paisagem nevada do Colorado), capturada na sua vulnerabilidade individual: “surpreendida na fealdade do sono” (p. 300), como uma pessoa inteira. Clareza apenas possível uma vez esquecida a “força dessa outra paixão que o impelira a atravessar meio continente rumo a uma terra bravia onde sonhara poder encontrar, como numa visão, o seu eu inalterável” (idem). Numa frase, ele muda: desaparece; e só então é capaz de ver (os outros e a si mesmo) com clareza, sem essa cortina opaca a que os entendidos chamam “auto-imagem”. Ser capaz de ver assim as pessoas, e ser capaz de mostrar a importância de as ver desse modo, é a qualidade de raros escritores ensaiada neste romance — a acepção mais nobre da “despersonalização”.
Humberto Brito dirige a Forma de Vida. É actualmente pós-doc do Instituto de Filosofia da Nova e do Programa em Teoria da Literatura.















