Título: “O Pacto Donald”
Autor: Nuno Rogeiro
Editora: Dom Quixote
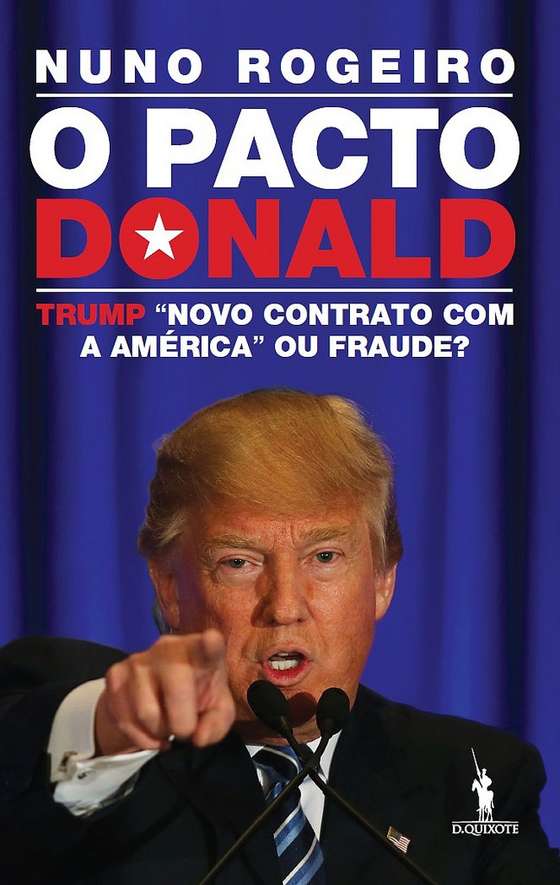
O subtítulo do novo livro de Nuno Rogeiro – “Trump: Novo contrato com a América ou fraude?” – evoca o “contrato com a América”, um documento muito “ideológico” do Partido Republicano durante a campanha das eleições legislativas de 1994. Um dos seus dois autores era Newt Gingrich; tinha um forte contributo das propostas da Heritage Foundation. O Partido Republicano obteve nessas eleições, pela primeira vez em quase 40 anos, a maioria dos lugares na Câmara dos Representantes e pela primeira vez em quase 50 a maioria dos votos. Tanto Gingrich como a Heritage estiveram agora ao lado da candidatura de Trump. A campanha do actual Presidente não saiu do nada nem existiu num vácuo. Um dos pontos fortes deste livro é chamar a atenção dos leitores – especialmente dos mais distraídos – para muitos aspectos da história política e da História dos Estados Unidos, e de um contexto, que muitas vezes se perdem de vista e levam a juízos precipitados (desde o teor muitas vezes soez da última campanha presidencial – que tem muitos e ilustres precedentes ali documentados – até etapas pouco conhecidas do curso da escravatura nos Estados Unidos, talvez marginais, temos de reconhecer, mas fora dos lugares comuns habituais).
A chamada “direita” do partido republicano moderno, muito variada, teve os seus momentos de entusiasmo nos últimos setenta e cinco anos. A voz da “maioria silenciosa” também se fez supostamente ouvir com Nixon (e se tentou fazer ouvir com o esquecido Barry Goldwater, cuja campanha proclamou, sem êxito, que in your heart you know he’s right) – e Reagan também anunciou que “nascia o dia” nos Estados Unidos. Toda a gente ouviu falar, mais recentemente, do chamado Tea Party e de Sarah Palin, que os meios de comunicação tão abundantemente ridicularizaram. Os relâmpagos anunciam o trovão. Mas no discurso de posse do Presidente Trump ecoava – paradoxalmente? – outra retórica: a do Franklin D. Roosevelt dos “homens esquecidos” e do new deal (outro “novo contrato”, que economicamente só com o motor da Segunda Guerra Mundial se cumpriu). Nada é simples.
Há coisas novas, no entanto, depois de oito anos de Obama-mania. “A Esquerda – gabou-se o cineasta Michael Moore – ganhou as guerras culturais”. (Por exemplo, diz ele: “Gays e lésbicas podem casar-se. Há hoje em dia uma maioria de americanos que assumem a posição liberal em praticamente todas as perguntas que são feitas nas sondagens: salário igual para as mulheres – está. O aborto deve ser legal – está. Leis ambientais mais fortes – está. Mais controlo das armas de fogo – está. Legalizem a marijuana – está. Deu-se uma gigantesca mudança – senão perguntem ao socialista que ganhou 22 estados este ano.” De passagem, veja-se neste elenco sumário de Moore a hábil amálgama de coisas cujo princípio ninguém discute e questões “fracturantes”: “salário igual para as mulheres” não está no mesmo plano de “o aborto deve ser legal”.) Talvez esteja ganha a batalha nos campus universitários – nem que seja à pedrada – nos media ditos de referência, nos círculos de Hollywood, na dominante opinião bem-pensante que se publica.
A possibilidade de que as “guerras culturais” não estejam tão definitivamente ganhas como parece e exista uma revolta cada vez mais espalhada contra a prepotência intelectual e institucional dos seus supostos vencedores é o que enerva sobremaneira a “Esquerda” no triunfo da candidatura presidencial de Trump. Trump não será a mais palatável encarnação dessa revolta – mas de certo modo representa-a no que tem de mais ameaçador para uma vitória “cultural” dada por adquirida. Por isso foi e está a ser recebido em certos sectores, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, com uma reação tão virulenta. Parafraseando a famosa declaração da Princesa Diana, they won’t go quietly. (Até a Suécia, meu Deus, a civilizada Suécia, em que um antigo Primeiro Ministro perguntou publicamente, a respeito de umas observações do Presidente americano, “que anda ele a fumar?”; Trump não respondeu, que eu saiba – mas o político sueco teve uma resposta eloquente a respeito de quem fuma o quê nos tumultos que menos de 48 horas depois puseram a ferro e fogo um bairro de Estocolmo.)
No seu livro O Pacto Donald (se me tivesse consultado teria aconselhado o Nuno a resistir à tentação deste trocadilho), em que “procura analisar as causas, profundas e visíveis, longínquas e próximas, provadas e prováveis, do triunfo de Donald Trump” e também algumas das suas possíveis consequências, Nuno Rogeiro deixou poucas pedras por levantar. Como nada do que tem a ver com a ciência política lhe é alheio, lembra a velha distinção de Charles Maurras entre “país real” e “país legal” hoje de novo tão ressonante nas sociedades democráticas em crise. E a referência às prevenções de Michael Moore não falta lá, assim como abunda uma quantidade torrencial de informações, testemunhos e referências bibliográficas e jornalísticas sobre as matérias do livro. Moore filmou em 2016 um documentário chamado “Trumpland” e de caminho não se cansou de avisar os ‘democratas’ das Five reasons why Trump will win (vale a pena ler na íntegra, no site do seu autor).
Os factos deram razão aos seus avisos. Moore não foi o único homem de esquerda a antever o êxito da candidatura “republicana” desde os tempos em que quase ninguém dava muito pelo candidato. Nuno Rogeiro lembra também, por exemplo, algumas intervenções do filósofo esloveno freudiano-marxista Slavo Sijsek (que se regozijou até, para pasmo do seu entrevistador do canal de televisão Al Jazeera, com o abanão que a vitória de Trump podia significar), ou de Noam Chomsky – velho routier da oposição ao “sistema” – que, curiosamente, perguntado se, em termos da segurança do mundo, não lhe metia medo a presidência de Trump, respondeu ao perplexo interlocutor que nessa matéria o único presidente americano que o tinha realmente assustado era John Kennedy. Num livro sempre interessante, informado e perspicaz (em que o autor talvez nos pudesse ter poupado o que em certos casos se afigura uma excessiva minúcia, mas nos pormenores é que está muitas vezes o diabo) destacam-se dois capítulos, sobre as sondagens e sobre o sistema constitucional da Federação Americana.
As sondagens são muitas vezes injustamente acusadas de não nos dar aquilo que, sobretudo em eleições apertadas, não podem nem pretendem dar: certezas; em especial quando os níveis habituais de abstenção são o que são: nas eleições presidenciais americanas a abstenção tem-se situado em pouco menos ou algo mais de quarenta por cento; no referendo britânico foi de quase 30; em Portugal está há muitos anos acima dos 40 por cento. Quanto à questão eleitoral, só uma observação adicional: se o chamado “voto popular” valesse por si só, Hillary Clinton teria sido eleita Presidente dos 50 Estados por uma parte da parte do eleitorado californiano que foi às urnas: na Califórnia teve uma vantagem muito superior à diferença total da sua “vitória” (mais de 4 milhões de votos de vantagem na Califórnia, menos de três milhões no total). A história desta campanha é exaustivamente contada e “contextualizada” e o eventual significado para os americanos e para todos nós das nomeações de Trump conhecidas à data da publicação é analisado e ponderado. O futuro – esse, a Deus pertence e o autor de O Pacto Donald não pode comprometer-se com ele.
A campanha de Trump foi especialmente assanhada. Teve de ganhar contra o Partido Democrático, contra a totalidade dos grandes órgãos de informação, contra o Presidente Obama e contra o próprio Partido Republicano – como sublinhou o “socialista” Bernie Sanders, trucidado nas primárias pela máquina do seu partido, nem sempre, ao que parece, muito lealmente. A linguagem foi desbragada (e não foi só da parte dos democratas ou de Trump, veja-se, neste livro, o discurso do republicano e ex-candidato à presidência Mitt Romney contra a candidatura de Trump). O escritor e humorista Millôr Fernandes escreveu uma vez, mais a sério do que possa parecer:
“Só seria possível acreditarmos no que os políticos dizem uns dos outros durante a campanha eleitoral se, quando um vencesse, mandasse imediatamente fuzilar todos os outros.”
Trump não meteu Hillary Clinton na cadeia, desiludindo possivelmente muitos dos seus eleitores. Neste caso, são paradoxalmente os perdedores, com os seus apelos à insurreição, à sabotagem, à violência, até ao assassinato, quem parece apostado em fazer jus à garantia que Millôr pedia.















