Título: A Rebelião
Autor: Joseph Roth
Editor: Cavalo de Ferro
Páginas: 152
Preço: 14,99 €
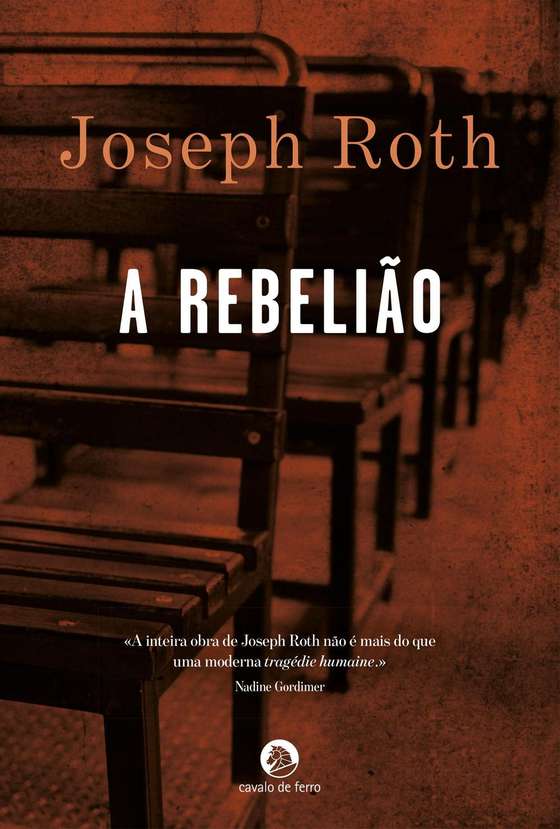
Em 1923, numa das suas peças jornalísticas sobre Berlim, depois de uma descrição do Parque Schiller em que fala de árvores e guardas florestais, Joseph Roth começa a relatar as brincadeiras das crianças na caixa de areia e sai-se com esta tirada — um pouco indigesta para quem procurasse nas páginas do Berliner Börsen-Courier o conforto burguês da atualidade informativa:
“A areia é algo que Deus criou especificamente para as crianças pequenas, para que, na sua sábia inocência sobre o que é brincar, elas possam ter uma noção dos propósitos e objetivos da atividade terrena. Elas atiram a areia para um balde de lata, depois levam-no para um sítio diferente e despejam-no. E depois outra criança qualquer vem e reverte o processo, pondo a areia de volta no lugar donde veio.
E eis tudo o que a vida é.”
Trata-se de uma formulação clara da mundividência de Roth, que muito dificilmente se apelidará de otimista. Contrabalançada por um certo voluntarismo político, essa visão das coisas vem ao de cima logo nas suas primeiras obras. No primeiro romance não-renegado pelo próprio, Hotel Savoy, de 1924, o hotel que dá título ao livro e funciona como sinédoque do mundo é descrito como um “monstro melancólico”. A Rebelião (recém-editado pela Cavalo de Ferro, com tradução de Paulo Osório de Castro), publicado no mesmo ano, pode também ser descrito como um livro acerca da monstruosidade da vida — mas com uma diferença relevante. Em vez de lidar com um campo relativamente amplo, em vez de nos apresentar uma panorâmica sobre os destinos de várias personagens que se cruzam, foca de perto um indivíduo em particular, o veterano de guerra Andreas Pum.
No início, ficamos agarrados à extravagância deste homem “que tinha perdido uma perna e recebido uma condecoração.” Embalados pela prosa extraordinária de Roth — clara, rica em imagens surpreendentes, capaz de ir do burlesco ao lírico num ápice, sem nunca perder o encantamento meio naïf do conjunto — julgamos estar a seguir as aventuras e desventuras de um amputado que recebeu do Estado uma licença para tocar realejo nas ruas, que olhava com desdém para os seus compatriotas desordeiros, e que acreditava num Deus justo que “distribuía tiros na medula espinal ou amputações, mas também condecorações consoante o mérito.” Mas, à medida que a história avança, apercebemo-nos de estar afinal a cair numa parábola negra acerca de nós próprios, das ilusões de sentido que cobrem a nossa existência e do vazio que, segundo Roth, constitui o seu fundo. É uma história sobre o vazio como verdadeiro rosto da vida e sobre os biombos existenciais que, apesar de nos poderem afastar momentaneamente da consciência do tal vazio, o tempo não terá pejo em destruir de um momento para o outro.
O estilo de Roth tem várias características notáveis. Uma delas, a mais geral e difícil de definir, prende-se com o tom da narração. Há uma aura poética a dominar todo o romance, que passa pela mistura entre descrições muito cuidadas das personagens e uma poupança verbal, uma economia de linguagem que se recusa a sobredeterminar o ambiente ou a tornar essas descrições realistas, deixando tudo suspenso numa indeterminação a que a insistência na ideia de Destino dá um toque de relato imemorial, como acontece nas lendas ou em alguns poemas antigos. Essa combinação (escondida atrás de frases curtas e simples, mas executada com inegável virtuosismo) consegue transformar personagens bizarríssimas em perturbadoras sugestões sobre nós próprios. Outra particularidade de Roth consiste em conseguir obter efeitos importantes a partir de traços físicos aparentemente secundários, em movimentos rápidos de grande caricaturista. Nesse aspeto, faz lembrar Gogol; mas é um Gogol contido, menos desabridamente paródico. As salsichas penduradas no talho que parecem “enforcados gorduchos”, embora proporcionem agradáveis refeições ao protagonista, lançam logo uma sombra sobre o resto da história; e é difícil, ao ler acerca do septo nasal enviesado do senhor Arnold que “dava uma forma redonda a uma narina e triangular à outra”, não nos pormos a pensar se, bem vistas as coisas, não serão mesmo assim os septos nasais dos nossos piores inimigos.
Esse jeito de mão que Roth possui não resulta em meros fogachos de virtuosismo. A força do livro está no modo como isso se conjuga com a narração do percurso de um homem, desde a alegada reverência diante da ordem universal até à rebelião contra o Estado e contra Deus.
O episódio do elétrico, em que Andreas Pum perde a licença por causa de uma altercação com um comerciante mal-disposto e deixa de poder ganhar a vida a tocar realejo nas ruas, é determinante neste percurso. O que se percebe nessa hora da verdade é que toda a sua devota reverência à ordem institucional e cósmica dependia de uma pretensão imaginária de superioridade; a qual, por sua vez, dependia de uma circunstância tão frágil como ter no bolso um papelinho carimbado por um burocrata a dizer que, sim senhor, este fulano não é um miserável como os outros inválidos que por aí andam. Depois de ser humilhado no elétrico, toda a sua situação se passa a formular em termos radicalmente novos: “Era, de uma assentada, um vivo sem direito a viver. (…) Como se tivesse sido atirado de um navio para o grande oceano, a sua alma começou a fazer os desesperados esforços de um homem que se afoga (…).” Afinal, a licença não era a prova de uma ordem justa e compensadora do mérito, mas apenas o biombo que o impedia de se aperceber do seu desamparo, da miséria a que também ele está, sempre esteve, sujeito.
É neste contexto — o da nossa luta, mais ou menos consciente, contra a angústia de ser um zé-ninguém — que podem ser compreendidos dois comportamentos insistentemente sublinhados no livro: o gosto pela ordem e o estabelecimento de fronteiras entre si e os outros. Se Arnold, Willi e o próprio Pum começam por tomar o respeito pela ordem como um valor fundamental, não é por acaso. Certamente que há nesta insistência de Roth uma dimensão política, que serve, aliás, para dar um contraponto reacionário à fúria rebelde do Pum final. Mas está em causa um problema mais profundo: a obsessão pela ordem é uma forma de defesa perante a violência da própria insignificância. Também o facto de as personagens se definirem várias vezes no livro por meio de oposições (Andreas Pum devoto vs os pagãos desordeiros, Arnold trabalhador honrado vs o artista do Teatro de Variedades, etc.) pode ser lido à luz desta ideia: a dramatização das diferenças entre cada personagem e os outros funciona como um meio de se salvarem, por uma via imaginária, da sua vulnerabilidade intrínseca. Em larga medida, portanto, o romance parece ser uma tentativa de Roth nos dizer que, tanto nos mecanismos de ordenamento social como no auto-reconhecimento de cada indivíduo, a existência humana corresponde a uma complexa operação de recusa da própria miséria, do vazio que nos define.
Não existe um programa positivo na rebelião de Andreas Pum — apenas a fúria contra um estado de coisas que antes, para um coração que passava então por um “longo sono”, não era olhado nos olhos. A blasfémia final, que coroa a conversão pagã de Andreas Pum e que dá pleno sentido ao título do livro, embora corresponda ao lógico culminar do percurso do protagonista, talvez seja o momento menos bem conseguido. Dá a impressão de que, para ser artisticamente mais perfeita, a blasfémia não se poderia sustentar numa noção tão tosca de Deus como a que é esboçada ao longo do romance (Deus resume-se a isto: o responsável por acontecerem as coisas mais ou menos agradáveis que acontecem). Seja como for, e apesar de um final aquém do que o antecede, A Rebelião é um excelente romance que, parecendo transportar-nos para o universo de um aleijado de guerras longínquas, põe-nos frente a frente com possíveis abismos e ilusões da nossa experiência comum.
















