Título: Primeira pessoa do singular
Autor: Haruki Murakami
Editora: Casa das Letras
Tradução: Inês Rocha Silva e Maria João Lourenço
Páginas: 176
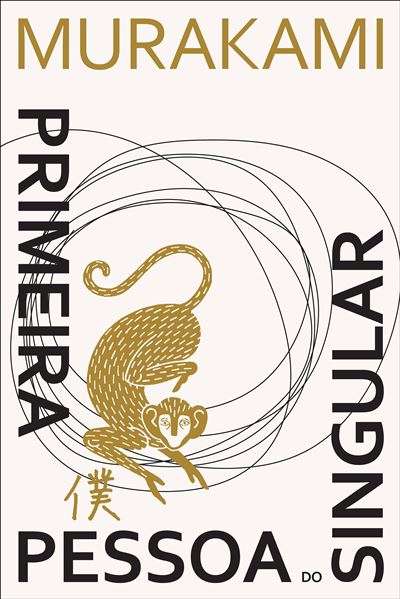
São oito histórias independentes, todas escritas na primeira pessoa. Aqui, como é habitual em Murakami, o autor tenta conferir ao texto a densidade de um sub-texto, não raras vezes através de um mistério, de um desfasamento com o que seria expectável. De início, pode agarrar o leitor, que vai em busca das páginas seguintes para ver como é que a história se unifica. O problema é que, muitas vezes, o mistério é o que há e a narrativa morre ali.
Em “Crème de la crème”, temos um narrador que aceita um convite para um recital de piano que não acontece. Desloca-se ao lugar onde se daria, mas não há indícios de alguma coisa marcada. O mistério começa, mas Murakami não lhe dá vazão, e o texto morre de forma filosófica, sem alcance.
Em “Na almofada de pedra”, um homem rememora os seus tempos de rapaz, particularmente uma noite que passou com uma poeta.
Em “Charlie Parker plays the Bossa Nova”, o narrador escreve uma crítica a um álbum fictício, vindo a encontrar o álbum que imaginou anos depois.
Em “With the Beatles”, o narrador incorre no passado, lembrando a sua juventude.
Em “Confissões de um macaco de Shinagawa”, um macaco fala com o narrador, contando-lhe como se apaixona por fêmeas humanas, roubando-lhes os nomes.
Em “Carnaval”, o narrador lembra uma relação que teve com uma mulher, que para si era a mais feia que conhecia.
Em “Antologia Poética para os Yakut Swallows”, um homem chamado Haruki Murakami fala da sua preferência pela equipa de basebol Tokyo Yakut Swallos.
Em “Primeira Pessoal do Singular”, um homem senta-se com um amigo de um amigo e fala-lhe de uma coisa horrível de que não tem memória.
Murakami faz incursões na memória, mas, neste livro, a passagem do tempo nunca dói. Não se cristaliza um menino, um rapaz, um momento, não se vê o peso da velhice. Parece que tudo é indiferente, que a efemeridade da vida não faz mossa, que lembrar é apenas trazer à conversa uma curiosidade, razão pela qual o livro nunca passa a fronteira de mata-tempo. Na melancolia – ou tentativa de melancolia – que Murakami apresenta, nunca há estratos. As personagens parecem existir de forma autómata, todas meio indiferentes ao que têm à volta. Mesmo quando o autor parece querer criar cenários beckettianos, é evidente que lhe falta a profundidade de Beckett, a capacidade incisiva, o olhar e, finalmente, o desconcerto.
Quando cria um mistério, parece não querer dizer, mas apenas que se conclua. Logo a priori, a manipulação sabe a manipulação, e por isso perde o efeito. A única coisa que sobrevive é irritação.
Se, em alguns romances em que encara o amor da juventude, Murakami conseguiu cristalizar a nostalgia, criar um elo de empatia entre as personagens e os leitores (Norwegian Wood, por exemplo), aqui tudo parece maquinal, transformando-se o fulgor da adolescência numa coisa a preto e branco. Não raras vezes, o que tem potencial de desconcertar o leitor denuncia-se tão descaradamente que resta pouco além de prosa incapaz de sair do chão. Por isso, Murakami tenta, mas não voa, e os mistérios que cria sabem a pouco: não há pistas, não há soluções. Tudo fica no ar, numa estratégia narrativa até desonesta, já que Murakami julga que basta atirar uma história e que cabe ao leitor criar-lhe o sentido, inventar o que ele não inventou na criação.
Criar um mistério e não o matar depois exige apenas a criatividade de criar uma acção pouco expectável. Contudo, não unir os fios faz com que a história saiba sempre a coisa pouca e, se a frustração é um efeito inegável, e portanto mexe com o leitor, também é verdade que o autor parece não cumprir o seu papel dentro do jogo de comunicação que inicia. Murakami nunca une os elos, não podendo, assim, dar ao leitor um todo orgânico.
A autora escreve de acordo com a antiga ortografia















