Novembro é o mês que nasce sempre sob o pronuncio de morte. Começa com o dia de Todos os Santos, que não é mais do que um resquício pagão das festas do equinócio de outono. Implantou-se agora o carnaval infantil que os americanos importaram da América Latina, o “Dia de Los Muertos”, o “Halloween”. E se esta festa mexicana visava, precisamente, ensinar as crianças a lidar com a ideia de morte, fazendo doces com a forma de esqueletos e outras figuras simbólicas, hoje é apenas mais uma oportunidade de usar máscaras, sem que a maior parte das crianças perceba o que elas significam, em que os adultos utilizem esta festa simbólica para abordar com as crianças o tema da morte, sob a lógica da traumofobia.
A verdade é que o Halloween não é sobre a troca de doces, é sobre a vida e a morte. Mas, como nos diz o psicanalista e editor Vasco Santos, com o seu habitual sarcasmo: “A ideia de morte é o tabu contemporâneo. Todos cremados, já! Vivam as urnas biodegradáveis para as cinzas do meu marido arquiteto. Hoje só se morre por descuido, por irresponsabilidade. Se se introduzir a ideia de morte, o capitalismo não funciona. Já vou, é só uma da manhã, ‘bora jogar padel que eu só tenho 60 anos.”

“Que Filosofar é Aprender a Morrer”, Michel de Montaigne (Editora VS)
Este ano, novembro coincidiu também com a votação da Eutanásia na Assembleia da República. A lei passou sem que houvesse debate na sociedade civil, nem na classe política. A vida e a morte do ser humano tratam-se, hoje, como coisa corriqueira, onde a querela e o jogo político têm mais força que a reflexão e o humanismo. Foi também por acaso que neste mês a editora VS, fez chegar às livrarias um dos mais belos e importantes textos que jamais se escreveram sobre a morte. Chama-se Que Filosofar é Aprender a Morrer, escassas quarenta páginas sobre a importância de aprender a morrer, de nos libertarmos do medo da morte, pois só assim poderemos aceder a mais radical liberdade: “Quem aprendeu a morrer, desaprendeu de servir”, escreve Michel de Montaigne, na senda dos estoicos e dos ideais renascentistas.
Com um pensamento luminoso de coragem e modernidade, com um discurso claro, simples, acessível a todos, esta é uma obra que contraria o terrível tabu em que o tema se tornou nas nossas sociedades. Deixando cada criança, cada adolescente, cada adulto absolutamente sozinho com o medo e a angústia, pois, como lembra o psicanalista, “a ideologia da juventude e da saúde destinar-se-iam a substituir a ideia de salvação”. Assim, cada ser humano, que não é mais do que um átomo destinado a voltar a ser átomo, que não é mais do que uma estrela efémera antes de ser húmus, acha-se, narcisicamente, imortal e, portanto, a doença e morte são retiradas da intimidade familiar tal como do discurso público. À coroação de cada recém-nascido corresponde o desprezo por cada morto, criando recalcamentos que, mais tarde ou mais cedo, nos fazem adoecer.
Montaigne lembra-nos, justamente, que já houve tempos em que se convivia frontalmente com a morte e que, face a impérios como o Egípcio — que nos deixou de herança não termas ou templos, mas gigantescos túmulos — a nossa sociedade de alta-sofisticação tecnológica é emocionalmente muito mais imatura; é sabido que depois dos seus festins, os egípcios faziam apresentar aos convivas uma grande imagem da morte, quando não mesmo um cadáver enquanto alguém gritava: “Bebe, diverte-te, pois morto serás igual”. É provável que nenhum outro povo tenha tido uma relação tão profunda com a morte. O filósofo italiano Guido Ceronetti lembra que foi deles a descoberta de levedar o pão com bactérias como foi a de fazer gigantescas pirâmides como túmulos. Este império de “forno e tumbas” e de “homens doentes de sabedoria a cheirar a iodo e a cânfora” é aquele que ainda hoje nos recebe com as suas múmias e o “longo gemido de Anubis”, deus dos mortos.
Tanto Michel de Montaigne, filósofo francês do Renascimento, como Guido Ceronetti, filósofo italiano do século XX e XXI, organizaram todo o seu pensamento com a ideia da morte, da finitude, como base, tal como já o tinham feito filósofos da antiguidade grega e romana como Séneca, Marco Aurélio, Epicuro, Lucrécio. Porque “toda a sabedoria e palavreado do mundo se reduzem, por fim, a ensinar-nos a não temer a morte”, escreve Montaigne na abertura deste ensaio, que é apenas um dos cento e sete textos que compõem a sua obra Les Essais, dividida em três volumes e que, escandalosamente, nunca foram integralmente publicados em Portugal. Existe apenas um volume que antologia alguns deles, publicado na Relógio D’Àgua, mas quem quiser ler, em português, esta obra fundamental do pensamento Ocidental terá que recorrer à edição brasileira da Martins Fontes, que replica a versão de 1588, a última feita pelo autor e conhecida como a “Cópia de Bordeaux”.
Estes Ensaios, publicados pela primeira vez em 1580, que fundaram o género literário que hoje conhecemos como “ensaio”, formam “um dos maiores livros de sabedoria que existem”. E Vasco Santos confessa que lê Montaigne “todos os dias, ou dia sim dia não” e também lê Séneca, cujas reflexões foram determinantes para o pensador francês. Toda a obra moral e ética do filosofo latino, nascido e Córdova e professor de Nero, é organizada no sentido de colocar sempre o humano frente a frente com a sua finitude. Que Filosofar é Aprender a Morrer faz uma crítica ao “homem vulgar” que se entrega euforicamente aos prazeres, à volúpia e ao vício como forma de esquecer a morte.
Montaigne, no século XVI, não poderia contudo imaginar os progressos que se fariam na ciência, em especial na medicina, ao ponto de prolongar bastante o tempo de vida, mas também a saúde e o tempo de ócio. O que, paradoxalmente, não fez o homem refletir mais, nem relacionar-se melhor com a morte, mas desenvolver face a ela um terror paralizante: “Numa perspetiva menos bondosa, eu diria apocalíptica, poderemos pensar que se vivem tempos de descontinuidade. Nada será como antes, nem a juventude, nem o amor, nem a morte. A megamáquina não é helénica. A cesura [corte] não terá fim: em vez de Édipo triunfa Narciso. A instagramação da vida coloca o Eu lá onde deveria estar a pulsão. Um narcisismo violento (típico da primeira infância) caracteriza os indivíduos, os grupos, as instituições e os países. Assim o capitalismo transformou as crianças em adultos e os adultos em crianças e o ócio só é permitido se estivermos a consumir. Até o lado maníaco da melancolia (a poesia) foi hoje substituído pelo consumo”, afirma Vasco Santos.
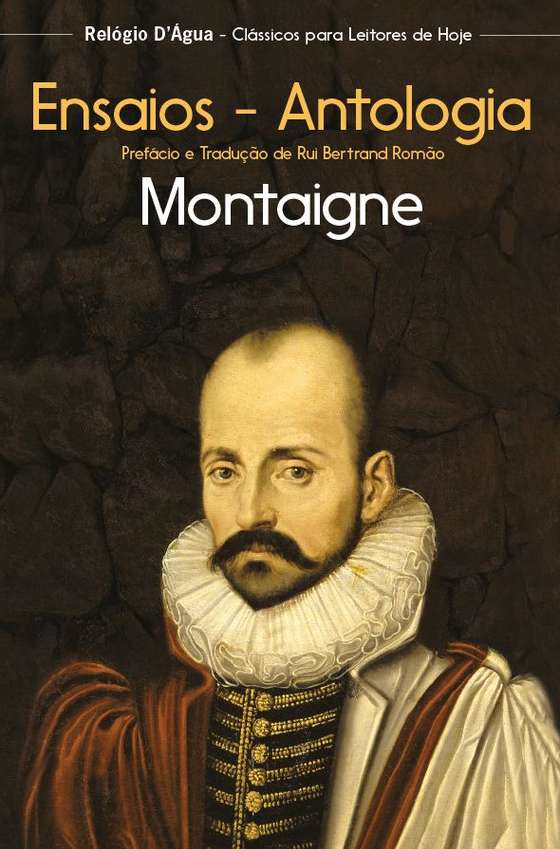
Antologia de alguns ensaios de Montaigne, na Relógio d’ Água
Mas atenção, este ensaio, não é um livro de auto-ajuda. Montaigne, como Séneca, como os filósofos morais, em geral, não nos querem ajudar: pelo contrário, querem dar-nos tarefas que levam toda uma vida a concretizar. Aqui não se encontram fórmulas gastas, conselhos para se ser positivo, ativo, na crista da onda, não é preciso fazer yoga, ou meditação no Tibete. A literatura de auto-ajuda é precisamente um convite à não reflexão, à normalização e à obediência face às regras que vigoram nas sociedades de consumo.
Este é um livro que não nos dá nada mas que nos desafia a um trabalho interior continuo, é um livro que não nos consola, nem nos apazigua. Não tão radical como Stig Dagerman, que nos diz que o suicídio é a única forma de consolo para esta vida de desconsolo; nem tão intrépido como Séneca, que nos fala do suicídio como a mais digna das mortes; Montaigne diz-nos:
É incerto onde nos espera a morte: esperemo-la pois em todo o lado. A premeditação da morte é a premeditação da liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu de servir. O saber morrer livra-nos de qualquer sujeição ou constrangimento. Não há nada mal na vida para aquele que compreendeu que a privação da vida não é um mal (…) tanto quanto nos for possível, há que estar sempre de botas calçadas e pronto a partir (…) Estou, neste momento, num tal estado, graças a Deus, que posso desaparecer quando Lhe aprouver, sem lamentar o que quer que seja. Desprendo-me de tudo, já enderecei os meus adeuses todos (…) também eu ganhei o costume não apenas de ter sempre a morte na imaginação, mas de a ter continuamente na boca (…) Quem ensinasse os homens a morrer ensiná-los-ia a viver.”
[Montaigne, Que Filosofar é Aprender a Morrer]
Portanto, ao contrário daquilo que se faz neste século XXI, Montaigne ensina que é preciso conviver naturalmente com a morte pois ela é tão natural como a vida. É preciso que ela seja falada, enfrentada como coisa normal, pois tudo o que existe na Terra tem um tempo para viver e um tempo para morrer, há apenas que olhar em volta: as cigarras vivem anos e anos como ninfas debaixo da terra. Quando vêm à superfície cantam, acasalam e morrem em poucos dias. Haverá mais bela metáfora da vida humana?
Para vos alojar nessa moderação vos peço — nem fugir da vida, nem recuar perante a morte – temperai uma e outra entre a doçura e a acidez.”
[Montaigne, Que Filosofar é Aprender a Morrer]
Michel de Montaigne, o construtor do pensamento humanista
Embora tenha sido sempre católico, Michel Eyquem, nascido no castelo de Montaigne, perto da cidade francesa de Bordéus, filho de uma judia fugida de Castela, de apelido Lopez (que depois afrancesou para Louppez e que haveria de abraçar o protestantismo), e de um pai nobre, que participou nas guerras em Itália e de lá trouxe uma bagagem de ideias novas, nomeadamente a de que a humanidade estava no centro do universo, a importância dos pensadores antigos e de que o Latim era a língua fundamental dos novos tempos. Este pai vai contratar para o pequeno Michel um professor de Latim e proibir que ele se expresse em qualquer outra língua. Assim, muito cedo ele começa a ler os filósofos romanos e a tomar contacto com o pensamento pagão, com os mitos e toda a mundividência que é uma das bases da civilização Ocidental.
É pois um pensador profundamente marcado pelas ideias renascentistas que desabrocha dessa criança, que vai adotar para o próprio nome o das suas terras: Montaigne, coisa que nem o pai nem os irmãos fizeram. Mas, de facto, as suas terras e o seu castelo serão o local onde ele escavará os fundamentos da sua obra, nomeadamente na torre do castelo que ele mandou preparar só para si e foi lá que, ao longo de vinte anos, escreveu os seus Essais. Nas vigas dos aposentos vai mandar gravar frases de Lucrécio, do Eclesiastes, de Eurípides, de Platão, de São Paulo…
Essas citações que lhe enchem as paredes vão encher-lhe também a obra, que ele via como uma lição e um auto-retrato. Queria retratar não a sua vida, não as suas roupas, mas as suas aprendizagens. Quão longe estamos de Montaigne. O que ele aprendeu, com a sua experiência de vida e com as suas leituras dos antigos devia constituir-se como um conjunto de lições para os leitores, daí que os Ensaios estejam cheios de citações, o que fez com que durante muito tempo, Montaigne fosse considerado um insuportável pedante. Porém, o filósofo não quer exibir-se, quer antes mostrar a que fonte foi beber e incitar outros a irem beber da mesma água.

A torre do castelo de Montaigne, onde ele escreveu, ao longo de 20 anos os “Ensaios”. A torre e o castelo, perto de Bordéus, podem hoje ser visitados
Uma das experiências que sabemos ter marcado profundamente Montaigne, ainda na juventude, foi a morte do amigo, o também poeta, tradutor e filósofo francês La Boétie, autor de outra obra fundamental do Renascimento, Discurso Sobre a Servidão Voluntária (Antígona). Também bordalês, o poeta era, como Montaigne, funcionário do Supremo Tribunal de Bordéus. Uma amizade intensa, mas breve, já que o poeta morre, de peste, com apenas 33 anos. À sua cabeceira estava Montaigne, a quem ele deixa a sua biblioteca, e que vai usar os seus Ensaios para manter com La Boétie e o seu pensamento revolucionário, um diálogo eterno, além de ter defendido sempre este livro que tantas polémicas abriu ao longo dos séculos.
Como homem do Renascimento, o pensador de Bordéus, vai abandonar toda a ideia de profecia e abraçar a “Experiência como base de todas as artes e ciências”. Esta ideia, ao tempo revolucionária, será estrutural para todo o seu pensamento, daí que ela surja no último ensaio do terceiro livro, é o fechar do círculo. Nada pode ser pensado sem ser experimentado. Esta experiência pode ser tida pelo próprio ou pela observação do mundo em redor. Daí que, quando fala na morte, ele nos vinque a importância de observar o que fazem os outros, como vivem, como morrem, como adoecem ou têm acidentes, e que esta realidade devemos integrá-la no nosso mundo interior como coisa natural, parte do funcionamento cósmico. Assim, Montaigne rejeitava a razão dogmatizante e propunha um ceticismo em relação a tudo. “Que sei eu?”, perguntava-se constantemente.
Forma-se em Direito, casa-se, mas nunca renuncia aos prazeres da vida mundana, não havia nada nele de ascético ou puritano. No livro terceiro aconselha mesmo a que o Homem viva ao máximo os prazeres do corpo e da alma. Contudo, a maior parte da vida foi dedicada ao estudo e à obtenção de conhecimento. Seguindo Séneca, que considerava que a aquisição de conhecimento deveria ser a aspiração maior da vida humana e que só ela traria verdadeira felicidade.
Tem 55 anos quando Henrique de Navarra toma o trono francês e o convida para ser conselheiro na corte. Montaigne rejeitará essas honrarias e, embora tendo já escrito os três volumes dos seus Ensaios, considera que têm ainda muito que aprender e até à morte não cessará de introduzir citações, metáforas, reescrever, emendar, alterar os textos. Dirá ao rei que é tempo “de se recolher na sua casca” e de “passar mais tempo na torre a meditar sobre a vida e a morte”. Desse fortalecimento do espírito, a que hoje chamamos “resiliência” e confundimos erradamente com “resistência” vai sair um homem que morrerá tão dignamente como viveu, recebendo a morte, em 1592, com tranquilidade. Para trás deixou escrito:
“De toda a parte me desenlaço; já estão meio feitas as minhas despedidas de todos, exceto de mim. Jamais um homem se preparou mais total e plenamente para deixar o mundo e se desprendeu dele mais universalmente (…) agora só penso em acabar, desfaço-me de todas as novas esperanças e empreendimentos, dou o meu último adeus a todos os lugares que deixo, e todos os dias me despossuo do que tenho.”
[Montaigne, os Ensaios, Livro I]
















