É um livro de memórias, e lê-se como se houvesse cola entre os dedos e o papel. Aqui, Ishikawa conta a história da sua vida na Coreia do Norte e da posterior fuga para o Japão. Nascido lá, aliás, foi com pasmo que viu o que era a vida sob o jugo da ditadura de Kim il-sung.
Filho de mãe japonesa e pai coreano, Masaji nasceu no Japão, onde viveu até aos 13 anos. Nessa altura, seduzido por um discurso fantasista, feito e espraiado pelo governo norte-coreano, o pai de Masaji decidiu que toda a família iria para a Coreia do Norte. Ali, era prometido trabalho abundante, comida na mesa, educação grátis, dinheiro no bolso – uma vida decente, portanto. As promessas eram muitas, as dúvidas eram poucas. Lá foram, e logo à chegada tudo bateu ao lado: as aldeias eram decrépitas, as condições miseráveis. O trabalho escasseava, a comida mais ainda. O relato da vida na Coreia do Norte é o de uma barriga colada às costas.
Ali viveu Ishikawa durante 36 anos, sempre sentindo-se um japonês. O regime totalitário não dava folgas a ninguém. Kim il-sung era um deus inquestionável, e qualquer desvio de uma norma, de uma regra, era visto como uma traição. Exemplo: o governo impunha metas para os cultivos, independentemente da zona, e, caso estas não fossem atingidas, considerava-se deslealdade para com o governante. O tom quase absurdista perpassa o livro inteiro, e torna-se ainda mais absurdo por se saber que se tem em mão memórias, não ficção. A figura do ditador como salvador da pátria, martelada na cabeça de cada um, era um discurso imposto não só sobre a realidade, mas também, e principalmente, apesar dela. Com isto, a engrenagem do governo baseava-se numa lavagem cerebral permanente e colectiva, e com permanente quer-se dizer que começava logo no primeiro instante: bastava a quem vinha do Japão chegar para perceber que o mundo prometido, afinal, era outra coisa. Ora, a vida deitada ao lixo, trocada por um sofrimento imposto durante décadas, ficava a fazer peso o tempo todo, e o mero engodo sabia também a frustração. Mas que espaço teria para sentir mera frustração quem tinha a fome a dominar-lhe os dias?
As pessoas tratadas como peças de xadrez ao serviço de um ego não deixam de chocar por um minuto. A violência sabe a coisa inominável, as parcas condições de vida também. Sob um lema de união, de progresso, de construção de um caminho, um povo vivia doente, emagrecendo para alimentar uma ilusão. Essa ilusão era uma versão que talvez uns questionassem, outros não – mas quem o fazia tinha de ficar calado. O regime, como é apanágio dos totalitarismos, era esmagador, e precisava de abdicar da verdade, do pensamento crítico, do que fosse, para conseguir perpetuar-se. Assim ia durando, erigido no medo, na força bruta que impunha.
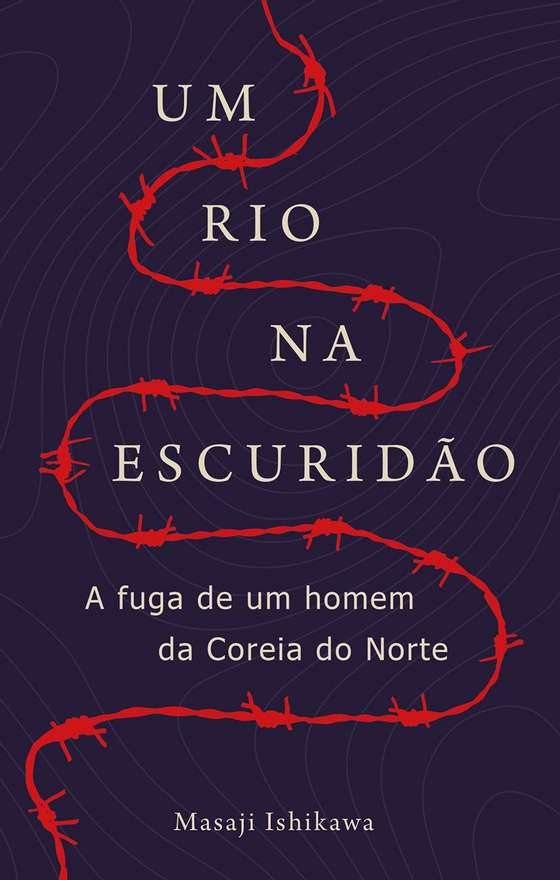
Título: “Um rio na escuridão”
Autor: Masaji Ishikawa
Editora: Kathartika
Tradução: Alberto Gomes
Páginas: 240
Numa prosa escorreita, Ishikawa conta, no mesmo movimento, a história da sua vida e a história da Coreia do Norte após a Segunda Guerra Mundial. Dando o terror da sua vida, dá também a imagem aberta, metida numa casa, de um sistema baseado em corrupção moral, violência, desumanização e instrumentalização de humanos, tudo erigido em narcisismo e psicopatia. Ali, os cidadãos serviam apenas para sublinharem o poder do ditador, que mandava nas vidas e no que se fazia delas.
O regime ditatorial vendido como paraíso era uma verdade absoluta, apesar de a mentira estar escancarada. É impressionante, ao longo da leitura, ver como a retórica é mera fantasia, mero alicerce – o discurso era incompatível com a vida descrita e com a sensação popular. Ao mesmo tempo, a figura do ditador, alicerçada em desejos megalómanos, punha a vida real em contraste com a fantasia. Não bastasse e o discurso político, então popular, era o de que havia uma ameaça externa e que não podia ser de outra maneira.
O relato de Ishikawa mostra como se vive apesar da vida que se tem. Toda a realidade retratada parece um exagero, incluindo o sistema baseado em quatro frentes militares, que passavam por armar a totalidade da nação, fortificar a nação, criar líderes militares e complementar a nação militar. O discurso era de tal forma repetido que era natural que o povo achasse que a militarização era não só justificada, mas também necessária, principalmente o povo que nunca tinha vivido numa democracia liberal e só conhecia o jugo japonês ou a ditadura de Kim Il-sung. No relato, tudo sabe ao exagero das dinastias inquestionáveis, que não parecem diferir muito do período feudal que impunha a servidão. Não dava, por isso, para comprar com qualquer experiência que incluísse a razoabilidade legal, moral ou cívica. Aliás, até os Dez Mandamentos de Kim Il-sung, decorados por todos, pareciam ter aspiração religiosa: os cidadãos prometem lealdade, honrar a figura, adoptar a ideologia alheia, obedecer incondicionalmente, passar o legado.
A história de Ishikawa inclui uma regressão cívica. Quase do nada, fez-se fantoche – passando uma fronteira, fez-se outra coisa. A impotência era real, proporcional ao absolutismo do poder instituído. A sua fuga, por isso, era um misto de desespero e esperança. O que não passa ao lado, para quem lê, é que, quanto mais se lê sobre a ditadura norte-coreana, mais impressionante parece não se lhe poder chamar distopia. E, sobre um dos regimes mais ocultos do presente e do passado próximo, lá se consegue destapar o véu para alguma coisa – e que escuridão temos em frente.
A autora escreve de acordo com o antigo acordo ortográfico.

















