É mais um romance impressionante de Mathias Enard, professor de árabe na Universidade de Barcelona e vencedor do prémio Goncourt de 2015 com Bússola. Em Desertar, o enredo alterna entre a história de um soldado e a de um matemático. Não há um mapa de entendimento, mas espera-se acção da parte de quem lê. O autor lança as peças e cabe a quem as vê montá-las, criando o sentido e a forma orgânica.
De um lado, há um soldado que tenta fugir da guerra, ganhando, no meio do horror, alguma vida. A voz narrativa vai oscilando entre a terceira e a segunda pessoa. Volta e meia, o soldado parece dirigir-se a ele mesmo, o que faz com que o leitor se aproxime do seu estado mental de desespero: os dias estão cada vez mais confusos, o tempo perde-se, a solidão adensa. Exausto, sujo, mantém-se em luta pela sobrevivência. Diz-se “o soldado”, porque mais sobre ele não se sabe.
De identidade imprecisa, é um desertor também numa guerra imprecisa – e que importa? O soldado é um rosto anónimo como tantos dos que fazem as guerras, e isto não será coisa de pouca importância na narrativa. É que, à medida que o outro eixo entra na narrativa, caberá ao leitor fazer pontes entre vidas, entre guerras, entre um rosto entre vários e uma figura pública, uniformizando-os, horizontalizando-os, olhando para a narrativa, e para a história, como um curso que atravessa tudo de forma universal.
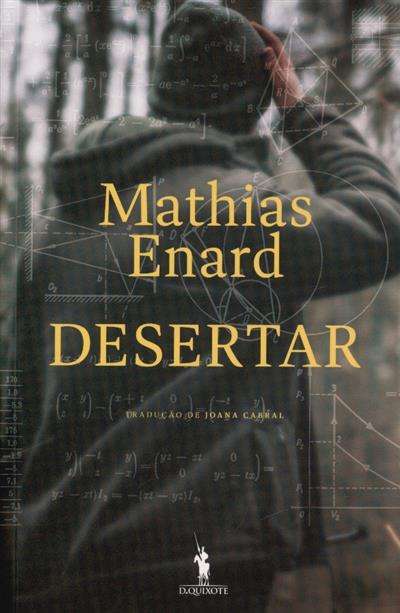
Livro: “Desertar”
Autor: Mathias Enard
Tradução: Joana Cabral
Editora: D. Quixote
Páginas: 232
Ora, fugindo dos horrores das batalhas, o soldado busca a segurança do passado: enfrentando os declives das montanhas, quer procurar abrigo na sua casa de infância. Com isto, o leitor é logo levado para a inocência infantil que lhe foi roubada, que implica a perda do paraíso. A segurança do abrigo, ainda sem a descrença, a desilusão, o desajuste, contrasta com a vida posterior, de conflito, insegurança, de sabe-se lá o que virá. A própria ideia de infância é refúgio, em parte porque implica uma noção inteira de vida que não inclui a participação numa guerra, o que faz com que o espaço temporal seja uma redoma. Procurá-la, regressar a ela, significará a cristalização de um estado emocional tranquilo:
vais reencontrar um pouco de infância e de descanso no casebre,
o casebre onde ias com o teu pai, onde o teu pai ia com o pai dele, ia cultivar, ia colher, ia cultivar,
a casa está debaixo dos seus olhos e não há nenhum movimento, não há nenhuma presença, á é de noite ou quase a voz do pássaro calou-se, ele vai descer até à cabana, ao casebre, à casa seja qual for o nome que lhe damos,
claudicas, tropeças, a mochila e a espingarda pesam,
o carreiro desenrola-se como uma cobra, na encosta da montanha, já não há nenhuma estrela no céu e os tempos continuam a ser de guerra.” (p. 32)
À medida que avança, rumo a esse futuro esperado que é, afinal, o regresso ao passado, talvez romantizado, a vida mete-se pelo meio, tanto da realidade como da efabulação: já lá chegado, tendo um encontro inesperado, o soldado obriga-se a redefinir o seu caminho. A opção por usar tantos elementos imprecisos e, no mesmo cenário, criar perspectivas de tal forma pessoais (a ligação com o lugar da infância, por exemplo, obriga a uma certa empatia, porque torna um homem num menino, e é o menino que o leitor vê) resulta numa espécie de patinagem emocional, o que faz com que o leitor se apegue, já meio zonzo com os parágrafos em que o soldado se revela meio perdido. O seu estado ganha corpo a partir do texto, e ao mesmo tempo transforma o homem num corpo de exaustão, o que faz com que o texto fique carregado com isto, pesando na experiência de leitura.
Em concomitância com isto, existe a outra história. A 11 de Setembro de 2001, celebra-se num colóquio, nos arredores de Berlim, o matemático Paul Heudeber, que sobreviveu a Buchenwald, um dos maiores campos de concentração criados pelos nazis. Foi anti-fascista e ficou do seu lado do muro de Berlim mesmo após o fim da utopia marxista. A sua história é contada pela filha, agora com perto de 70 anos, que pega ainda no momento em que, na Alemanha dividida, os pais se apaixonaram, tentando reconstruir a memória familiar, intrincada com a história do país. Assim, pegando em documentos, como cartas, vai juntando as peças, até ao desaparecimento do pai, na altura da ascensão do nazismo.
A filha vai contando a história, sendo filha e historiadora ao mesmo tempo, lendo mais de três mil cartas escritas entre 1938 e 1995, comparando a luz dessa paixão a uma Berlim que “parece muito pálida ao lado desse sol” (p. 39), sempre fazendo as pontes necessárias entre a vida emocional de uma casa, uma família, com a de um país, um povo. Com subtileza, o autor vai atando os fios, nunca fazendo de elemento nenhum ilha nenhuma. Em vez disso, tudo na narrativa – nas narrativas – tem sabor de constelação. Para mais, como o autor – a narradora – tanto insiste na história de amor, e como este é descrito de forma totalizante, o romance vai tendo um fundo de beleza permanente, mesmo se tirarmos da equação a prosa, que contrasta com os horrores das guerras – e que sobressai talvez até por causa disso, permitindo ao leitor respirar, descansar os olhos, acalmar a intensidade.
Dando ao leitor cada uma das histórias ao seu ritmo – com narradores diferentes, estando a segunda narradora ainda a recorrer a fontes documentais –, o autor não cria um mapa de encaixe das narrativas, que vão parecendo paralelas, intocadas na acção e no tempo. Afinal, as personagens não se cruzam. E não é que não pudessem ser duas peças diferentes, mas a forma como estão entrelaçadas obriga o leitor a esforçar-se de forma a estabelecer uma relação dialógica entre elas.
E eis, finda a leitura, os temas tratados de forma integrada, e o curso da História como um rio: tudo mexe na guerra, tudo tem o cerne humano chamado história de amor. A coser tudo isto, há uma prosa elegante, subtil, delicada, com efeito quase encantatório.
A autora escreve de acordo com o antigo acordo ortográfico.
















