Índice
Índice
É evidente que os homens não dão à barba a importância que ela merece. Sintoma desta desconsideração está nos muitos cenhos que nesta altura já se franzem diante desta afirmação: não está a barba na moda?, argumentam; não se vêem por todos os mentos barbas viçosas e pelos orgulhosamente soltos? Não estamos, para mais, na época em que umas generosas barbas brancas conquistam o país?
Tomemos como exemplo o que da barba dizia Cândido Lusitano no seu dicionário poético para ver quão parcos são estes argumentos diante das merecidas loas de que a barba já foi alvo: chamou-lhe “o decoro viril que adorna as faces”, chamou-lhe, em rima, “do sexo varonil honra distinta, que a Natureza no semblante pinta”, chama-lhe “das bélicas nações hórrido adorno” e ainda lhe poderia chamar jardim humano ou horto portátil sem perigo de exagero.
Que são, assim, as barbas descuidadas, que crescem à solta sem os necessários correctivos de um pai atento, ou em desenhos irónicos (como se a pilosidade facial não merecesse um trato grave e reverente!) diante destes altos elogios?
Barbas, patilhas e bigodes
A barba envolve a face dos grandes homens como uma espécie de ninho materno; serve de casaco para as bochechas no Inverno, de dispensa para os porcalhões que em momentos de aperto podem resgatar sopa dos seus bigodes e, nos casos mais crespos, para armazém de material de escritório — uma barba rija é capaz de segurar lápis e canetas de toda a espécie entre o emaranhado dos seus pêlos.
A barba é o nosso ex-libris natural, a possibilidade que Deus nos deu de trazermos armas falantes à volta da própria boca. Os povos respeitaram tal vocação por muito tempo: a barba expressou identidades e ideias das mais variadas formas. Não indicavam as pontas arrebitadas do bigode monárquico o sítio exacto em que desejavam pousar uma coroa? E que dizer dos delicados palitos que brotam dos cantos das bocas chinesas, tão destros quanto o mais fino mikado e tão afiados que podiam servir à acupunctura? Há-os moles e pachorrentos, como o bigode mexicano, pronto a guardar os beiços do sol que nem o mais competente sombrero; há-as rudes como as barbas lenhadoras que parecem feitas de farpas e aparadas a machado, e até há os bigodes tísicos de poetas românticos, prontos a esmorecer tão depressa quão depressa murchavam os seus donos vítimas da tuberculose. A barba pode esconder a cara, mas desvenda a personalidade: é fácil, de facto, encontrar tipologias através da barba; a pogonologia, infelizmente, não tem tido curiosos suficientemente pertinazes para desbravar as barbas que ainda se cerram num clima de mistério obscurantista.

A Barbearia Campos, a funcionar em Lisboa desde 1886 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP/Getty Images)
Era possível, a um pensador capaz, criar uma filosofia da história a partir do pelo facial: a barba ilustra os séculos como nem o dinheiro ilustra. Desenganem-se Vico, Weber ou Aron, que as etapas do pensamento sociológico mostra-as a barba: o vigor da barba medieval degenerou naquele bigode raquítico, excessivamente afectado do fim do Ancien Régime; a barba descuidada dos hippies mostra o ensejo de regressar ao Homem primitivo; todos os promulgadores da recente austeridade exibiam a face escanhoada, como que a mostrar que era tudo para cortar, rente, rente. A virilidade da nobreza bélica, toda ela viço, espalhava barba pela cara como plantas num solo fértil e saudável; a sociedade de setecentos, por outro lado, de tão postiça só podia exibir cabeleiras falsas. A guedelha natural, tão ociosa para crescer como os seus donos para governar, atrofiava pari passu com o regime. A contrastar com esta sociedade afectada e postiça, já uma caricatura de tempos idos, teríamos os Índios da América, imberbes como crianças e inocentes como elas. Com tão poderosa ferramenta de análise, também ao nosso tempo se lhe pode tirar a pinta pelo que pintalga os rostos. As nossas barbas, voláteis e variadas como o século, crescem e desaparecem, em talhes estrambólicos e paródias de mau gosto. A barba merecia mais respeito como, de facto, já mereceu.
Nos recônditos princípios do Cristianismo, motivou uma polémica entre Romanos e Ortodoxos: deviam os padres usar barba? Não, afirmava a face límpida de Roma. A barba é o sinal da vaidade dos Homens, e os padres devem combater a vaidade. Sim, contestavam os ortodoxos. Querem mais vaidade do que o rosto liso e perfumado de um Homem glabro? Uns podiam invocar São Paulo (“não vos ensina a mesma Natureza que é desonra para o Homem ter cabelo crescido?), outros o Levítico (“não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da vossa barba”); uns podiam argumentar com a ascese do asseio frequente, outros com Sansão, que perdeu a força quando cortou o pêlo.
Se a teologia não convence algum ímpio, convença-o a História. Informa-nos Paulo Merêa que entre as penas infamantes do direito visigótico havia a possibilidade de punir um infractor com um corte da barba. A um criminoso que merecesse castigo público tanto podiam sair em sorte açoites à vista de todos como um corte da barba. Imagine-se o orgulho que não deviam ter estes homens na sua exibição pogonática: andar de rosto destapado podia ser vergonhoso o suficiente para se considerar castigado um delinquente; a nudez do queixo opróbrio que bastasse para arrepender uma alma inclinada para o mal.
Gandalf, Cantinflas e Nostradamus
Poderíamos aprender com os nossos venerandos avôs góticos a ser orgulhosos das nossas barbas; no entanto, rasoiramo-las com uma prontidão que nem Ockham daria à sua navalha, para nosso próprio malefício. Alguém acredita na profundidade filosófica de um Homem que não cofia a sua barba? Como a própria palavra já parece sugerir, só se fia em quem cofia: de Merlin ao Pai Natal, de Freud a Karl Marx (a cada um segundo a sua fantasia), todos cobriam a cara com um imponente barbaçal meditabundo. Se bem que os rostos escanhoados sempre foram sinal de civilização, as barbas compridas simbolizavam sabedoria.
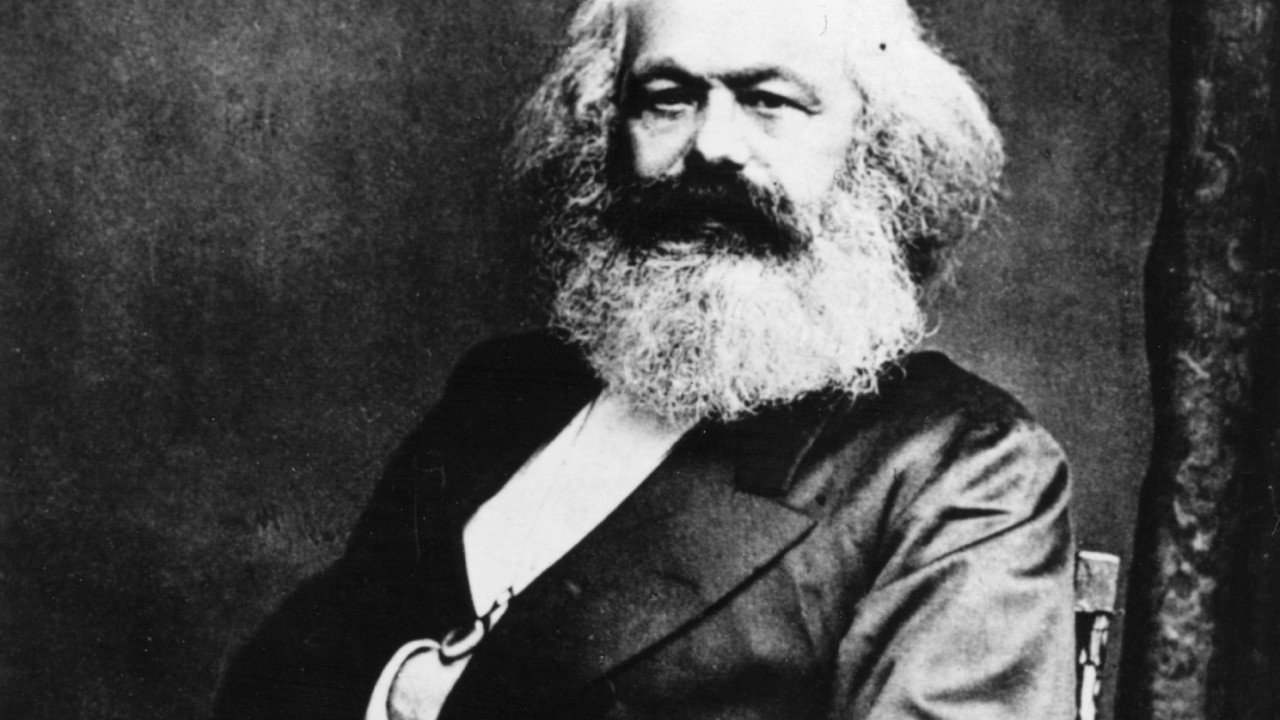
Karl e a barba
Do refinado romano ao cortesão renascentista, da arte palaciana de quatrocentos às representações de Apolo, a civilização, o belo e o harmonioso aparecem glabros, enquanto a selvajaria e o conhecimento exibem mentos bem cultivados. Terá, certamente, que ver com uma ideia de sabedoria que abdica do mundano, que faz pouco caso das vaidades do mundo e das suas convenções. Nalguns casos, pode mesmo adquirir um certo contorno esotérico, de aproximação dos sábios a uma figuração druídica ou divina, ou a uma espécie de estado humano primordial: Nostradamus, o Abade Faria e todos aqueles que estão de alguma maneira associados a um conhecimento alquímico ou misterioso têm, nas representações, uma longa barba a secundar os seus conhecimentos.
Leite Vasconcelos, no seu estudo sobre a barba em Portugal, demonstra a importância etnográfica que sempre teve a pilosidade facial. Usada para mostrar luto nalgumas terras, como uma espécie de gravata preta natural, ou como sinal de alegria noutras, a sua importância mede-se, entre outras coisas, pela relevância que sempre teve o barbeiro nas comunidades humanas. Figura mais que pinturesca, fosse o barbeiro simplesmente o homem mais hábil a manejar uma navalha; fosse apenas aquele assobio em vibrato — como que a aumentar a tensão enquanto nos raspa a garganta — a sua única qualidade, e já isso seria suficiente para elevar a profissão ao nível dos maiores serviços Humanitários; mas o barbeiro é também um interposto noticiário de gabarito. Em algumas terras, informa Leite Vasconcelos, o barbeiro assentava arraiais em plena praça central – ao ar livre e tudo –, tomando a sério a sua função de espalhar notícias ao mesmo tempo que estancava o crescimento capilar.
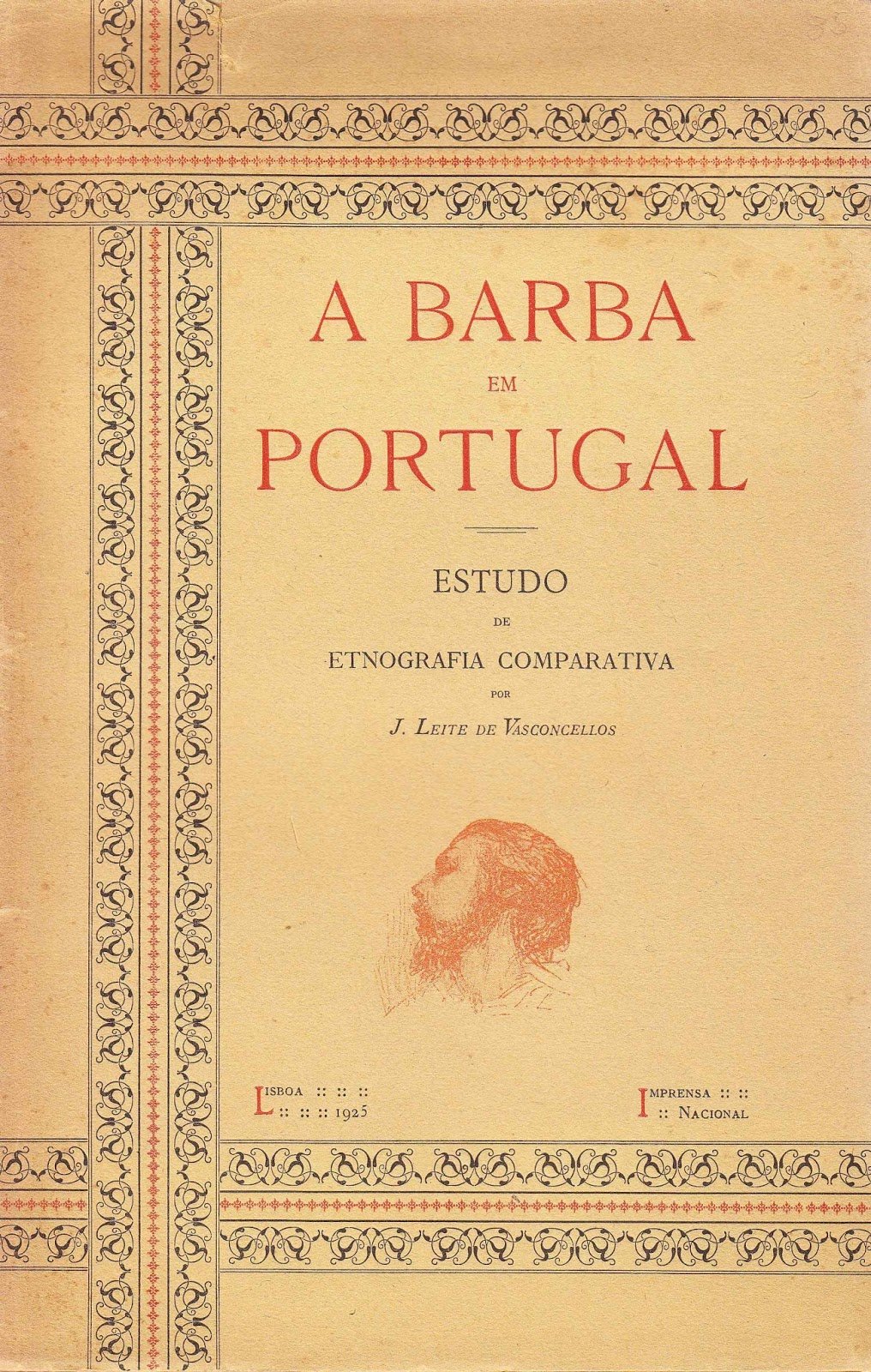
“A Barba em Portugal”, de Leite de Vasconcelos
Como ente de grande substância, porém, a barba nunca poderia ater a sua relação com as letras ao mero telegrama noticiário. Também a alta literatura se orna com os pelos maviosos do rosto masculino. Quer em expressões, quer em enredos, quer em personagens. A literatura Ibérica começa praticamente com uma referência à barba: logo num dos romances velhos de D. Sancho de Castela, para se dar ideia da sua juventude, escreve-se com elegância: “Rey don Sancho, rey don Sancho, cuando en Castilla reino, las barbas que le salian, y cuán poco las logró!”; se saírmos do romance e entrarmos no adagiário popular, qualquer rifoneiro nos dá provérbios como “barba de três cores é barba de traidores”, ou ameaças como “faço-te a barba à chapada”.
De histórias e lendas conta-se, sem que a Lenda Áurea o confirme (embora conte a história de Santo Eustáquio, reconhecido como Cristão pela barba e morto depois disso), que certo dia uma mulher piedosa, chamada Liberata, ia casar com um vilão. Para não casar com tal Homem e, ao mesmo tempo, não desobedecer à vontade paterna, pediu a Deus que a fizesse tão feia que o noivo a repudiasse. Nosso Senhor, para atender a sua prece, deu-lhe tais barbas que lhe perderam o marido mas ganharam o Céu.
O mesmo Céu, todavia, não terá ganho uma das mais conhecidas personagens barbudas da literatura. Quando Perrault criou o cruel Barba Azul, comprovou a conta em que os Homens têm as barbas coloridas. Antes deste, um barba-negra e um barba-ruiva já confirmavam a associação entre a barba e a maldade. É que além destes piratas, dos barbas das águas que completavam o quiasmo diante de inocentes marinheiros, há um famoso corte mefistofélico que liga a barba ao mal.

O Barba Azul de Perrault
Injustiça tremenda, esta, que felizmente a ficção mais recente se tem encarregado de combater. Gandalf e Dumbledore são bondosos e justos barbudos, mesmo o Merlin foi convertido pela Disney num excêntrico bem-intencionado, o que permite ter esperanças num futura reabilitação de Rasputine ou Bin-Laden.
Estas últimas personagens, de facto, não condizem com a provecta gravidade que a barba traz. Mesmo quando dizemos pejorativamente que algo “já tem barbas” como sinal de velhice (“já tem careca” seria mais estranho, embora igualmente adequado), reconhecemos a respeitabilidade dos longos fios, brancos ou prateados, que provam a resistência.
Água pela barba
A barba é variedade, têm-na Deus e o diabo, têm-na a nata dos homens e das mulheres (estas, com tanto e tão admirável brio, que frequente se tornam profissionais do assunto), têm-na velhos e, até mais vezes, velhas, reis e o Zé Povinho. A barba é tão versátil quanto um bom canivete, tanto pode ser suíça como ele ser suíço e permite igual número de usos. A harmonia do barbaçal permite criar combinações para todos os gostos: a combinação asseada, com cabelo à escovinha e bigode escova-de-dentes; a combinação Natureza-morta, com cabelo à tigela, uma pêra e por cima uma mosca (a mata-cavalo ainda acrescentamos as maçãs do rosto); ou pode criar o BBC vida selvagem com rabo-de-cavalo, barba passa-piolho e mosca mais uma vez.
Ressalve-se, a bem do rigor, que também tem inconvenientes: sob pena de, quando a tirar, passar a ser o “mosquinha-morta”, tenha-se também em conta que deixar crescer uma mosca é decisão que implica mais firmeza do que um casamento. A natureza do acto é um pouco diferente – em vez de uma só carne, pode passar-se a ser, nem bem um só, mas apenas vários pêlos, como mostra o “barbas” – mas a sua irreversibilidade devia ser a mesma.
Enfim, há barbas internacionais, como as Suíças, patilhas marialvas, barbas guerrilheiras, bigodes farfalhudos, barbas imponentes, rijas, saudáveis… Há também perversões como os bigodes à Cantinflas ou os espalhafatos de Dalí, interditos como o bigode de Hitler, e uma tão vasta gama de variações que torna as de Goldberg uma monotonia sempre igual.

Salvador Dali, os espalhafatos e o bigode
A barba tem qualquer coisa de sagrado e outra qualquer de desleixo, tem importância religiosa (nem é preciso ir a Judeus e Muçulmanos), literária, moral, etnográfica e o mais que se foi vendo. É necessária caso queira ser um viking de pêlo entrançado, útil para exercitar vocações artísticas frustradas, ou um bom projecto-piloto para antes de se aventurar num canteiro fora da cara.
Se mais nada convenceu, apele-se pelo menos à preguiça: é que até pode ser mais bonito, mas fazê-la dá água pela barba.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.

















