Índice
Índice
Durante anos, o seu nome foi gerando burburinho. Pelas colaborações com Dino D’Santiago (ajudou na composição dos seus álbuns), Sara Tavares, Kalaf Epalanga e Aline Frazão, por exemplo, mas também pelos seus concertos, pelo seu primeiro EP, Ingombota, pelas composições para Ana Moura (com a ajuda de José Eduardo Agualusa) e Cristina Branco, pelo dueto que gravou em 2017 com a britânica Joss Stone ou por ter sido escolhido por Salvador Sobral para atuar no festival Cool Jazz, em 2018.
Entre Angola e Portugal, Toty Sa’Med foi ganhando notoriedade, sendo apontado por muitos dos seus pares e ouvintes como um dos talentos mais proeminentes da música angolana e da sua geração (a par, desde logo, de Aline Frazão) e como uma das grandes promessas da música lusófona. Aos 33 anos, prepara-se para dar um passo importante na carreira: a edição, já esta sexta-feira, 21 de outubro, de um primeiro álbum completo.
Intitulado Moxi, o disco, editado por uma major (Sony Music Portugal), foi composto ao longo de dois anos. Tem como produtores executivos Kalaf Epalanga, um parceiro de longa data, e o britânico Paul Seiji, ambos peças centrais da equipa que, nos bastidores e nos estúdios de gravação, foi ajudando Dino D’Santiago a projetar-se em discos como Mundu Nôbu (2018), KRIOLA (2020) e BADIU (2021).
Novo caminho para a música de Toty Sa’Med, menos acústico e menos ancorado na combinação voz-violão, mais expansivo e dançante (oiça-se “Ndenge” ou “Bem Bom”), Moxi é um caldo que aromatiza ritmos africanos como o semba, a kizomba e o kuduro com batidas eletrónicas e com o que se convencionou chamar soul digital e R&B contemporâneo. É, em suma, um disco que procura conciliar tradição e modernidade, em busca de uma fórmula musical nova mas com um balanço rítmico reconhecível, geograficamente situado e descentralizado face à dominadora pop anglo-americana.
A poucos dias de revelar este primeiro álbum, que apresentará ao vivo no Lux Frágil, em Lisboa, na próxima quinta-feira (27 de outubro), Toty Sa’Med conversou longamente com o Observador, sobre um álbum que é como “um bom calulu” (termo que explica) e que o apresenta em “todas as suas nuances”, sobre a “família musical” que tem com Kalaf, Dino D’Santiago, Paul Seiji e Nayela, sobre como Luanda “respira kuduro quase da mesma forma com que respira jazz”, sobre uma “nova Lisboa” que é “bonita” e “romântica” mas que esconde uma “cortina de fumo” e sobre uma Angola sem “transparência e credibilidades nas instituições”.
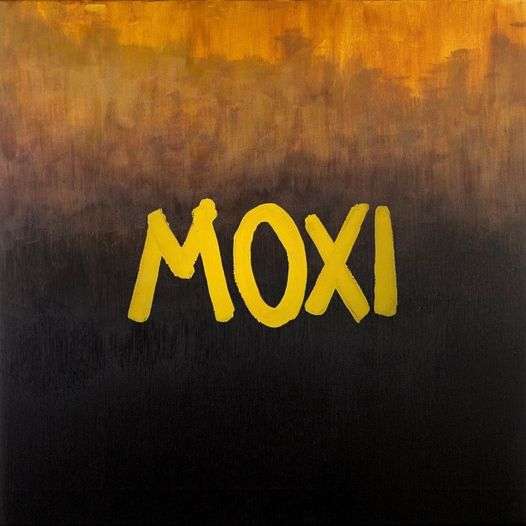
A capa do álbum de Toty Sa’Med
“O Dino é um ser especial, tem a sua história. O efeito que vou causar nas pessoas depende da minha, do que tenho para dizer”
Escreveu a propósito deste disco: “é como dar à luz a todas as minhas nuances enquanto ser humano”. Isto não o assustou um pouco, a missão de mostrar um retrato fiel e completo de si, nesta espécie de carta de apresentação que é um primeiro álbum?
Não, porque exprimir-me é uma necessidade. Mostrar quem sou não deixa de ser uma necessidade. Esse manifesto é um bocado um exercício de liberdade. Na verdade, é sempre assustador mostrarmos as nossas verdadeiras facetas mas sinto-me confortável porque tenho esta necessidade de exprimir-me e de mostrar quem sou.
Perguntava-lhe isto porque diz-se muito que a primeira impressão é muitas vezes a mais importante. E se calhar neste caso pode aplicar-se, porque os discos que fizer depois e o caminho que seguir futuramente serão também vistos e analisados na relação que têm com este ponto de partida, que é o primeiro álbum. Pode vir a ser feita essa comparação e é algo que pode também moldar o que será o seu futuro como artista.
O que sinto é responsabilidade de causar uma boa primeira impressão. E esta responsabilidade faz parte do que é o trabalho de um artista. O medo do julgamento, tanto em relação a este álbum como em relação ao que virá a seguir, é natural mas também é bom para manter o foco e a qualidade do que eventualmente venha a fazer.
Essas “nuances enquanto ser humano” que refere, descobriu-as também através da música? Sei que começou a ouvir música muito cedo. As canções de outros e as canções que depois foi começando a escrever foram importantes para essa descoberta que foi fazendo, ao longo do tempo, sobre quem é e de onde vem?
Sim. Muito dessa descoberta é sonora, não é só lírica, não é só com palavras, não é só com ideias, mas também com os sons que me compõem como artista e que me fizeram como artista. Essa descoberta é principalmente sonora, na verdade — é rítmica, sonora e estética. Tive uma certa dificuldade ao princípio, porque eu próprio tive de me conhecer, de me voltar para mim mesmo. E aconteceu muitas vezes duvidar de mim. Esse processo é obviamente catártico, mas é também um processo muito duro de introspeção, de se olhar para si mesmo, de se olhar para as falhas e defeitos, que no final de contas acabam por ser só características de que gostamos menos. Essa dinâmica de nos conhecermos é importante.
Pergunto isto porque não faço ideia do que é escrever uma canção, mas imagino que quando pensa sobre uma canção que vá fazer, reflita sobre o que quer dizer às pessoas. Esse exercício não o ajudou a perceber o que tinha dentro de si, o que gostaria de dizer aos outros, quem é como pessoa?
Sim. Essa é também uma mensagem que queremos passar a quem ouve, porque queremos fazer a diferença no mundo com as nossas palavras e as nossas músicas. A música não serve só para criar sentimentos, mas também para criar pensamentos. Quando compomos uma canção, temos essa intenção de transmitir uma mensagem — que muitas vezes está subentendida na música, não está explícita, mas há uma sugestão feita em várias dimensões. Essas dimensões podem às vezes ser apenas o próprio artista propor-se a falar de certa coisa, e isso já é uma mensagem, de alguma forma. Sinto muito essa vontade de gerar pensamentos nas pessoas, de gerar ideias.
Este disco tem como produtores executivos o Kalaf Epalanga e o Paul Seiji. Porque escolheu estes dois parceiros para trabalharem consigo neste álbum? E o que acrescentaram às suas canções e ideias?
Digo sempre que nós escolhemo-nos uns aos outros. Não fui só eu que decidi que eles seriam os meus produtores executivos, foi também a vida que me empurrou um bocado para o caminho do Kalaf, desde 2015 que colaboramos e desde então fomos fazendo parcerias, porque o Kalaf já é produtor executivo do meu EP [Ingombota, 2016]. E o Paul Seiji, sendo também uma pessoa que o Kalaf trouxe para o nosso meio, já fez alguns trabalhos, nomeadamente o disco Mundu Nôbu do Dino [D’Santiago] — o Seiji já é o produtor desse disco, tal como dos outros [álbuns] a seguir [do Dino].
O Kalaf é, no fundo, uma figura muito central por unir essas pessoas todas. A influência do Dino na minha musicalidade, e a influência da minha musicalidade nos discos do Dino — porque participei em todos os discos do Dino produzidos pelo Kalaf — acontece também porque o Kalaf juntou todo o mundo, trouxe o Seiji, levou-me para a equipa para trabalhar com o Dino e trouxe a Nayela também para trabalhar com o Dino. Agora eles produzem também executivamente, e musicalmente, a Nayela. Criámos aqui uma família musical.
São, de factos, duas pessoas musicalmente próximas do Dino D’Santiago, tal como o próprio Toty Sa’Med. Ter estas duas pessoas a trabalhar consigo faz com que tenha expectativa que este álbum possa ter uma visibilidade próxima? A carreira do Dino D’Santiago deu um salto importante, de notoriedade, depois de ter começado a trabalhar com o Kalaf e o Seiji.
Eu gostava, porque o Dino tem de facto uma carreira incrível e uma projeção incrível em Portugal e não só, também noutros países de língua oficial portuguesa. Mas também tenho de perceber que o Dino tem a sua história e que ele próprio, independentemente do Seiji e do Kalaf, construiu o seu caminho porque é um ser especial. Não que eu seja menos ou mais, mas creio que o efeito que vou causar nas pessoas, como ser humano, não só como artista, também depende muito da minha história, do que tenho para dizer e do momento em que o digo ser mais ou menos propício a essa projeção. Acredito que vai depender de alguns fatores. Mas gostava, porque admiro muito a carreira do Dino.
Não conheço a fundo o percurso do Paul Seiji, mas li numa entrevista do Dino D’Santiago que ele foi importante na fase inicial dos Buraka Som Sistema. Acho curiosa a presença, tanto nos discos do Dino D’Santiago como neste seu álbum, do Paul Seiji, que é um produtor britânico a trabalhar em todo este universo de música lusófona. É alguém que, pela visão exterior, de fora, consegue mergulhar nestes universos e acrescentar coisas?
Sim. O Seiji tem uma bagagem de produção muito grande. Ele vem de um universo da eletrónica de Londres. Quem conhece a eletrónica de Londres, sabe que é um outro mundo musical. Essa experiência, e também a própria aptidão natural, musical, do Seiji, fazem dele uma pessoa que se consegue adaptar a qualquer estilo musical. E no fundo o que ele traz é também uma frescura, um som internacional. De repente, estamos a soar a artistas internacionais graças também ao Seiji e à visão do Kalaf. Não tirando mérito a nós próprios, artistas, eles trazem essa mundividência musical. E acho que o Seiji acrescenta especialmente com essa visão de quem já viu músicos de altíssima qualidade em todas as partes do mundo, pelos caminhos que fez como artista, músico, membro de banda, produtor.
Antes de falarmos do disco, gostava de lhe perguntar: como aconteceu aquele encontro com a Joss Stone, que resultou num dueto já há uns bons anos?
A Joss Stone estava a fazer a Total World Tour e ela colabora com um artista de cada país. Ela pesquisou artistas angolanos e gostou muito do que eu tinha apresentado, particularmente do meu EP Ingombota, que era o que tinha na altura para apresentar. Ela gostou de muitos artistas, de alguns artistas, e foi pesquisando com pessoas no local, perguntando ‘qual o melhor artista para fazer este dueto comigo?’. Toda a gente sugeriu que fosse eu a fazer o dueto com ela. E ela chamou-me para o dueto. Fico muito honrado, porque a Joss Stone, sendo a artista que é, podendo escolher vários artistas angolanos com enorme talento… para mim é um dos marcos mais especiais da minha carreira, até aqui.
Passaram-se quase cinco anos desde que esse dueto foi publicado na internet. Não teve a tentação de logo na altura fazer e gravar um álbum, para capitalizar o embalo desse dueto? Ou até, no ano seguinte, o embalo de ter sido escolhido pelo Salvador Sobral para atuar no EDP Cool Jazz, que também tornou o seu nome mais falado em Portugal.
Eu na verdade tentei, mas a vida às vezes prega-nos algumas surpresas. Infelizmente não consegui lançar um álbum a tempo de capitalizar. Acho que as coisas também acontecem quando têm de acontecer e acredito que o melhor momento para isso acontecer [lançar um primeiro álbum] deve ser este, por isso é que aconteceu agora. Acho que sim, poderia ter feito, mas por um lado fico feliz de ter adiado, porque consegui fazer um álbum que em minha opinião, comparado com as músicas que tinha e que poderiam ter sido lançadas na altura, é mais intemporal e mais contemporâneo. Portanto, acho que não perdi assim tanto. Poderia ter capitalizado, mas fica a ideia de que se não aconteceu foi porque não era para ser.
“Luanda respira kuduro quase como respira jazz, kizomba como afro-house e música tradicional”
Centrando a discussão neste álbum novo: quando começou a fazê-lo e como, e já agora onde, foi dando forma ao disco? E como é que as canções foram nascendo, qual era o método para as compor?
O método foi muito variado. Eu fui mudando consoante o tempo, porque o álbum foi escrito em dois anos. Nas duas primeiras canções, ainda estava em Luanda — comecei os rascunhos de duas ou três primeiras canções em Luanda. E na verdade foi um bocado a experimentar, também mediante as influências que tinha levado para a música do Dino [D’Santiago] e que tinha recebido do próprio Dino. Estava a experimentar coisas novas fora do meu universo mais acústico. Antes de aprender a tocar guitarra, fazia beats de kuduro e kizomba. Então, meio que fui buscar também essa minha bagagem de música mais urbana, mais eletrónica. Tentei experimentar um bocadinho nos finais de 2019.
Quando vou para Lisboa, para gravar e pôr em prática algumas dessas ideias e rascunhos que tinha, entra em cena a pandemia. E a própria ideia que tinha do álbum muda, porque o tempo passou, a janela que tinha para gravar passou — não havia estúdios abertos, estávamos confinados — e sento-me em casa e começo a fazer um novo álbum.
Deixou tudo o resto para trás?
Aproveitei um ou dois rascunhos anteriores, mas aproveitei os momentos de solidão da quarentena para me exprimir. Acabaram por surgir as canções do álbum e não só, fiz mais canções que não entraram para o álbum por vários motivos — mas sobretudo porque estas faziam mais sentido juntas. No fundo, o que fazia era aproveitar a solidão da pandemia e tentava canalizar toda a tristeza, toda a alegria por estar vivo e toda a raiva por tudo o que estava a acontecer, pelo sistema não estar preparado para isto e estar a colocar os artistas ainda mais para baixo. Daí, este disco ser um manifesto de amor a Luanda, à minha cidade, mas também de raiva por todo o que estava a acontecer. E no fundo acaba também por ser um manifesto de gratidão pelo que Lisboa me tem dado, em termos de relações interpressoais e de oportunidades. É um pouco dessa magia. As últimas três canções que ainda entraram no álbum, fiz, se não me engano, no writing camp do Dino D’Santiago para o disco dele Badiu.
Onde foi esse writing camp, essa espécie de residência artística para escrita e composição?
Ficámos um mês no meio de Sintra, na serra de Sintra, isolados. Havia dias que não havia trabalho para fazermos com o Dino. Ficava com o dia livre, não tinha para onde ir — porque aquilo é bem longe de tudo — e fiz as últimas duas ou três canções nesse writing camp. Mais tarde acabaram por acontecer algumas alterações, algumas trocas de versos, mas foram trocas muito mínimas. Mas basicamente o processo foi muito solitário. Depois a Nayela entrava, também. A Nayela está sempre comigo, até porque partilhamos vida, e por isso acaba sempre por participar, dar opinião, escrever, sugerir versos. E o Kalaf, que é um parceiro de escrita já desde o “Brincar de Casamento” da Sara Tavares, acaba por ser não só o meu produtor executivo mas também o meu parceiro de escrita. Então é um bocado disso tudo.
Algumas canções surgem também na ressaca do Badiu, por exemplo a “Antes e Depois” era um instrumental que compusemos para o Dino mas que o Dino não cantou, e sugeriu que eu cantasse naquele instrumental. Cantei em cima, improvisei uma letra, e acabou por se tornar a “Antes e Depois”. O disco é um pouco resultado dessa partilha, em alguns casos, e também dessa solidão, no caso das canções feitas anteriormente.
Sobre estas canções novas, referiu querer transformar “cheiro em som, em cor”, “sentimentos em ritmos” e também referiu a vontade de “traduzir o contraste de Luanda em música”. Que contraste de Luanda é esse, que quis refletir na sua música e neste disco?
Luanda é uma cidade bem interessante, porque Luanda respira kuduro quase da mesma forma que respira jazz, respira kizomba da mesma forma que respira o afro-house e a música tradicional angolana. Cada beco tem um som e um cheiro. Essas imagens e essas mensagens e sons, esses impulsos, no fundo, que Luanda nos vem dando, também ficam no nosso subconsciente.
Quem já foi a Luanda sabe o que estou a dizer: é uma mistura de cheiros bons e maus, de sons bons e maus, de ruído e harmonia. Faz com que deixe de ser um exercício racional e passe a ser emocional, transformar aqueles sentimentos todos na minha linguagem, traduzir tudo aquilo para a minha linguagem musical. Por isso é que no álbum encontras uma música com uma harmonia jazzística mas em que estou a cantar como se fosse kuduro, ou um tema em que as harmonias da guitarra estão a ir buscar uma bossa-nova mas a cadência da música vai mais para a neo-soul ou para o afro-pop. Essa mistura compõe toda a minha experiência em Lisboa e essa transição para Lisboa, porque o álbum também bebe um bocado daquilo que são os novos sons de Lisboa.
Usou uma experiência que achei curiosa, por não conhecer: classificou este disco como “um bom calulu”. O que é um calulu?
O calulu é um dos pratos típicos da zona de Luanda. É, digamos, um guisado que pode ter peixe ou carne como base, com óleo de palma, beringela e uma folha que é parecida com espinafre. Este calulu é o prato que comemos normalmente ao fim-de-semana. Não podemos comer nos dias de semana porque é um prato muito pesado e depois não conseguimos voltar para o trabalho. É um prato de mistura, de mistura de folhas com óleo de palma, com sementes de abóbora, com peixe ou carne, com beringela, com quiabo, é uma mistura de muita coisa. Descrevi o disco como um bom calulu porque é como aquela comida que reconforta, completa, que nos deixa mesmo cheios.
A “cortina de fumo” da “nova Lisboa”: “A música e o meio artístico não são um reflexo da realidade”
Este parece ser um tempo em que muitos artistas procuram um diálogo consciente, de relação com a tradição musical dos sítios de onde vêm e com as suas raízes.
Sim.
Uma relação com esse património passado que em alguns casos pode ser de rutura, de acrescento, mas que parece ser consciente e intencional. Revê-se nisto? E concorda que estamos a viver uma fase da música em que os artistas parecem mais interessados em perceber de onde vêm, o que os precede e o que podem acrescentar a isso mesmo que os precede?
Acho que é evidente. E é evidente também a tradução dessa nossa origem para a linguagem atual. Tentamos sempre contextualizar as nossas memórias e a nossa história cultural, colocando-as nos tempos de hoje. Usamos os recursos e as ferramentas de hoje para traduzir esses sentimentos. É uma forma, também, de manter a cultura viva, a nossa ancestralidade viva. Independentemente de onde viermos, temos sempre uma ancestralidade que queremos manter.
Diria que vivemos numa era quase de um novo renascentismo, porque vamos buscar essa tradição e quase que num exercício automático estamos a renová-la, para podermos sustentá-la. Há certas coisas que se fossem apresentadas exatamente como nasceram, talvez perdessem uma certa relevância nestes tempos, principalmente por a linguagem estar datada ou não ressoar no público. Sentimos essa necessidade porque no fundo queremos ser compreendidos e queremos ser ouvidos.
Disse uma vez numa entrevista ao DN: “Fui-me apercebendo que para ir para a frente com a música, tem de se ir à raiz. Eu estava a ir para a frente sem voltar para trás”. Recuemos uns anos, a esse período. Quando voltou para trás e foi à procura do património de canções de Angola, da história da música angolana, o que o impressionou e ainda o impressiona mais?
Há muita riqueza na música angolana, principalmente sonora. Quando digo sonora, refiro-me desde à língua — às línguas angolanas, na verdade — até ao tom de guitarra, à própria masterização das músicas e à mistura dos instrumentos. Há muita beleza nisso. Encontro aí um propósito. Porque somos invadidos por tudo o que está a acontecer no primeiro mundo cultural, que é EUA, Inglaterra etc, e somos meio que condicionados a viver de acordo com esses códigos, com os códigos do que se considera cultura de primeiro mundo. Depois, quando olhamos para nós mesmos e para o que podemos oferecer a esta cultura, ficamos sem argumentos se não tivermos aquilo que faz de nós o que somos. Então, voltar para trás era obrigatório porque não havia mais espaço para avançar sem a nossa bagagem, sem conhecer aquilo que é nosso. Foi um exercício obrigatório, mesmo, não havia outra opção.
Consegue apontar algumas das principais referências que tem, seja pela sonoridade seja pelo posicionamento artístico? Músicos que admire e com os quais se identifique, com os quais sinta alguma afinidade em termos de percurso?
São muitos, é bem difícil porque fica sempre a sensação que estamos a deixar alguém muito importante de parte. Poderia falar em artistas angolanos que, cada um à sua maneira e em conjunto, alimentaram a minha visão sobre o que quero fazer com a música traduzindo-a para os tempos atuais. Desde Teta Lando, David Zé, Óscar Neves, Artur Nunes, Urbano de Castro, André Mingas, Ruy Mingas e principalmente o Bonga. Filipe Mukenga, também. Isto só falando de artistas angolanos, da sua musicalidade e em como pegaram na tradição e a expandiram para os seus universos.
Mas também há artistas internacionais que nunca perdem uma jovialidade, nunca perdem uma frescura, como o Djavan e o Stevie Wonder, por exemplo, que ajudaram a compor muito a minha forma de ver a música. E depois deles chegaram outros artistas como o D’Angelo, que também influenciou muito a minha forma de pensar, sobretudo pela mistura que fez do jazz e da soul com hip-hop — é o que tento fazer um bocado com o semba e o jazz, que são coisas mais eruditas, ligando-o ao kuduro, à kizomba e ao semba mais moderno. Os meus pais também me ajudaram a construir essa mistura. O meu pai, por exemplo, tem um bar. E aprendi a ouvir música em casa e no bar do meu pai. Naquele bar, tocava-se desde kizomba ao jazz mais standard, portanto ajudou a ampliar horizontes.
Já o vi descrever Lisboa como “uma cidade de confluências de culturas”, como “um ponto de encontro das culturas da lusofonia”. Mas é também uma cidade que lhe aviva algumas memórias menos felizes enquanto angolano, por toda a história entre Portugal e Angola? Sente ainda essa divisão, alguns sentimentos contraditórios relativamente a Portugal e Lisboa?
Infelizmente ainda sinto. Não suplantam os sentimentos bons, caso contrário nem faria sentido continuar cá — e sou muito feliz em Lisboa — mas existe ainda, infelizmente, alguma tensão. Uma tensão que é traduzida ainda na forma como são vistas certas pessoas de fora, no meu caso em específico um angolano, um homem negro e de origem africana. Esses sentimentos obviamente são alimentados também por algumas reações externas que não são muito felizes, às vezes, mas que fazem parte da experiência. Gostaríamos que não fizessem, mas essa experiência também nos ajuda a superarmo-nos todos os dias. Infelizmente, pela força de termo de ser melhores do que deveríamos ter de ser, para poder suplantar algumas barreiras.
Digo sempre que Lisboa como um todo, e também institucionalmente, poderia assumir um bocadinho mais esse papel de confluência, de ligação de culturas que divergem muito e que quase só estão unidas por falarmos todos português. Mas acho que prefiro não focar a minha experiência na parte má. Já passei por coisas bem complicadas, bem difíceis de digerir, enquanto africano e afro-descendente, mas ainda assim prefiro focar-me no bom que Lisboa me deu — porque se não a experiência fica manchada e não consigo tirar proveito do que Lisboa me apresenta: os artistas, os amigos, a vida em si, as oportunidades.
Pergunto-lhe isto porque, devido às manifestações musicais, tem-se falado muito sobre a ideia de existir uma “nova Lisboa”, com uma convivência mais pacífica entre pessoas de diferentes ascendências. Na música vê-se essa celebração de diversidade e multiculturalidade. Mas isso traduz-se realmente, inteiramente, para o tecido social, para o dia-a-dia, para as ruas?
Acho que a música também é um veículo para uma vida melhor, para se vislumbrar uma vida melhor, mas a música e já agora o meio artístico no geral não são um reflexo da realidade. É uma bolha que normalmente até está coberta de alguma inocência, digamos assim. Vemos muitas vezes artistas, e artistas que estão a começar, que não passam por essa realidade, não têm a experiência social e a experiência económica que a maior parte dos afro-descendentes tem — gente que na sua maioria já é nascida cá, já são africanos-portugueses de segunda ou terceira geração.
A verdade é que este nosso meio, que é um meio bonito, até, sugere que está tudo bem — quando depois no dia-a-dia, no transporte público, ainda existem disparidades. Mesmo no dia-a-dia, na forma como as instituições lidam com as pessoas negras em Portugal, ainda há uma disparidade, infelizmente, e não podemos ignorar isso. Honestamente, acho que existem pessoas que têm o seu foco nisso, em expor essas desigualdades, mas ainda são vistas como pessoas que apelam à distância entre as pessoas, à diferença entre as pessoas. No fundo é um bocado isso: espero que Lisboa, de forma geral, se encontre na sua humanidade para que se dê voz a essas pessoas que têm denunciado essas desigualdades. Para que possamos conversar sem medo, sem medo de expormos as nossas feridas e as nossas falhas, para que também possamos evoluir como sociedade. Uma vez que me mudei para Lisboa, também me sinto parte dessa sociedade lisboeta. E sinto que embora seja parte dessa parte bonita e romântica do que é Lisboa, sei que por trás da cortina acontecem muitas coisas que não são muito boas.
Estava a lembrar-me do Chullage, que tem uma perspetiva muito crítica sobre algum otimismo que existe em torno desta ideia de uma Lisboa que abraça as diferentes músicas e que, por causa disso, também abraça as diferentes cores de pele. Ele defende que há quase um colonialismo disfarçado nesta aceitação da música negra, que se abraça “a textura sónica da Lisboa africana” sem se abraçar “a pele social da Lisboa africana” — os negros e negras que vivem em Lisboa. Fora da música, esses espinhos não são ainda demasiado visíveis, demasiado evidentes, para que se celebre esta comunhão que acontece na música?
Sim… falamos também de uma certa elite musical dessa Lisboa que é mais misturada. Há um certo elitismo. Porque os os rappers e os rapazes que fazem kuduro e afro-house a partir das periferias, dos bairros sociais, e que expõem isto, não têm a mesma visibilidade [de outros artistas afro-descendentes e africanos em Portugal]. Mesmo muitas vezes artistas como o Dino D’Santiago, que têm letras mais incisivas… essas letras mais incisivas não têm a mesma visibilidade das letras de canções de amor ou que apelem à união.
É normal que vivamos nessa bolha, porque depois a comunicação social, que também tem o seu papel nessa união, usa a narrativa de que porque existem artistas como o Dino, e eu também me posso incluir como artista afortunado pela visibilidade… existe toda uma cortina de fumo onde a luz não passa. O que quero dizer com isto é: sim, existe um trabalho de humanização necessário nas pessoas que não estão na música, que não estão nas artes, não estão nos desportos. É preciso, para que a sociedade também evolua no seu todo e comece a olhar e a preparar também as pessoas africanas para um futuro mais próspero fora dessas áreas da música e do desporto. Porque há um ciclo de pobreza, há um ciclo de baixo nível social, de baixa escolaridade, que está associado a essa discriminação e a essa gentrificação.
Não consegui evitar pensar neste paradoxo: um país e uma cidade que aparentemente abraçam mais a multiculturalidade e a diversidade na música são também o país e a cidade onde também se vota em alguém que sugere que uma deputada negra que é portuguesa e guineense devia ser “devolvida ao país de origem”. Esta nova Lisboa e este novo país que se celebram na música, devido a uma maior visibilidade de artistas negros, parece uma estrada que não se cruza totalmente com o próprio país e com a realidade social.
Sim. Acho que como artistas temos voz e precisamos de mudar essa narrativa. As pessoas acreditam realmente nessa divisão porque também quem cria divisão, quem aposta na divisão como forma de poder, fala o que essas pessoas e votantes querem ouvir, sabem falar para essas pessoas. Acho que também temos de ser inteligentes: para podermos chegar a essas pessoas, temos de saber falar a língua dessas pessoas e conversar, estar aberto para a conversa.
Há um risco de pensamentos extremistas e racistas crescerem, mas acho que quanto mais visibilidade dermos a esses pensamentos mais divisórios, mais força lhes estamos a dar. O meu foco é na minha cultura, na cultura africana, porque sou angolano nascido em Angola mas o meu pai é são-tomense, a minha bisavó é de Cabo Verde, a minha trisavó é do Brasil… tenho um pouco uma cultura negra que vem de vários sítios. Há uma diáspora africana que também mora em mim. O meu foco também é nisso, mais do que nessa divisão, porque não me identifico com o discurso. Portanto, para mim falar nisso é um bocado perder tempo, prefiro concentrar-me no que fala com a minha alma.
“Em Angola, há uma continuidade. A maior abertura que existe não foi dada, foi conquistada”
Está inserido numa produtora chamada Kiôlo, que, pelo que percebi, não é apenas uma produtora. O que é exatamente esta Kiôlo, que casa é esta em que está?
A Kiôlo é uma casa fundada pelo Kalaf e pelo Seiji e é também um hub criativo, porque já fizemos discos, já produzimos concertos, já fizemos produção de música para filmes e para peças de teatro… a Kiôlo no fundo é uma casa criativa que tem como base essa relação que o Kalaf tem com os seus. No fundo, o Kalaf juntou toda a gente na Kiôlo porque é o que ele sabe fazer: juntar pessoas.
E é uma casa, de alguma forma, com uma missão artística. No site da Kiôlo, alude-se a um trabalho de síntese do histórico e contemporâneo, a fazer-se uma ponte entre culturas de uma nova forma e a trazer-se histórias do “nosso passado” à vida através de plataformas e meios modernos. É um pouco o que falávamos sobre o seu próprio disco. É portanto uma casa com essa missão de relacionar e contextualizar tradições de novas formas.
Exatamente, é exatamente isso. E isso traduz-se também nos artistas que a Kiôlo produz, como o Dino, a Nayela e eu próprio. Vamos beber obviamente às nossas tradições, à nossa ancestralidade, mas a nossa música é feita numa plataforma acessível às novas gerações, porque temos essa missão de criar essa ponte entre o novo e aquilo que nos fez.
É inevitável fazer-lhe duas ou três perguntas sobre a situação em Angola. Escreveu no Twitter, a propósito das eleições recentes: “a falta de transparência e credibilidades nas instituições está evidente”. O rumo do país no pós-José Eduardo dos Santos desiludiu-o?
Acho que desiludir não é a palavra, porque na verdade é uma continuidade do que o José Eduardo dos Santos fez. Quem colocou o João Lourenço no poder, e quem construiu a imagem e o modus operandi do MPLA, foi o próprio José Eduardo dos Santos. Existe sim um eduardismo versus um lourencismo, mas não creio que os dois fenómenos tenham origens diferentes e não creio que seja assim tão divergente. Há uma continuidade, o presente desliga-se um pouco da fonte mas segue a mesma lógica.
É uma questão em que pensa muito, o que pode fazer um cidadão angolano que vê essa falta de transparência e credibilidade nas instituições do seu país?
Sim. Nós, os jovens angolanos, queremos muito uma Angola melhor. Há gente a emigrar e ninguém o faz porque prefere necessariamente viver noutra cidade e noutro país. Fazemo-lo porque é muitas vezes necessário trocarmos de base para podermos desenvolver o que queremos fazer na vida, desde criar os nossos filhos até às nossas atividades artísticas, laborais, profissionais, técnicas, etc, com as devidas condições.
Acho que o que conseguimos fazer é criar alguma pressão ao governo, porque hoje em dia com plataformas digitais e redes sociais conseguimos criar mais pressão ao expor o que outrora estava camuflado. Isso gera alguma pressão porque há uma imagem que os governos não querem revelar. O que nos cabe neste momento, enquanto cidadãos angolanos, é fazer pressão, porque no final de contas também não estamos contra ninguém, estamos é a favor de Angola e queremos que o nosso país se desenvolva. Mas nós já identificámos quem e qual é o problema…
Esta situação em 2022, esta fase presente da vida política e social de Angola, leva-o a ter vontade de que a sua escrita se torne cada vez mais socialmente interventiva, politizada? E vê essa insatisfação pessoal e política dos jovens angolanos refletida na música angolana que hoje se faz e na produção cultural de Angola?
Há muito mais música interventiva do que havia há 20 anos. A música interventiva fez sempre parte da história cultural angolana. Se olharmos para trás, temos artistas que já cantavam contra o colonialismo. Tivemos sempre isso, mas foi-nos tirado à força porque todo e qualquer músico que se manifestasse de forma contrária à narrativa de perfeição social e política de Angola era logo colocado de parte e prejudicado.
A música interventiva volta a ser uma das formas mais naturaIs de expressão em Angola porque no final de contas também há uma maior abertura — que não foi dada, não foi oferecida, foi conquistada. Não nos esqueçamos da pressão que pessoas como Luaty Beirão, e os 15 + 2, fizeram, para que a liberdade de expressão se tornasse mais efetiva em Angola. Não nos esqueçamos disso. Conseguirmos expressar-nos de forma mais livre em Angola é uma consequência dessa luta. É um reflexo disso, porque vontade de falar tivemos sempre. Oportunidade é que nem sempre.

















