Índice
Índice
Já se sabe que o Twitter é uma cloaca, mas tal como as análises químicas aos esgotos das cidades permitem apurar os comportamentos e consumos dos seus habitantes, também a análise dos tweets permite perceber o que realmente pensam as pessoas. Por exemplo, a 22 de Maio de 2020, a escritora feminista australiana Clementine Ford, comentando um artigo sobre disparidades de género nos cuidados dispensados às crianças pelos pais durante o período de confinamento imposto pela Covid-19, escreveu este tweet:
“Para ser sincera, o coronavírus não está a matar os homens suficientemente depressa”.
O tweet causou indignação suficiente para que o Melbourne City Council, que atribuíra uma bolsa a Ford, anunciasse que iria reapreciar a outorga à luz deste tweet e para que Ford, quiçá pesando a possibilidade de perder a bolsa, apagasse o tweet e admitisse que a formulação fora “irreverente”, embora reafirmando “a 100% a sua ira contra os homens explorarem o trabalho não-remunerado das mulheres”.
As reacções ao tweet de Ford prendem-se talvez com o mau gosto da alusão à Covid-19, pois a frase não traz revelações sobre o que Ford pensa dos homens. Há muito que a “escritora” é conhecida por tiradas como: “Os homens são escumalha e têm de morrer”, “Matem todos os homens”, “Os homens são nojentos e também violadores”, “Matem todos os homens e voltem a matá-los”. Por vezes, Ford é capaz de ser menos assertiva e abrangente na sua androfobia: quando escreve “Só queria que todos os homens estúpidos morressem”, parece admitir que alguns homens (mais inteligentes e sensíveis?) poderiam ser poupados. Quando questionada sobre o teor dos seus tweets, Ford deixou claro que “Estou a marimbar-me completamente para o facto de as pessoas acharem que eu odeio homens. Sei naquilo que acredito e se acham que devem pensar isso sobre mim, é lá com elas”.
Ford é autora de dois livros, Fight like a girl (2016) e Boys will be boys (2018), sendo o segundo sobre o problema da “masculinidade tóxica”, um conceito já com alguns anos que só recentemente ganhou curso nos media e se tornou alvo de aceso debate. “Masculinidade tóxica” é uma forma infeliz, inadequada e simplista de designar um problema real, mas não menos real é o “feminismo tóxico” de que os tweets de Ford são inequívoco sintoma. De resto, os tweets e as declarações de Ford revelam um primarismo de ideias, de argumentação e de estilo que sugere que na designação “escritora feminista”, o termo “escritora” deve ser entendido no seu sentido mais elementar – o de “alguém que escreve”.

Manifestação em prol do sufrágio feminino, Nova Iorque, 1912
Noutro domínio da luta pela justiça social e identitária, os dias mais recentes também trouxeram desenvolvimentos decepcionantes, quando as louváveis manifestações pacíficas denunciando a brutalidade policial contra afro-americanos nos EUA, espoletadas pelo homicídio de George Floyd, foram parcialmente subvertidas pela “brigada do ressentimento histórico”, que tentou pô-las ao serviço da sua agenda, que consiste em promover julgamento de figuras do passado por critérios do presente, impor uma versão reescrita e censurada da história e exigir compensações por injustiças ou iniquidades cometidas há muitos séculos. Nos EUA, esse desvio do movimento de protesto pela desigualdade de tratamento dos afro-americanos (em particular pelas forças da autoridade) visou figuras e símbolos associados ao ideário e ao establishment sulistas e aos “heróis” da Confederação (e, numa ira com mais de cinco séculos de recuo, também estátuas de Cristóvão Colombo em Boston e em St. Paul, que foram decapitadas ou derrubadas); na Grã-Bretanha passou por atirar para o porto de Bristol a estátua de Edward Colston, e pela vandalização de outras estátuas de figuras percebidas como estando ligadas à escravatura ou tendo uma mentalidade “racista” (uma definição suficientemente lata para incluir Winston Churchill); na Bélgica, pela vandalização de estátuas do rei Leopoldo II; e em Portugal, pela vandalização da estátua do Padre António Vieira no Largo Trindade Coelho, em Lisboa (ver PSP procura identificar autores de vandalismo em estátua do Padre António Vieira e Padre António Vieira defendeu os índios mas aceitou a exploração dos negros?). Entretanto, um artigo de opinião no Los Angeles Times levou a que a HBO removesse E tudo o vento levou (1939) dos filmes disponíveis no seu catálogo – anunciou-se que irá regressar, acompanhado de material de enquadramento que explique a época e o contexto que gerou o que é visto por muitos como um filme ostensivamente racista e que apresenta uma visão glamourosa da sociedade esclavagista do Sul dos EUA.
Nem o tweet de Clementine Ford nem a vandalização de estátuas de personalidades entendidas como símbolos de racismo nem a súbita necessidade de enquadrar E tudo o vento levou fazem parte de A insanidade das massas: Como a opinião e a histeria envenenam a nossa sociedade, de Douglas Murray (uma edição Desassossego, com tradução de Fernanda Semedo), uma vez que este foi editado originalmente em Setembro de 2019, mas não faltam no livro exemplos de casos análogos, maioritariamente provenientes dos EUA e Grã-Bretanha.
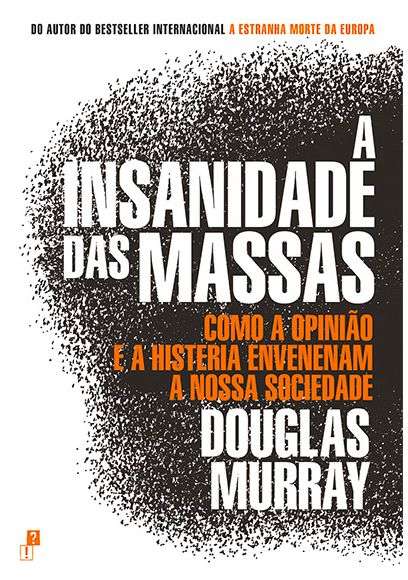
A capa do livro de Douglas Murray
Entre as causas identitárias que fervilham na actualidade, Murray, que é jornalista e editor associado da revista The Spectator, escolheu quatro com maior visibilidade e potencial polémico, tratadas nos capítulos “Gay”, “Mulheres”, “Raça” e “Trans”.
A inflamação da identidade
Douglas Murray não se opõe a que a sociedade continue a evoluir no sentido de se tornar mais inclusiva e deixar de discriminar pessoas com base no sexo, orientação sexual ou raça – seria paradoxal que o fizesse, já que é assumidamente gay. O que ele acha preocupante é que as “políticas de identidade” pareçam apostadas em “politizar absolutamente tudo. Transformar cada aspecto da interacção humana numa questão de política. Interpretar cada acção e relacionamento das nossas vidas ao longo de linhas que se alega terem sido esculpidas por acções políticas”.
Pode aqui fazer-se uma analogia com a frase do filósofo basco Fernando Savater que afirma que o “nacionalismo é uma inflamação da nação, tal como a apendicite é uma inflamação do apêndice”: também a definição de um conceito monolítico de homossexualidade ou a vandalização e destruição de monumentos e a censura de obras artísticas por serem supostamente racistas são inflamações do conceito de identidade.
Murray aspira a viver numa sociedade em que “se alguém tem a competência para fazer alguma coisa e o desejo de a fazer, então nada na sua raça, sexo ou orientação sexual deve impedi-lo. Mas minimizar a diferença não é o mesmo que fingir que a diferença não existe. Assumir que o sexo, a sexualidade e a cor da pele não significam nada é ridículo. Mas assumir que significam tudo será fatal”.
Mas é essa visão totalitária da identidade que hoje ganha terreno, fazendo com que a pertença a um grupo – racial, de género ou de orientação sexual – se sobreponha à individualidade e implique a adesão incondicional a todo o seu “credo”. É assim que Kanye West, por elogiar a comentadora (negra) conservadora Candace Owens, usar um boné com os dizeres “Make America Great Again” e exprimir apoio a Donald Trump, vê Ta-Nehisi Coates, num artigo na revista The Atlantic, compará-lo com Michael Jackson e negar-lhe a qualidade de negro – o título do artigo era “Não sou negro, sou Kanye: Kanye West quer liberdade – liberdade branca”.

Donald Trump e Kanye West, Sala Oval da Casa Branca, 11 de Outubro de 2018
Algo de análogo acontecera com Peter Thiel, co-fundador da PayPal: embora seja gay e tenha apoiado a luta pelos direitos gay, quando manifestou apoio a Donald Trump, a revista gay Advocate deixou de reconhecê-lo como gay. É suposto que os gays, como os negros, apoiem os Democratas, não os Republicanos, pelo que a Advocate questionou-o: “Quando ignoras numerosos aspectos da identidade queer, continuas a ser LGBT?”.
Também feministas proeminentes como Germaine Greer e Camille Paglia têm sido criticadas por outras feministas por não aprovarem as facetas mais radicais do feminismo.
Na perspectiva desta forma inflamada de identidade, só se é membro de um grupo minoritário se se aceitarem integralmente todos os dogmas e estereótipos vigentes no grupo a cada momento. “Se sair desses limites, já não é a pessoa com as características que tinha antes, mas alguém que pensa de maneira diferente da norma prescrita” (Murray). “Negro” e “gay” deixaram de denotar uma cor de pele ou uma orientação sexual para passar a ser uma ideologia política. Nos meios marxistas havia (há?) uma expressão consagrada para denotar quem se afasta da pureza das teorias de Marx ou não se conforma a 100% com a doutrina e orientação do partido em todos os domínios: “desviacionista”.
As culpas estão só num lado?
Os casos de hipersensibilidade identitária, tendências censórias e manobras para impor um pensamento único e monolítico que Murray apresenta no seu livro estão fortemente enviesadas: provêm quase todas do lado esquerdo do espectro partidário, embora a direita também tenha vindo a dar contributo não despiciendo para a “insanidade das massas”.
Nos EUA, grupos conservadores têm, desde há muito, tentado escorraçar dos curricula e bibliotecas escolares e das bibliotecas públicas livros que consideram contrários ao seu sistema de valores: A Origem das espécies (1859), de Charles Darwin, esteve banido no estado do Tennessee até 1967; romances tão “canónicos” quanto The catcher in the rye (1951), de J.D. Salinger, ou As aventuras de Huckleberry Finn (1885), de Mark Twain, conheceram, num ou outro período e num ou outro estado dos EUA, alguma forma de censura, pelo facto de as suas personagens principais manifestarem desrespeito pela autoridade, possuírem mundividências não-ortodoxas e empregarem linguagem grosseira. Louisa May Alcott (a autora de Mulherzinhas), comentara a propósito de As aventuras de Huckleberry Finn que se Twain “não fora capaz de pensar em nada melhor para contar às cabecinhas imaculadas dos nossos rapazes e raparigas, seria melhor que não escrevesse para eles”.
Com o aproximar do final do século XX, As aventuras de Huckleberry Finn, voltaram a ficar mal vistas, agora por razões de polaridade política oposta: a forma como o livro trata a questão racial deixara de ser aceitável e chegou a ser editada uma versão expurgada da palavra “nigger”.

Capa da 1.ª edição de As aventuras de Huckleberry Finn (1885), ilustrada por E.W. Kemble
Em 1981, no condado de Jackson, na Florida, houve uma tentativa para banir 1984 (1949), de George Orwell, por ser “pró-comunista” (e também por “conter trechos sexualmente explícitos”), o que é uma acusação desconcertante para um livro que o próprio autor definiu como sendo “baseado essencialmente no comunismo, pois é essa a forma dominante de totalitarismo; tentei sobretudo imaginar como seria o comunismo se se implantasse nos países anglófonos”. Na verdade, a maior falha que pode apontar-se a 1984 do ponto de vista literário é ser uma denúncia demasiado panfletária e esquemática do stalinismo…
A preservação da “identidade britânica” foi um dos argumentos centrais da campanha da direita e da extrema-direita a favor Brexit e os partidários deste não hesitaram em propagar fake news e em intimidar figuras mais visíveis do campo anti-Brexit (em particular deputados) com campanhas de difamação e ameaças de morte e violação – e, num caso extremo, houve quem passasse das palavras aos actos e assassinasse a deputada trabalhista Jo Cox, poucos dias antes do referendo.
Mais perto de nós no tempo e na geografia, no início de Junho, Francisco Mota, líder da Juventude Popular, exigiu a demissão da ministra da Cultura, Graça Fonseca, por esta não ter aceite um barrete que lhe foi oferecido por dois grupos de forcados amadores, de Évora e São Manços. O “incidente” teve lugar junto ao Teatro Garcia de Resende, em Évora, no âmbito de uma manifestação que apelava ao fim da proibição das touradas (decretada no âmbito da pandemia de Covid-19) e a recusa do barrete foi interpretada pela Juventude Popular como negação da “tradição e da cultura portuguesas” e como comprovativo da existência de “uma campanha intencionada de proibição e condenação das actividades tauromáquicas, da “imposição de sua agenda ideológica” e da existência de “uma ditadura de opinião”. Há que reconhecer que esta interpretação e estas ilações compete em sandice com o que a esquerda mais radical e desvairada é capaz de congeminar. Admitiria a Juventude Popular que Graça Fonseca se redimisse deste crime de lesa-pátria passando a apresentar-se nas deslocações oficiais ao estrangeiro vestida de forcado?

Pegar toiros bravos pelos cornos é, segundo algumas opiniões, componente essencial e inalienável da identidade portuguesa
Por outro lado, não é difícil imaginar o que diriam partidos e organizações “animalistas” se Graça Fonseca tivesse aceite o barrete e tivesse tido uma palavra de apreço por essa manifestação da “tradição e da cultura portuguesas” que são os grupos de forcados amadores: seria apontada como cúmplice de torturadores de animais e de promotores de espectáculos bárbaros.
O papel da academia
“O objectivo de largas secções da academia deixou de ser a exploração, a descoberta ou a disseminação da verdade. O objectivo tornou-se, pelo contrário, a criação, promoção e propagandização de uma marca peculiar de política”. Após denunciar as ciências sociais por cultivarem um “estilo deliberadamente obstrutivo empregado quando alguém não tem nada para dizer ou precisa de esconder o facto de que o que diz não é verdade”, Murray lança uma acusação mais geral e contundente: “a “claridade e a honestidade podem existir ainda nas ciências. Mas estão mortas – se é que alguma vez existiram – nas ciências sociais […] Quando é impossível perceber-se o que está a ser dito, pode dizer-se qualquer coisa e podem transmitir-se argumentos extremamente desonestos sob o disfarce da complexidade […] Se escrevessem claramente atrairiam mais indignação e ridículo. É também uma das razões para que neste campo seja tão difícil detectar o que é sincero e o que é satírico. As afirmações feitas pelas ciências sociais nos últimos anos tornaram-se tão desligadas da realidade que, quando os seus muros são atacados por intrusos genuínos, revela-se que não têm defesas, seja para os detectar, seja para os repelir”.
A tendência para que nas instituições universitárias – sobretudo na área das ciências sociais – a ciência dê lugar ao activismo tem vindo a alastrar e hoje há departamentos, centros de estudos e até faculdades inteiras que se tornaram tão dogmáticos, sectários e ideologicamente monocromáticos como a direcção ou o comité central de um partido político. Quando um estudo é identificado como proveniente de uma dessas instituições, fica a saber-se de antemão qual é a mundividência que o informa e até as conclusões a que irá chegar.
Mas não são apenas os docentes e as direcções das instituições universitárias que podem ser tomados pelo sectarismo: também os estudantes contribuem para converter os campi num campo de batalha das lutas identitárias. Foi assim que os conceitos de “trigger warning”, “safe space” e “apropriação cultural” se tornaram pretexto para censura e perseguição e se tornou corrente organizar protestos contra oradores convidados que defendam ideias diferentes do que é considerado “politicamente correcto” ou até contra professores que, em algum momento, tenham dito ou feito algo que possa ser considerado “ofensivo” por alguma minoria oprimida – e não há hoje quase nada que não seja passível de ser considerado ofensivo (ver Há turbas de linchamento à solta na Internet).

A academia idealizada por Raffaello Sanzio, 1509
A “disseminação da verdade” que Murray aponta como missão axial da universidade deixa de fazer sentido, já que “a ideia de que existe uma verdade única – a Verdade – e é uma construção do Euro-Oeste profundamente enraizada no Iluminismo, que também descrevia as pessoas negras e castanhas como sub-humanas e impenetráveis à dor. Esta construção é um mito e a supremacia branca, o imperialismo, a colonização, o capitalismo e os Estados Unidos da América são todos seus descendentes. A ideia de que a verdade é uma entidade que devemos procurar, em questões que põem em perigo a nossa capacidade de existir em espaços públicos, é uma tentativa de silenciar os povos oprimidos” – assim se exprimiram os alunos do Claremont McKenna College, em Claremont, na Califórnia, para justificar a sua oposição a que escritora Heather MacDonald, de conhecido pendor conservador (é autora do livro The war on cops: How the new attack on law and order makes everyone less safe e de artigos com títulos como “The myth of the racist cop” e “The myth of systemic police racism”), fizesse uma palestra na faculdade.
As ideias de Heather MacDonald são discutíveis – e George Floyd foi mais uma trágica e visível prova de que a existência de um racismo sistémico na polícia dos EUA não é um mito – mas, como escreveu Nicholas Christakis, professor na Universidade de Yale que se viu apanhado numa polémica ridícula centrada em disfarces usados nas celebrações do Halloween que poderiam ser interpretados como “apropriação cultural”, “o desacordo não é opressão. A discussão não é ataque. As palavras – mesmo provocadoras ou repugnantes – não são violência. A resposta ao discurso que não nos agrada é mais discursos”. A argumentação de nada valeu a Christakis nem à mulher, Erika, que se viram ambos forçados a resignar aos seus cargos, em resultado da onda de contestação.
A maior virtude da universidade deveria ser confrontar os seus alunos com ideias e realidades que são diferentes das suas e desafiam as suas “certezas” e preconceitos e lhes abrem os horizontes mentais, mas o escrutínio demencialmente minucioso dos discursos e as campanhas persecutórias converteram algumas universidades num casulo meticulosamente desinfectado, onde os alunos têm a garantia de, durante os anos que ali passarem, apenas estarão rodeados daquilo que já conhecem e aprovam. Em vez de experimentarem o todo (o “universus” na raiz etimológica de “universidade”), os estudantes aspiram a viver num pequeno jardim cercado e rigorosamente policiado.
Decapitar o passado
Murray tem também palavras – pouco simpáticas – para a obsessão do ajuste de contas com o passado, que assumiu, nas últimas semanas, a forma da destruição ou vandalização de estátuas de figuras históricas vistas como odiosas, mas que inflama as mentes da “brigada do ressentimento” há décadas.
Murray vê no “centro desta atitude […] o estranho instinto de vingança dos nossos tempos em relação ao passado, que sugere que sabemos ser melhores pessoas do que as pessoas na história, porque sabemos como elas se comportaram e sabemos que nos teríamos comportado melhor. Está aqui em funcionamento uma falácia gigante. Porque, naturalmente, as pessoas só pensam que se teriam portado melhor na história porque sabem como a história acabou. As pessoas na história não tinham – nem têm – esse luxo. Fazem escolhas boas ou más nos tempos e lugares em que vivem, dadas as situações e os costumes com que se encontram. Ver o passado com algum grau de perdão é, entre outras coisas, um pedido para ser, por sua vez, perdoado, ou pelo menos compreendido. Porque nem tudo o que fazemos ou tencionamos fazer agora sobreviverá necessariamente ao remoinho da vingança e do julgamento”.

Mais uma estátua a derrubar, à luz do revisionismo histórico promovido pela militância identitária? A figura aqui celebrada redigiu um dos mais populares manifestos em prol do colonialismo, do esclavagismo e da exploração e opressão dos povos de peles escuras pelos brancos, pelo que poderá ser visto como o Dr. Goebbels do expansionismo lusitano
Há quem tenha exprimido o seu repúdio pela vandalização de estátuas e monumentos vistos como símbolos de opressão considerando que “a violência contra as obras de arte é sempre um acto fascista, sejam quais forem as razões invocadas ou as bandeiras que se desfraldem para o levar à prática” (Vítor Serrão, em “Contra todos os iconoclasmas”, no Público de 13.06.20).
Para lá de a invocação do “fascismo” ser descabida – o iconoclasmo antecede em milhares de anos a emergência do fascismo e tem sido tão praticado à esquerda como à direita – o repúdio da vandalização de estátuas e monumentos não passa necessariamente pelo seu valor como “obras de arte”. Sem desprimor para os seus esforçados autores, as estátuas que foram alvo de vandalismo no âmbito das manifestações vinculadas ao homicídio de George Floyd têm modestíssimo valor artístico; são peças corriqueiras executadas por artífices competentes, mais próximas da categoria do “mobiliário urbano” do que das únicas e insubstituíveis criações saídas das mãos de Donatello, Michelangelo ou Rodin. O vandalismo contra estas estátuas é condenável por ser criminoso e anti-democrático: elas fazem parte do património público e da história de Bristol, Boston ou Lisboa e só as respectivas comunidades e os seus representantes democraticamente eleitos podem, eventualmente, concluir que a comunidade já não se revê nelas e optar pela sua remoção.
A estatuária pública não é sagrada, intocável e eterna – aliás, a história de quase todos os países está marcada por vagas de renovação de estátuas de figuras públicas, em função da sucessão dinástica, das marés políticas e, nos séculos mais recentes, da sensibilidade da sociedade, como aliás acontece com a toponímia. Basta pensar no que sucedeu à “arte pública” e à toponímia em Portugal e nas ex-colónias portuguesas após o 25 de Abril de 1974, nos antigos países do Bloco de Leste a partir de 1989 e no Iraque após o derrube de Saddam Hussein; é também previsível que, um dia que a dinastia reinante na Coreia do Norte seja apeada do poder, o país conheça uma reformulação profunda da sua “arte pública” e que as 40.000 estátuas hoje existentes de Kim Il-Sung sejam enviados para fundições e armazéns, ou simplesmente atiradas ao mar ou para um baldio.
Assim sendo, é lícito discutir hoje, em Portugal, na Europa e nos EUA, de forma informada e ponderada, se, face à evolução da sociedade, algumas personalidades históricas e símbolos exibidos no espaço público devem ser mantidos.
No caso da estátua do Padre António Vieira, o ataque carece de justificação ou fundamento, como argumentou Carlos Maria Bobone (ver Padre António Vieira, um “escravagista selectivo”?), quando da contestação à instalação da estátua, em Outubro de 2017. A este equívoco somam-se os de ver a escravatura como sendo uma invenção dos portugueses do período da expansão ultramarina e de imputar integralmente a estes a culpa por um tráfico, odioso, sem dúvida, mas que nunca poderia ter existido sem a participação activa dos africanos que capturavam e vendiam os seus semelhantes (ver Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas).
A vaga de vandalizações de estátuas que surgiu como desvio perverso das legítimas manifestações do movimento “Black Lives Matter” conheceu em Portugal uma manifestação colateral: na madrugada de 14 de Junho a estátua do Cónego Melo na rotunda de Monte de Arcos, em Braga, foi alvo de pichagens (ver Estátua do Cónego Eduardo Melo novamente vandalizada em Braga). Neste caso não parece estar em causa uma imputação de racismo, antes um aproveitamento do Zeitgeist para retomar a contestação a uma figura vinculada à extrema-direita e, alegadamente, à organização terrorista Exército de Libertação de Portugal (durante o PREC), que, aliás, tem servido para justificar vandalizações de que a estátua do Cónego Melo foi alvo desde que foi erigida em 2013. Pelas razões acima expostas, a vandalização é sempre condenável, mas tal não impede que os políticos e os habitantes de Braga possam discutir se se revêm no Cónego Melo e se a sua estátua deve ser apeada.
Na Bélgica as estátuas que se tornaram alvo da fúria dos sectores mais radicais das manifestações inspiradas pelo homicídio de George Floyd foram as do rei Leopoldo II. Algumas foram alvo de pichagens e uma em Antuérpia foi incendiada, o que levou a que o município decidisse removê-la, a fim de ser restaurada. O caso de Leopoldo II mostra como todos os casos devem ser considerados um a um em vez de serem varridos a eito numa vaga justiceira. O que Leopoldo II fez no Congo Belga – que tratou como propriedade pessoal e onde promoveu métodos brutais de exploração e repressão que se estima terem causado 3 a 10 milhões de vítimas, entre 1885 e 1908 – foi considerado reprovável pelo juízo ético do seu tempo, suscitando uma enérgica campanha de protesto, que mobilizou figuras como Roger Casement e Mark Twain e gerou pressão internacional suficientemente forte para que em 1908 Leopoldo II renunciasse à posse pessoal do “Estado Independente do Congo” e o transferisse para o Estado belga.

Leopoldo II como serpente que estrangula um colector de látex congolês, num cartoon publicado a 28 de Novembro de 1906 no semanário satírico britânico Punch
Ou seja, se a forma como Leopoldo II tratou os congoleses foi considerada inaceitável pelos critérios da época vitoriana, que era racista e eurocêntrica pelos padrões de hoje, não há grandes atenuantes para o seu caso e é perfeitamente legítimo que muitos belgas, seja qual for a cor da sua pele, considerem inadmissível que ela seja glorificada em monumentos públicos.
Já Winston Churchill é um caso diverso: ele disse e escreveu coisas que, aos olhos de hoje são classificáveis como racistas, mas que não se distinguem do sentimento geral vigente na Europa do seu tempo. Pelo mesmo critério, praticamente todos os europeus nascidos, como Churchill, em 1874, seriam também classificáveis como “racistas”. Churchill apenas se tornou num alvo neste episódio das “guerras culturais” por ser uma figura de grande notoriedade e porque, através do imenso volume de livros, artigos, diários, cartas e discursos que escreveu e dos testemunhos dos que com ele conviveram, conhecemos em detalhe o seu pensamento sobre inúmeros assuntos – o que poderia levar o Tribunal Popular do Presente a condená-lo também por misoginia e homofobia.
Na verdade, o “caso contra Churchill” tem argumentos mais fortes não no que ele disse ou escreveu mas num acto seu: quando ocorreu uma crise alimentar em Bengala em 1943, Churchill e o Gabinete de Guerra não permitiram que fossem encaminhados para a região alimentos provenientes de outras partes da Índia ou do Império Britânico, o que terá causado a morte de 2 a 3 milhões de indianos. Em 1943, a Grã-Bretanha travava uma luta mortal contra o Eixo, o que poderá justificar algumas decisões que, vistas à distância, parecem desumanas, mas pode perguntar-se:
1) se Churchill teria tomado decisão similar se as populações em risco de morrer à fome fossem brancas
2) se a sua mundividência racista não terá pesado nesta cruel decisão.
Porém, se formos escrutinar as palavras e actos das figuras históricas, nenhuma estátua ficará de pé, exceptuando, eventualmente, uma ou outra santinha, de preferência uma que tenha sido martirizada ainda muito nova, antes de ter tempo de lavrar opiniões reprováveis sobre africanos, ciganos, judeus ou malaios. Quando se exige a remoção das estátuas de Churchill por este ter sido racista, o ataque é menos contra Churchill do que contra o seu tempo. E ser-se “contra o passado” é uma atitude infantil, vã e estulta.
As reacções que se seguiram à vandalização da estátua de Churchill em Londres mostram que as interpretações simplistas e maniqueístas da história só podem produzir resultados ridículos. Houve grupos de extrema-direita (também eles “militantes identitários”, à sua maneira) que se dispuseram a fazer frente às manifestações “Black Lives Matter”, com o alegado propósito de defender de novos actos de vandalismo a estátua de Churchill (entretanto ocultada por tapumes) e outros monumentos que representam o passado imperial e a identidade britânica. Muitos destes contra-manifestantes perfilham ideários que são fascistas ou afins – na Grã-Bretanha da década de 1930, estariam com Oswald Mosley e a sua British Union of Fascists e empenhar-se-iam em que a Grã-Bretanha evitasse entrar em guerra com a Alemanha nazi. Churchill, como é bem sabido, tinha posição diametralmente oposta sobre pactos com Hitler e não só foi a figura de proa da luta contra o nazismo, como em Maio de 1940 decretou a extinção da British Union of Fascists e o internamento de Mosley e 740 dos seus apaniguados, que duraria praticamente até ao fim da guerra.

Oswald Mosley (à direita) e Benito Mussolini assistem a uma parada em Roma, 1932
Uma vez que a manifestação do movimento “Black Lives Matter” que deveria concentrar-se em Westminster junto à estátua de Churchill e ao Cenotáfio (um memorial aos mortos britânicos na I Guerra Mundial) foi desconvocada, os grupos de extrema-direita não encontraram escape mais apropriado para o seu fervor patriótico alimentado a cerveja do que atacar os polícias que lá estavam para defender os monumentos. Para coroar o desnorte, um dos contra-manifestantes de extrema-direita foi fotografado na nada patriótica acção de urinar junto ao memorial a um polícia apunhalado num ataque terrorista de inspiração islamita na Ponte de Westminster, em 2017. Nada mal, para quem entrou em campo para defender os valores britânicos de serem profanados.
Tão tolo quanto invocar um passado glorioso e idealizado para defender o nacionalismo, o isolacionismo e uma mundividência racista é julgar que as causas das minorias são promovidas ao lançar-se um véu de opróbrio sobre o passado da Europa.













