Índice
Índice
“Para mim, João Jorge nasceu na noite em que o mataram, nas hortas a caminho da Vila Chã. A minha avó materna dizia que, naquela madrugada, ouviu gritos vindos de perto do cemitério e, mesmo antes de ter ido à varanda, curiosa e apavorada e sem acender a luz, soube logo que acontecera uma grande desgraça. Até ao fim da vida, quando falava de João Jorge, repetia os passos daquela madrugada distante, ia até à varanda, apontava para o lugar onde antigamente ficavam as hortas e dizia que naquela noite amarga, enquanto lavava a loiça, ouvira uns gritos assustadores, como se estivessem a matar porcos. No dia seguinte — e disto lembro-me perfeitamente — carregada com os sacos de compras, ofegante e muito vermelha, nem esperou para entrar em casa: «mataram aquele teu primo, o João Jorge», disse.”
“Só aprendemos o escrever o romance que estamos a escrever”. A frase é de Neil Gaiman e não encontro outra que descreva mais fielmente o processo de escrita de um romance. Vamos aprendendo a escrever o romance à medida que o escrevemos e, quando chegamos ao fim, temos nas mãos um bolo e uma receita mágica que serve apenas para se fazer o bolo que já se fez.
Acredito que são os romances, e não os escritores, que têm uma voz. Quando um escritor diz que encontrou a sua voz, uma voz que aplica a todos os livros, penso sempre que encontrou uma fórmula ou uma bengala. Para mim, a questão fundamental é a de encontrar a voz daquele livro em particular: é uma voz cínica ou ingénua? Envolvida ou distanciada? Lírica ou crua? Descobrir essa voz – ou as vozes, porque o romance permite a convivência de múltiplas vozes – é como determinar o código genético de um romance.
Da não-ficção ao romance
No início, quando comecei a escrever este livro, pensei que seria um livro de não-ficção. Tinha muito por onde explorar: artigos de jornal, processos judiciais, testemunhos de familiares e amigos. Mas só após reunir uma parte significativa da informação é que percebi que os factos não eram suficientes para contar a história que eu queria contar: os factos que tinha não chegavam para um livro de não-ficção, mas abriam-me muitas possibilidades para um romance. A história de João Jorge, meu primo, assassinado em Fevereiro de 1985 numa azinhaga entre dois cemitérios, não podia ser contada apenas com aqueles factos. Porque uma história não é um conjunto de factos, mas a forma como eles se encadeiam. Percebi que se me ativesse ao encadeamento real dos factos estaria a contar uma outra história, paradoxalmente menos verdadeira.
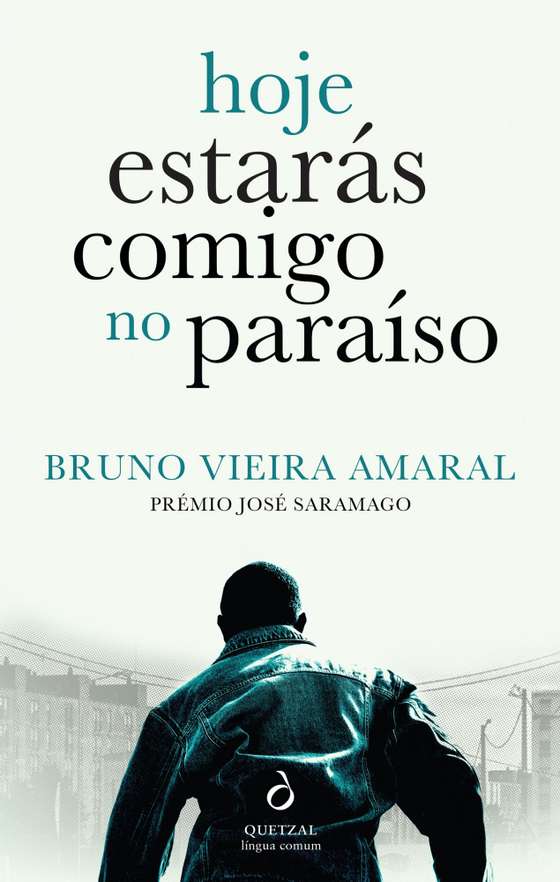
“Hoje Estarás Comigo no Paraíso”, de Bruno Vieira Amaral (Quetzal)
Há uma verdade à qual se chega pelo processo de investigação. É a verdade que se descobre. O entusiasmo provocado por essa descoberta é narcótico. Senti-o quando, após uma longa espera, pude consultar o processo judicial, quando encontrei a notícia da morte de João Jorge n’O Crime, quando tropecei num livro sobre o Bairro Operário de Luanda e me deparei com uma referência à minha tia, quando soube que, certa vez, um muito jovem João Jorge terá dito essa frase que me revelou uma parcela da sua personalidade que eu até aí desconhecia: “Cuidado que eu sou de Luanda”. Porém, a euforia dessas descobertas logo se desvanece. Apura-se a verdade material e depois não há mais nada. Fica por conhecer a verdade imaterial: a que interessa ao romancista. A esta só se pode chegar através dos trabalhos da imaginação. De início, parece-nos falsa, enganadora, porque o instrumento de que nos servimos para a construir é o engano, a ilusão. Mas, concluído o trabalho, não só nos encontramos mais próximos da verdade material como temos, pela primeira vez, acesso a essa verdade que os factos, isoladamente, não podem revelar.
Em tudo o que descobri sobre João Jorge, havia sempre algo de inapreensível, como se os factos que lhe eram atribuídos fossem o biombo atrás do qual se ocultava uma parte essencial daquele homem. Os factos interpunham-se entre mim e o meu personagem. Diziam-me: “João Jorge é aquilo que aconteceu”. Porém, ninguém é apenas o que lhe acontece. Até se pode dar o caso de alguém ser o contrário do que lhe aconteceu. O avesso dos factos é o território do romancista.
A voz do romance
“Nos dias seguintes, reli várias vezes as palavras do meu tio. Pela primeira vez, João Jorge não era apenas os gritos ouvidos pela minha avó na noite da sua morte. Ali estava ele, ressuscitado nas palavras de alguém que o conhecera e amara. Era como se o observasse em movimento num vídeo caseiro: os músculos tensos das pernas a pedalar sem grande esforço em direcção à praia da Quinta da Lomba, o truque da nota de vinte escudos para agradar à prima, as anedotas adequadas ao ambiente familiar por respeito ao tio, os passeios com o pai doente pelo quarteirão. Reparei também que a memória do meu tio tingira de amarelo algumas recordações: a bicicleta, um outro brinquedo de que só recordava a cor. Tudo amarelo. Tudo dourado. Talvez fosse apenas a lembrança do sol a bater-lhe no rosto ou o esforço para chegar a essas memórias e encontrar, em cada lacuna, em cada episódio incompleto, apenas uma luz vacilante, dourada. Ou poderia ser a marca involuntária do sorriso de João Jorge como a de um sol que ainda não se apagara.”
Apesar de ter mudado de ideias e ter decidido escrever um romance, mantive o tom inicial. O tom de alguém que, trinta anos depois do homicídio, decide investigá-lo para saber o que se passou e quem era aquele rapaz de 21 anos, João Jorge Rego. Essa opção libertou-me para convocar memórias de infância (reais ou inventadas), mas também me pôs limites à efabulação. Em entrevista ao jornal Público, a 30 de Novembro de 2015, o escritor espanhol Javier Marías explicava a sua opção pela narração na primeira pessoa e quais os inconvenientes:
“Tem inconvenientes e vantagens. O inconveniente principal é que o narrador tem de justificar o que sabe e conta, não pode introduzir-se no quarto de alguém e contar o que aí se passa, ou o que pensam as personagens. A vantagem principal é que uma voz na primeira pessoa resulta mais credível, mais persuasiva, e, por ser mais fragmentária, parece-se mais com o que todos sentimos ao longo da vida, com o modo como vemos a realidade. Sempre incompleta e fragmentária, sempre com um olhar zarolho, quase sempre sem certezas. Talvez para um leitor contemporâneo resulte mais verosímil este tipo de voz.”
Numa entrevista a James Wood, o escritor alemão W. G. Sebald dizia o seguinte: “A ficção que não reconhece a incerteza do próprio narrador é uma forma de impostura que tenho grande dificuldades em aceitar.” Wood, no livro A Mecânica da Ficção, acrescentava: “Para Sebald e para muitos escritores como ele, a narração omnisciente na terceira pessoa é uma espécie de batota antiquada.”
Tendo decidido que este livro seria narrado na primeira pessoa, assumi ao mesmo tempo que haveria momentos de batota declarada em que o narrador confessaria ao leitor que estava a reconstituir várias cenas através da imaginação. Fixados os limites impostos pela narração na primeira pessoa, senti que, fora disso, o romance seria bastante aberto e que poderia integrar na história deste investigador diletante muito do que me ia acontecendo, do que ia lendo e de memórias da infância. Hoje, terminado o livro, tenho alguma dificuldade em saber até que ponto trabalhei certas memórias. Tudo me parece igualmente real, igualmente fictício. Talvez tenha conseguido atingir o desafio proposto por uma frase que li há uns anos: “escrever ficção sem inventar nada”. Melhor: escrever ficção como se não se inventasse nada. É uma pequena grande diferença.
“As férias de Verão, aguardadas com impaciência, revelavam-se uma prisão interminável. Ao fim das primeiras semanas, o aborrecimento apoderava-se de nós. A maioria passava as férias ali. Nem sequer íamos às praias da Costa, privilégio das poucas famílias com carro, o que não era o caso da minha. O último carro do meu avô tinha sido um Datsun, destruído numa madrugada de regresso do trabalho, há muitos anos, episódio relembrado com crueldade regular pela minha avó, para quem o declínio económico da família se iniciara com esse acidente. Nunca mais tivemos carro e, como tal, as férias no Alentejo tornaram-se esporádicas e as idas à praia resumiam-se a apanhar o autocarro da câmara do Barreiro em direcção ao Clube Naval.”
Como não tinha um plano ou uma estrutura rígida (na verdade, tinha apenas uma pergunta: quem foi João Jorge?), os personagens e os temas do livro foram aparecendo “naturalmente”: as relações entre pai e filho, a memória, o exílio, Angola, a culpa e a justiça. A questão da culpa era fulcral porque eu estava a escrever um livro centrado na vítima e não no assassino e nas suas motivações. Será que não estaria, desde logo, a culpabilizar João Jorge pelo que lhe acontecera? Ignorar o assassino não seria o mesmo que o desresponsabilizar? Apesar destas dúvidas, mantive-me fiel à ideia de reflectir sobre os acontecimentos a partir do ponto de vista da vítima. Mas os factos podem ser caprichosos e, por vezes, oferecem-nos presentes inesperados. Ao ler o depoimento do homicida ao juiz de instrução criminal, descobri que ele próprio se considerava vítima de tudo o que acontecera. Logo, talvez João Jorge fosse mesmo culpado da sua própria morte.
“Ao ler a investigação do narrador, os testemunhos por ele recolhidos, confirmava a presciência colectiva tardia que se segue a todas as desgraças e interrogava-me se a morte de João Jorge teria a mesma grandeza literária, se haveria na sua história um Bayardo San Román, uma festa de casamento sumptuosa, um porto engalanado para receber o bispo; porém, era tão grande e imponente o silêncio de Angela Vicario, tão poderoso o desejo de vingança dos seus irmãos, que nem a força da minha imaginação conseguia elevar o caso de João Jorge acima da realidade mortiça e cinzenta onde tudo acontecera.”
Leituras e Influências
Nesse processo de três anos, houve algumas leituras fundamentais, entre as quais ABC do Bê Ó, de Jacques Arlindo dos Santos, Purga em Angola, de Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus, Em Nome do Povo, de Lara Pawson, Angola – Sonho e Pesadelo, de Adolfo Maria, a releitura de Crónica de uma Morte Anunciada, de Gabriel García Márquez e de O Estrangeiro, de Albert Camus, e Meursault, contra-investigação, de Kamel Daoud, em que o crime do livro de Camus é contada do ponto de vista da vítima. Este último dado era para mim essencial porque legitimava a minha abordagem pelas escolhas da vítima.
Não seria um livro sobre o acto de ser morto. O risco era investigar um homicídio para encontrar um sentido e chegar à conclusão de que podia não haver um sentido porque, como escreve Daoud no seu livro, “o último dia da vida de um homem não existe. Fora dos livros que narram, nenhuma salvação, apenas bolas de sabão. É o que melhor prova a nossa condição absurda, caro amigo: ninguém tem direito a um último dia, somente a uma interrupção acidental da vida.” Durante algum tempo julguei que esse seria o título do livro: interrupção acidental da vida. Mais: sonhei um livro constituído apenas por frases roubadas de outros livros, entrevistas, artigos de imprensa, publicações no Facebook. Algumas – de Margaret Atwood, de Julian Barnes, de James Wood – estão no livro. Outras ficaram nas páginas agora guardadas num saco (curiosamente) azul.
“Então, do passado, veio-me à memória a figura do irmão Antero, com as suas calças largas de fazenda, os seus sapatos cambados pelos joanetes, os óculos de leitura que, a princípio, indiciavam sapiência e só mais tarde revelavam o verdadeiro sentimento por eles ocultado, o de uma saudade sem nome, de alguém ou de algum lugar, tempo ou situação, de uma dessas experiências tão intensas que, a exemplo de certos dilúvios e enxurradas, deixam nos homens a marca duradoura da sua fugaz aparição, um sulco que nenhuma bonança poderá preencher.”
Hoje Estarás Comigo no Paraíso
O título definitivo surgiu já quase no fim. Ao escrever um artigo para o Observador, “Podem os livros trazer os mortos de volta?”, regressei ao versículo bíblico em que o ladrão crucificado ao lado de Jesus pede-lhe que se lembre dele para me aperceber de um pormenor de enorme importância: “É também à memória que o ladrão crucificado ao lado de Jesus apela. É uma questão importante. O homem não pede a Jesus que o salve daquela situação, que o poupe ao sofrimento. Pede-lhe que não se esqueça dele: ‘Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino’. Os escritores, como se sabe, não têm reinos, têm livros e é nos livros que respondem aos apelos reais ou imaginados dos seus mortos.”
Este livro, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, é a resposta ao apelo real ou imaginado do meu morto, João Jorge Rego, assassinado há trinta anos no Vale da Amoreira, numa azinhaga entre dois cemitérios.
Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor e autor do romance As Primeiras Coisas, vencedor do prémio José Saramago em 2015

















