Índice
Índice
O infinito num junco, publicado originalmente em 2019 (El infinito en un junco), foi extraordinariamente bem acolhido pelo público e pela crítica, foi galardoado com o Prémio Nacional de Literatura de Espanha (modalidade de ensaio) e contribui decisivamente para que Irene Vallejo fosse distinguida em 2021 com o Prémio Aragón. O livro foi editado em Portugal em 2020, pela Bertrand, e também recolheu aplauso unânime, o que justifica que a editora tenha empreendido a publicação de livros anteriores da autora: o romance O silvo do arqueiro (2015, El silbido del arquero) e a compilação de textos Alguém falou sobre nós (2017, Alguien habló de nosotros), obra que motiva o presente artigo e que teve tradução de Rita Custódio e Álex Terradellas.
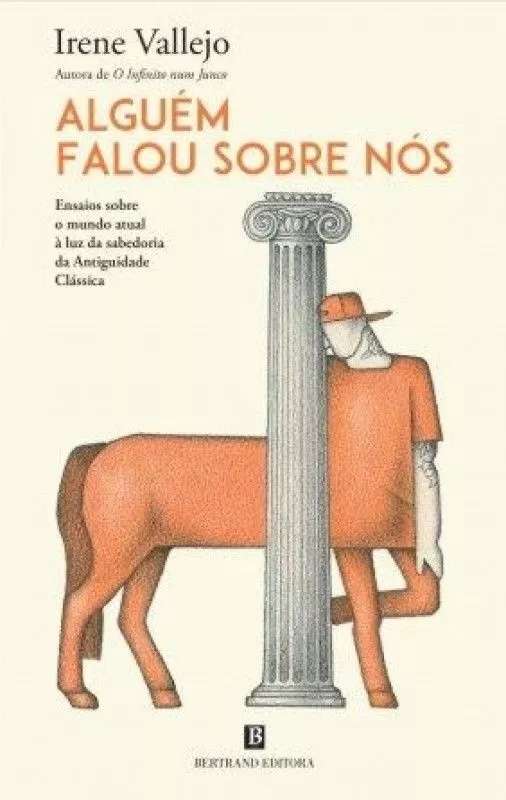
A capa da edição portuguesa de “Alguém falou sobre nós”, de Irene Vallejo (Bertrand)
Pontes entre o presente e a Antiguidade Clássica
O infinito num junco é uma instrutiva história dos livros e da literatura durante a Antiguidade Clássica, onde desfilam figuras de renome, como o historiador Heródoto, o dramaturgo Aristófanes, ou o poeta Ovídio, mas também as pessoas comuns, mas também nos dá a ver as crianças romanas com as suas tabuinhas enceradas a aprender as primeiras letras. É também uma história das bibliotecas – da maravilha erguida em Alexandria pelos Ptolemeus, às bem mais modestas bibliotecas dos banhos públicos romanos – e dos suportes e instrumentos de escrita. A escolha de focar o livro no período da Antiguidade Clássica não é um acaso, uma vez que Irene Vallejo (n.1979, Zaragoza) é doutorada em filologia clássica e o principal eixo da sua actividade é a divulgação de autores desse período. Aliás, o romance O silvo do arqueiro já era uma clara expressão destes interesses, uma vez que, saltitando entre tempos e mesclando lenda e factos históricos, entrelaça a demanda de Eneias após a tomada de Tróia pelos gregos com a redacção do poema épico sobre Eneias que o poeta romano Virgílio redigiu em 29-19 a.C., supostamente por sugestão ou encomenda do imperador Augusto.
Alguém falou sobre nós é apresentado como uma colecção de “ensaios sobre o mundo actual à luz da sabedoria da Antiguidade Clássica”, sendo o segundo livro nesta vertente – o primeiro foi El pasado que te espera (2010). Ambos os volumes são recolhas de textos publicados no jornal Heraldo de Aragón, de Zaragoza, e, aparentemente, o seu intento é similar ao de Michel Onfray em Sabedoria: Saber viver ao pé de um vulcão (2019) (ver Entre filósofos e gladiadores: Roma pode ser um modelo de vida para o nosso tempo?): mostrar como os preceitos e reflexões dos filósofos gregos e romanos continuam a ser válidos no século XXI e podem ajudar-nos a viver uma vida mais plena e menos angustiada.

“O discurso de Sócrates”, por Louis Joseph Lebrun, 1867
A redescoberta da filosofia – e em particular da filosofia da Antiguidade Clássica – como meio de auto-descoberta e de resposta às questões essenciais da existência dos comuns mortais – por contraponto à filosofia académica, elitista, hermética e devotada a ruminações abstrusas – é uma tendência que tem ganho ímpeto nos últimos anos, por vezes sob a imprecisa designação de “filosofia pop” (ver Séneca: Um filósofo pop do século I?). Entre os “filósofos pop” de maior notoriedade está A.C. Grayling, cujos artigos publicados na imprensa de referência britânica (nomeadamente The Times, The Guardian e Financial Times) desde a viragem dos séculos XX/XXI tinham intuito similar aos que Vallejo tem publicado no jornal Heraldo de Aragón: olhar para esta sociedade que “vive imersa no imediatismo”, para “este mundo cada vez mais incerto, confuso e labiríntico”, e recorrer ao “rico sedimento de história, pensamento e cultura, acumulado ao longo de séculos”, para interpretar e interpelar o tempo presente e sugerir reflexões, atitudes, condutas (os trechos entre aspas foram respigados da contracapa de Alguém falou sobre nós). Porém, enquanto os artigos de Grayling (posteriormente compilados em meia dúzia de volumes, inéditos em Portugal) são, apesar da sua brevidade e acessibilidade, enriquecedores e intelectualmente estimulantes, o mesmo não pode dizer-se dos artigos de Vallejo no Heraldo de Aragón.
Um rei Midas ao contrário
Para começar, é descabido designar como “ensaios” as 137 nótulas que constituem Alguém falou sobre nós e que se ficam por dois, no máximo três parágrafos e que, mesmo com espaçamento de linhas generoso, nunca estão perto de ocupar uma página. A extrema brevidade é um obstáculo à explanação de raciocínios elaborados, mas não chega para justificar a insubstancialidade, a superficialidade e a banalidade destes microtextos.
É claro que escrever para o público em geral e, para mais, num jornal regional, implica que se assuma que o receptor não é também doutorado em filologia clássica e que, portanto, devem evitar-se alusões herméticas, notas de rodapé quilométricas, jargão académico e construções frásicas arrevesadas, mas, por outro lado, não é desejável reduzir o discurso ao mínimo denominador comum – quem comece a ler Alguém falou sobre nós sem nada saber sobre ele poderá presumir que se destina a crianças e adolescentes.
Alguns textos gastam mais de metade das magras linhas disponíveis a resumir, de forma pedestre, mitos e episódios lendários e reais do mundo greco-romano: Cassandra e o dom da profecia; o calcanhar de Aquiles; Orfeu e Eurídice; as desastrosas vitórias de Pirro; Alexandre e o nó górdio; Ulisses e o canto das sereias; Arquimedes e a descoberta do princípio hidrostático que leva o seu nome; Dédalo, Ícaro e a fuga do labirinto construído para o Rei Minos; a aposta entre o vento e o sol sobre quem seria capaz de arrebatar as roupas a um viandante. Pior ainda é que sobre estes episódios, Vallejo só seja capaz de dizer o óbvio: o destino de Ícaro, por exemplo, “serve para recordar quantos perigos ocultam o chamamento e as chamas da fama”.
Vallejo surge neste textos como o reverso do rei Midas, o mítico governante de Pessinus a quem o deus Dionísio, como recompensa pela generosa hospitalidade que Midas dispensou ao seu amigo Sileno, conferiu o dom de transformar em ouro tudo aquilo em que tocava.

Midas (de joelhos, no extremo direito), devolve o sátiro Sileno (de pé, bebendo de uma taça) à companhia de Dionísio, seu parceiro de libações (sentado, ao centro). Quadro por Sébastien Bourdon, 1637
Vallejo parte de Sócrates, Tucídides, Cícero, Séneca e Marco Aurélio e chega a “reflexões” dignas de Pedro Chagas Freitas – “Amar é desejar e desejar é carecer de alguma coisa” – ou de Gustavo Santos – “A amabilidade é a capacidade de se fazer amar e a paciência, a ciência dos pacíficos” – ou a tautologias como “Nada está completo sem a alegria; é por isso que andamos à procura dela e a persegui-la” ou “A tristeza dos cemitério é, claro, a nossa tristeza, porque todos temos afectos enterrados em algum deles”.
A contemplação da natureza desperta em Vallejo uma poetisa de dez anos de idade – “Quando olhamos para os pássaros a levantarem voo, a voarem ao vento e a flutuarem nas correntes de ar, temos a sensação de que são seres mais livres do que nós” – e os conflitos entre a civilização e o mundo natural impelem-na para o ambientalismo ingénuo de quem pouco sabe dos mecanismos que movem a civilização e o mundo natural – “Talvez o nosso ímpeto imobiliário se devesse mudar para o cultivo de jardins, onde as plantas crescem como arranha-céus benignos que nos alegram a vista”.
A organização, administração e funcionamento da polis suscitam-lhe “reflexões” dignas do conselheiro Acácio: “A sociedade […] não pode progredir sem o professor”, ou “Em política, que é serviço público, é preciso ser mais leal aos desconhecidos do que aos amigos”.
Quando pretende enaltecer a cultura literária, Vallejo não consegue melhor do que alinhar lugares-comuns amáveis e simplórios como “Ler ajuda-nos a falar. Graças à leitura conquistamos habilidade verbal e abundância”, ou “Os seres de papel também representam o seu papel na nossa vida. Aqueles que amam os livros têm um pequeno grupo de amigos imaginários”. Este discurso enlevado e sentimentalão em torno dos livros não só exala um forte odor a bafio como pretende passar a ideia de que todos os livros são igualmente merecedores de estima e respeito, o que está longe de corresponder à verdade, pois o mundo está atravancado com livros indigentes, estultos, redundantes, pretensiosos, ridículos, ineptos, mendazes, obnóxios, ou grotescos, e que estão longe de justificar o abate das árvores necessárias à sua impressão.
O voo da borboleta
Algumas das nótulas de Alguém falou de nós esforçam-se ingloriamente por cumprir o anunciado propósito de reflectir “sobre o mundo actual à luz da sabedoria da Antiguidade Clássica” e algumas das analogias estabelecidas por Vallejo são francamente ineptas.
É o caso da nótula “À tona”, em que tenta usar o princípio de Arquimedes para ilustrar o problema da economia informal. Mais desajeitada ainda é a nótula “Amargo acerto”, que menciona um pescador japonês que, por ter sido exposto à radiação emitida pelos ensaios nucleares americanos no atol de Bikini, em 1946, se tornou num activista anti-nuclear, o que leva Vallejo a fazer dele uma Cassandra do século XX, associando o facto de ninguém dar ouvidos aos avisos do pescador com o acidente de 2011 na central nuclear de Fukushima. O que estas duas nótulas revelam, para lá do fiasco na tentativa de unir assuntos díspares, se necessário à martelada, é que Vallejo não tem nada de relevante a dizer sobre economia informal, energia nuclear, Cassandra ou Arquimedes.

Cassandra, filha de Príamo, rei de Tróia, profetizara que o rapto de Helena pelo seu irmão Paris causaria a destruição de Tróia, mas os troianos não a levaram a sério. Quadro por Evelyn De Morgan, c.1898
Na verdade, muitos dos textos de Alguém falou sobre nós nem sequer se dão ao trabalho de simular vínculos com a Antiguidade Clássica: remetem para Lao Tse, Erasmo, Espinosa, Cervantes, Swift, Dickens, ou Brecht ou divagam sobre caçadores-recolectores, a origem do alfabeto, a fuga para o Egipto da Sagrada Família, Guttenberg e a invenção da imprensa, Rembrandt, o uso de eufemismos, uma lenda tradicional japonesa, a Grande Muralha da China, os clubes de leitura, a banda desenhada, a música de Beethoven, ou a música em abstracto. O borboletear de Vallejo sobre esta vasta gama de assuntos nunca resulta em polinização: seja qual for o tema, o melhor que consegue é reproduzir lugares comuns. Quando toca em assuntos da actualidade, fica-se pelo tipo de generalidades amáveis que as pessoas bem-pensantes gostam de “postar” no Facebook. Nos momentos piores – “Falar com o coração”, “O indefeso coração”, ou “Cuidados invisíveis” – desliza para o sentimentalismo e para kitsch.
Num tempo em que muitas pessoas se sentem cada vez mais desorientadas perante o caos do mundo, a nebulosa da “auto-ajuda”, do “desenvolvimento pessoal”, da “mindfulness” e das “palestras motivacionais” está entre os segmentos mais pujantes do mercado livreiro, pelo que é natural que atraia gente que ganhou renome nas mais diversas áreas de actividade: entertainers da trash TV, modelos, músicos pop, chefs, actores, influencers, socialites, desportistas, treinadores, terapeutas holísticos, empresários, investidores e bodybuilders – quem poderá censurar neurocientistas, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, filósofos e filólogos clássicos por também pretenderem dilatar o seu pecúlio dando à estampa as suas meditações sobre a vida e os seus “segredos para nos tornarmos na melhor versão de nós mesmos”?
Há alguns meses, escreveu-se aqui sobre O poder das palavras, do reputado neurocientista argentino Mariano Sigman, que, supostamente, recorre às “descobertas mais recentes da neurociência” para mostrar como o poder das palavras permite “mudarmos a nossa mente e termos uma vida melhor”, mas que não passa de “um chorrilho de lugares-comuns, tautologias e jogos de palavras, ensopado em sentimentalismo barato” (ver Mariano Sigman e a arte da conversa de treta). Alguém falou sobre nós tem um ponto de partida diferente, mas acaba por chegar ao mesmo lugar. Quem seja alérgico a sentimentalismo e na Grécia Clássica estime sobretudo o culto do ginásio e dos músculos bem esculpidos, talvez fique mais bem servido com Faz-te útil: Sete regras para a vida, de Arnold Schwarzenegger, que aterrou nas livrarias portuguesas nos primeiros dias de Janeiro.
Colombo, pioneiro da ciência?
Quando sai do domínio da Antiguidade Clássica, Vallejo não se fica pelas inanidades, entra no domínio dos disparates. Na nótula “História da curiosidade”, elege como paradigma da curiosidade as viagens de Cristóvão Colombo, que terão convertido a curiosidade de “traço pejorativo feminino” em “atributo do homem cientista”, e “o desejo de desafiar os limites e a sede de saber” em “condição de modernidade”.
Vallejo cai no erro crasso, apontado por Caroline Delaney em Colombo e a demanda de Jerusalém (2011, Columbus and the quest for Jerusalem), de “julgar Colombo segundo uma perspectiva contemporânea e não pelos valores e práticas do seu tempo”, o que leva a que se avaliem “equivocamente as suas motivações e o seu sucesso”, responsabilizando-o “por consequências que não pretendeu, esperou, nem aprovou”. Deste equívoco resulta que Colombo seja increpado como chefe de fila do imperialismo genocida e extractivista europeu e responsável último “por tudo o que correu mal no Novo Mundo”, e, ao mesmo tempo, aclamado como protagonista heróico de um momento crucial da história e figura maior da cristandade (no último quartel do século XIX houve mesmo um movimento, liderado pelo cardeal Donnet, arcebispo de Bordéus, em prol da sua canonização) e por ter dilatado o conhecimento científico e dado novos mundos ao mundo.
Para começar, Colombo “descobriu” a América não por, graças às suas pesquisas e deduções, estar à frente do conhecimento geográfico do seu tempo, mas por estar atrás. Colombo, ao dar crédito a documentos vetustos e/ou fantasiosos e ao interpretar erradamente documentos credíveis, subestimou grosseiramente a circunferência da Terra e concluiu que Cipango (o Japão) ficaria cerca de 4000 km a oeste das Ilhas Canárias, quando na verdade está a 20.000 km, e terá sido essa uma das razões que levaram João II de Portugal a rejeitar o seu projecto – outra razão terá sido João II já estar, eventualmente, a par da existência do continente americano e ter interesse em retardar a divulgação deste facto (ver capítulo “Terra plana e terra esférica” em Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir).
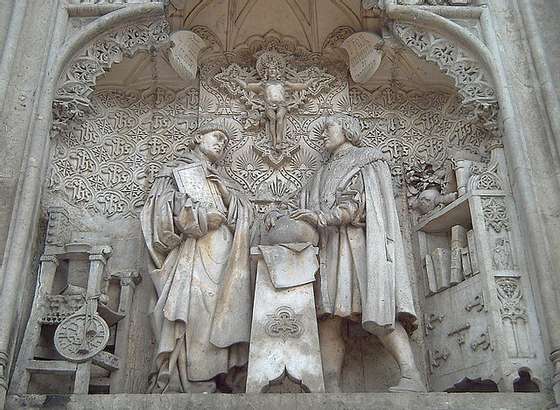
Cristóvão Colombo (à direita) e Diego de Deza, detalhe do monumento a Colombo (1881-85) na Plaza de Colón, Madrid. Deza, frade dominicano, tutor do príncipe Juan, filho dos Reis Católicos, amigo de Colombo e futuro arcebispo de Sevilha, terá desempenhado papel decisivo em persuadir os Reis Católicos a aceitar o projecto de Colombo
Como se não bastasse que o seu maior feito tenha sido fruto de cálculos deficientes e do acaso, Colombo revelou completa ausência de espírito crítico – indispensável em ciências – quando manteve a convicção de que o continente a que chegara era a Ásia, apesar de, em quatro viagens de exploração realizadas entre 1492 e 1502, ter sido confrontado com abundantes provas em contrário.
Vallejo também erra redondamente quando atribui a motivação das viagens de Colombo à sede de conhecimento, quando o navegador genovês foi impelido sobretudo pela sede de glória e riquezas e pelo fanatismo religioso. A sua avidez por honrarias e bens materiais está patente no minucioso contrato que firmou, antes de partir na primeira viagem, com os Reis Católicos: as “Capitulaciones de Santa Fe” outorgavam-lhe o título de almirante de todas as terras que descobrisse no Mar Oceano (sendo o título hereditário e equiparado ao do almirante de Castela); os cargos de vice-rei (hereditário) e governador dessas mesmas terras; uma percentagem de 10% sobre todas as transacções de mercadorias que tivessem lugar nos territórios sob a sua jurisdição; e autoridade para nestes arbitrar eventuais conflitos de natureza comercial.
Não pode dizer-se que Colombo não tenha sabido acautelar os seus interesses pessoais e satisfazer a sua vaidade, mas a verdade é que o desígnio supremo da viagem para Ocidente até à Ásia era espiritual. Desde 1291, quando os muçulmanos escorraçaram os últimos cruzados da Terra Santa, que havia cristãos que apelavam a que se enviassem embaixadores ao Império Mongol para o converter ao cristianismo e firmar com ele uma aliança e, mediante ofensivas combinadas vindas de Ocidente e Oriente, libertar novamente a Terra Santa do jugo muçulmano. Este plano inseria-se numa visão milenarista e apocalíptica assente na interpretação das Sagradas Escrituras: os “acontecimentos catastróficos” das últimas décadas – nomeadamente a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos – “eram vistos como sinais de que o fim dos tempos se aproximava a passos largos. Contudo, antes do final era necessário que várias condições se cumprissem para preparar o regresso de Cristo: todos os povos teriam de ser evangelizados e, preferencialmente, convertidos, para que pudessem ser salvos das condenação eterna; Jerusalém teria de estar em mãos cristãs para que o Templo pudesse ser reconstruído, pois seria esse o trono de Cristo, quando este se sentasse para o julgamento” (Delaney).

O “Primeiro desembarque de Cristóvão Colombo na América, tomando posse da ilha de San Salvador para a Coroa de Castela” (1862), de Dióscoro Puebla, imbui o momento de um fervor religioso extático, que não estaria longe do espírito com que Colombo abraçou a sua missão
Segundo Delaney, uma vez chegado à China, “Colombo tencionava encontrar-se com o Grande Khan, entregar-lhe as missivas da rainha Isabel” e estabelecer um próspero comércio euro-asiático cujos lucros “financiariam a nova cruzada para tomar Jerusalém”. A libertação de Jerusalém seria “o primeiro passo de uma série de acontecimentos que permitiriam o regresso de Cristo antes do Juízo Final” e foi, segundo Delaney, “a grande paixão de Colombo” ao longo de toda a sua vida; quando, “no seu leito de morte [se apercebeu] de que nunca veria a realização do seu projecto”, deixou no testamento “verbas para o financiamento da cruzada”.
Talvez a natureza messiânica do projecto de Colombo tenha contribuído para que os devotos Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão tenham acabado por decidir apoiar o persistente marinheiro genovês: os Reis Católicos não ganharam este epíteto por acaso e o seu catolicismo militante estava à beira de erradicar o islamismo e o judaísmo da Península Ibérica (a tomada do Reino de Granada, o derradeiro baluarte islâmico, e o decreto de expulsão dos judeus datam do mesmo ano da descoberta da América); se conseguissem somar a estes “feitos” a reconquista da Terra Santa, tornar-se-iam nos mais influentes e prestigiados monarcas da Cristandade e quiçá até lhes fosse reservado um lugar junto da Virgem Maria após o Juízo Final.

A Virgem Maria com São Tomás de Aquino (à esquerda) e Santo Domingo de Guzmán, fundador dos Dominicanos (à direita), Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, os seus filhos, Juan e Isabel, e Tomás de Torquemada, o Inquisidor-Mor, e (possivelmente) San Pedro de Arbués, primeiro inquisidor de Aragão. Quadro de autor anónimo, c.1491-93
Em síntese: longe de ser um proto-investigador inquisitivo e de mente aberta, imbuído do espírito do Renascimento, como crê Vallejo, Colombo foi antes um dogmático, obstinado e algo obtuso cruzado, um remanescente do espírito da Idade Média.
No tempo dos bons selvagens
A nótula “Primitivos” reprova a obsessão das modernas sociedades capitalistas com a posse e o consumo, pulsões que são acicatadas pela máquina publicitária, e contrapõe-lhes as sociedades de caçadores-recolectores, baseadas no “princípio da reciprocidade”, na “partilha equitativa” e no “altruísmo”, para concluir que “às vezes, as soluções primitivas atenuam a inclemência do progresso”.
Os críticos do capitalismo no segmento esquerdo do espectro político tendem a dar crédito no mito do “bom selvagem”, cuja origem pode ser rastreada até ao ensaio “Des cannibales” (c.1580), de Michel de Montaigne, e que teve em Jean-Jacques Rousseau o mais destacado e enérgico promotor, ainda que este nunca tivesse usado o termo “bom selvagem”, preferindo o termo “homem natural” (homme naturel), isto é, não corrompido pela civilização.
Numa carta de 1762, dirigida a Christophe de Beaumont, arcebispo de Paris, Rousseau defende que “o princípio de toda a moral […] é que o homem é um ser naturalmente bom, amante da justiça e da ordem; que não existe vestígio de perversidade original no coração humano e que os impulso primordiais da natureza são sempre justos”. Para Rousseau, a perversão desta bondade inata começou com “o primeiro que vedou um terreno, e se lembrou de dizer ‘Isto é meu’ e encontrou gente suficientemente simples para lhe dar crédito” (Discurso sobre a origem e fundamentos das desigualdades entre os homens, 1755), ou seja, com o início da agricultura e da sedentarização. Porém, Rousseau nunca privou com um “selvagem” ou um “homem natural” e muito menos viajou até aos territórios habitados por estes, nem no seu tempo existia na Europa civilizada informação factual, objectiva e não-enviesada sobre os modos de vida dos povos “primitivos”, pelo que as suas teorias sobre a humanidade pré-civilização não passam de especulações sem qualquer fundamento.
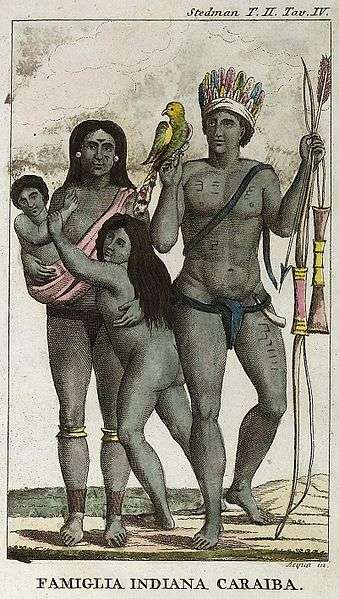
Família da etnia Arawak, que, à data da chegada de Colombo, estava espalhada pelo Caribe e pelo norte da América do Sul. Gravura de 1818 a partir de pintura de Johann Gabriel Steadman (1744-1797)
Na verdade, os estudos antropológicos e arqueológicos vieram, progressivamente, revelar uma realidade bem diferente: as sociedades de caçadores-recolectores, quer as do passado quer as que subsistiram em lugares remotos do planeta até aos séculos XX e XXI, caracterizam-se por elevadíssimos níveis de violência.
No que respeita às segundas, apurou-se que a percentagem de óbitos resultante de violência era de 56% entre os Waorani (do Equador), 42% entre os Achuar (do Peru), 35% entre os Gebusi e os Enga (ambos da Papua Nova Guiné) e entre os Arawaté e os Kayapo (ambos do Brasil), 33% entre os Jívaros (do Brasil); entre os mais pacíficos dos “homens naturais” estão os Tsimane, da Bolívia, com 6% de mortes violentas, os Tiwi, da Austrália, também com 6%, e os Anbara, da Austrália, com 4%. A média de óbitos violentos entre os caçadores-recolectores do nosso tempo ronda os 25%. Recuando ao início do século XIX, os Pés-Negros das planícies da América do Norte teriam uma percentagem de óbitos violentos de 50%.
Quanto aos caçadores-recolectores de antanho, têm-se multiplicado, nos últimos anos, estudos sobre a prevalência da violência, ainda que as estimativas a tão grande distância temporal tenham, inevitavelmente, uma forte componente especulativa: um crânio perfurado por uma ponta de sílex que permanece no seu interior é uma prova sólida de homicídio, mas raros são os restos mortais que permitem fazer inferências seguras quanto à causa de morte, já que nem todos os homicídios deixam marcas nos esqueletos e nem todas as marcas de violência nos esqueletos resultam necessariamente de morte violenta infligida por outros humanos; e mesmo quando há indícios de homicídio, é praticamente impossível determinar se este resultou de uma desavença dentro da tribo ou de um confronto com outra tribo. Uma das obras seminais neste domínio, War before civilization (1996), de Lawrence H. Keely, indica que apenas 13% dos povos que habitavam o continente americano antes da chegada de Colombo não se envolviam em confrontos com os grupos vizinhos pelo menos uma vez por ano. A América pré-colombiana fornece também indícios de práticas como a tortura de prisioneiros até à morte e da destruição completa de povoados e massacre indiscriminado dos seus habitantes.

Gravura em madeira por Johann Froschauer, c.1505, realizada a partir de descrições recém-chegadas à Europa dos hábitos de canibalismo que reinariam entre os habitantes do Novo Mundo
O advento da civilização trouxe, por todo o mundo, uma queda acentuada na fracção respeitante a homicídios na mortalidade geral: por exemplo, no México pré-colombiano, dominado pelo Império Azteca, conhecido pela sua belicosidade e pela oferenda de sacrifícios humanos em larga escala, as mortes violentas representavam apenas 5% do total de óbitos. Na Europa Ocidental, durante o século XVII, que foi fértil em guerras – nomeadamente a devastadora Guerra dos Trinta Anos – a percentagem de mortes violentas foi de 2%. A Europa e os EUA registaram, entre 1900 e 1960, uma percentagem de homicídios de 1%, ainda que este período tenha sido marcado por duas guerras mundiais de alta intensidade. No século XXI, essa percentagem caiu para valores inferiores a 0.1%, considerando a média global, e o homicídio surge apenas em 17.º lugar, atrás do suicídio e da malária, no ranking das causas de morte (dados de 2019).
É certo que, ao contrário do que acontece nas sociedades capitalistas modernas, as sociedades de caçadores-recolectores são igualitárias e desconhecem a estratificação, mas de que serve a “partilha equitativa” quando não há muito mais para partilhar do que a miséria, o espectro da fome paira constantemente sobre toda a comunidade e se está sujeito, de um momento para o outro, a ter o crânio esmigalhado por um machado numa rixa intratribal ou num embate com uma tribo rival?
É extraordinário que, após as substanciais e credíveis revelações trazidas pela antropologia e pela arqueologia nas últimas décadas, a elite intelectual de esquerda continue a papaguear a narrativa edulcorada e rósea do “bom selvagem”, a imaginar que a Humanidade viveu num estado de beatitude antes de a agricultura e, depois, o capitalismo terem estragado tudo e a lamentar a “inclemência do progresso”.
Thomas Hobbes (1588-1679) era tão ignorante quanto Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) no que respeita a antropologia, tafonomia, dendrocronologia, datação por carbono-14 e sequenciação de DNA, mas a sua percepção intuitiva do “estado natural” do homem de antanho estava muito mais próxima da realidade do que a de Rousseau: “Sem registo do tempo; sem artes nem letras; sem sociedade; e, pior do que tudo, com medo permanente e risco de morte violenta; a vida do homem era solitária, pobre, sórdida, brutal e curta” (Leviathan, 1651).
A civilização, longe de ser a causa da corrupção do “homem natural”, foi responsável por domesticar, gradualmente, os seus instintos asininos e assassinos e por arrancá-lo a um patamar existencial rudimentar, e o progresso tornou a vida dos homens modernos menos “inclemente” do que a dos caçadores-recolectores. O que não quer dizer que os excessos, enviesamentos e desvarios da tecnologia, do Estado e do capitalismo não devam ser escrupulosamente vigiados, denunciados e contrariados. Acreditar no mito do “bom selvagem” é tão tolo e perigoso como deixar o capitalismo selvagem andar por aí sem trela nem açaime.














