Martin Amis tem sessenta e sete anos. Uma frase que não parece mais plausível agora, que tem realmente sessenta e sete anos, do que teria parecido aos vinte e quatro, idade com que publicou o primeiro livro, ou aos quarenta e dois, idade com que escreveu A Seta do Tempo – disponível agora, e pela primeira vez, em tradução portuguesa. De uma forma muito peculiar, tal como o protagonista de Matadouro Cinco (livro de Kurt Vonnegut que terá sido uma das inspirações directas de A Seta do Tempo), a entidade chamada “Martin Amis” parece ter-se desprendido do tempo.
Uma das razões para o efeito é a consistência da sua voz pública – a voz dos livros, dos ensaios, e das entrevistas – que se tem mantido inalterada ao longo dos anos, mesmo que por vezes produza resultados desiguais. Outra é a singularidade hereditária que representa: filho de outro vulto literário britânico, Kingsley Amis, a sua obra foi sendo vista como um ilegítimo prolongamento dinástico da obra do pai, o que ajuda a explicar (esta é, pelo menos, a sua teoria sobre o assunto) a hostilidade com que costuma ser tratado pela imprensa britânica, que o terá despromovido a uma espécie de “Príncipe Carlos do mundo das Letras”, e onde qualquer coisa serve de pretexto para reutilizar os adjectivos que, como macros no Excel, mais o qualificaram ao longo da carreira: “polémico” e “controverso”.
Amis falou com o Observador por telefone a partir de Nova Iorque, onde vive desde 2011, numa conversa relativamente desprovida de declarações polémicas, onde abordou, não necessariamente por esta ordem, os macaquinhos no sótão de Christopher Hitchens, Hitler e o Holocausto, o potencial cómico de desordens cronológicas, o apelo da ficção científica, a maneira específica como os poetas olham para citrinos, e o estranho hiato alaranjado que foi o ano de 2016.
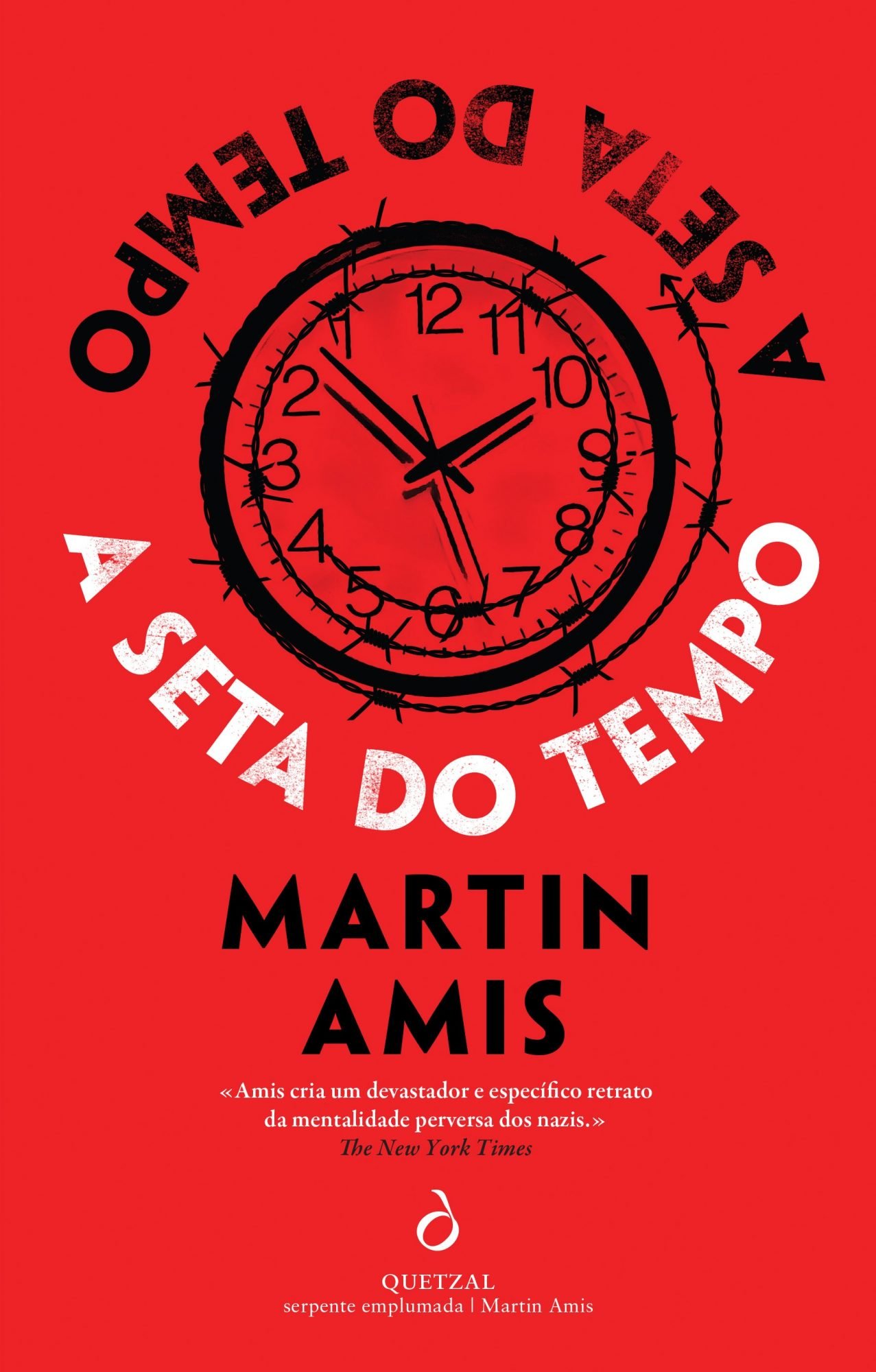
“A Seta do Tempo”, de Martin Amis (Quetzal)
Devem ser tempos interessantes para viver em Nova Iorque. No sentido daquela velha maldição chinesa sobre “viver em tempos interessantes”. A família da sua mulher é americana, certo?
Sim, e ela nasceu e cresceu em Nova Iorque, embora tenha ascendência uruguaia.
Sendo Nova Iorque o que é, presumo que passou o último mês rodeado de apoiantes transtornados de Hillary Clinton.
Exclusivamente, na verdade. Não conheço pessoalmente uma única pessoa que tenha votado em Trump. Como disse uma vez Clive James sobre o cantor Barry Manilow, numa piada também sobre um certo tipo de insularidade, “todas as pessoas que conheço acham-no horrível, e todas as pessoas que não conheço acham-no fantástico”. É mais ou menos o que se passa com Trump aqui em Nova Iorque, e o número de americanos que não conheço é muito superior ao número de americanos que conheço. Mas muitos americanos descobriram subitamente que habitam uma terra alienígena.
Na pátria que deixou há cinco anos também se vivem tempos interessantes.
Sim, mas apesar de tudo é diferente. O desejo de sair da União Europeia não é manifestamente ridículo, embora eu o ache lamentável. Mas é manifestamente ridículo colocar uma pessoa como Donald Trump na presidência.
Apesar da tentação de elevar o lado interessante dos “nossos” tempos, lembro-me sempre de algo que escreveu num artigo sobre Joan Didion. Ela cita os versos ominosos de Yeats, “o centro não se aguenta”, como uma espécie de epígrafe para o final dos anos 60, e você comenta que talvez não lhe tenha ocorrido com força suficiente que o poema é de 1919, e que portanto a ideia de que “o centro não se aguenta” já é antiga, e sempre esteve connosco.
Correcto. Mas desta vez é inteiramente possível que o centro já nem exista. O que está a acontecer é quase como um contra-Iluminismo. E não faço ideia quanto tempo vai durar. Mas são tempos interessantes, sem dúvida. E preocupantes.
Tem acompanhado e escrito sobre política americana há algum tempo, desde a reeleição de Reagan em 1984 até à campanha de 2012. Creio até que estava presente no debate das primárias Republicanas, quando o ocorreu o célebre momento “oops” de Rick Perry.
Pois estava, fui espectador desse debate. Aliás, estou a corrigir as provas de uma nova colecção de ensaios e reportagem, e o texto sobre esse infame momento de Rick Perry surge logo no início.
Esta campanha eleitoral pareceu-lhe diferente em género, ou apenas em grau?
Creio que é diferente em grau e em género. Visto a partir de 2016, Mitt Romney parece, não sei…
Por comparação, parece o Bismarck.
Sim, Bismarck, ou Churchill, ou Cícero. Mas o que mais me tem apavorado é esta noção de que vivemos numa época pós-factual. E vemos isso em todos os quadrantes políticos, a confluência de notícias falsas, da urgência alarmista do Twitter, de credulidade generalizada, tudo isso. É como se os alicerces do racionalismo estivessem a ser demolidos. E já passámos por algo semelhante. Nas primeiras décadas do séc. XX também houve uma grande revolta contra o racionalismo. Tanto Hitler como Lenine nunca usavam a palavra “racionalismo” sem a qualificarem com um adjectivo pejorativo: racionalismo cobarde, racionalismo abjecto, etc. Mas havia alguma justificação histórica para isso. As teorias de Einstein e Freud e, até certo ponto, de Max Weber, pareciam sugerir que a realidade não era baseada na Razão. A teoria da relatividade parecia tudo menos “senso comum”. E isso terá contribuído para enfraquecer os alicerces do racionalismo durante um par de décadas. Mas em toda esta campanha eleitoral nunca pareceu existir uma correlação objectiva da retórica com a realidade. A economia está bem. Os rendimentos da classe média até aumentaram um pouco desde a crise. Não é como se isto fosse a República de Weimar. Não vivemos no meio de ruínas decadentes, de caos, de anarquia. Havia um programa relativamente liberal e cauteloso a ser seguido, e de repente confrontamo-nos com este hiato cor-de-laranja e artificialmente bronzeado. É difícil ver nisto uma reacção à realidade. O que parece é um divórcio da realidade.
Tem-se procurado explicar esse divórcio recorrendo a várias categorias: desigualdades económicas, ressentimentos raciais, etc. E há quem tente repescar aquele que tem sido um dos temas centrais da sua ficção: a noção de masculinidade ferida.
Mas por vezes creio que é algo mais fundamental do que isso. Não concordo minimamente com quem acha que Trump revelou um qualquer génio político instintivo para “perceber o momento”. Não lhe atribuo qualquer discernimento particular sobre o fenómeno que gerou. Acho que se limitou a aparecer no sítio certo, à hora certa, que encarnou precisamente o tipo de figura que um segmento considerável do eleitorado estava preparado para acolher. Mas, lembra-se, há uns meses, quando Trump tinha acabado de insultar alguém, ou cometer alguma gaffe, e disse “podia matar alguém na Quinta Avenida e não perderia um único voto”? Não acho que tenha sido especialmente perspicaz da parte dele, mas na verdade, à sua maneira muito própria, tropeçou na verdade. E essa verdade é que muitas pessoas não o encaram como uma criatura de carne e osso, mas sim como uma construção fictícia, uma personagem televisiva que não pode ser responsabilizada pelos seus actos e pelas suas palavras da mesma maneira que as figuras políticas são tradicionalmente responsabilizadas. Um processo de estupefacção colectiva parece ter ocorrido. Só consigo conciliar isto com todas as outras dinâmicas recentes fora do contexto americano concluindo que é, de alguma forma, uma consequência da internet, da globalização da comunicação, um processo que de terá provocado um desarranjo mental também ele global.
Falei na questão da masculinidade ferida por causa de um ensaio antigo que escreveu sobre aquele famoso livro-panfleto de Robert Bly, em reacção ao feminismo, que exigia um “regresso da masculinidade”. Algumas das pessoas que agora encaixam na categoria alt-right aparecem nesse contexto, ou pelo menos na ressurgência contemporânea desse fenómeno na internet: o activismo pelos “direitos dos homens”, o movimento “Red Pill”, etc. Tudo isto me lembra bastante o subtexto desse seu ensaio, que é o potencial latente para a violência nessa ideia de “masculinidade menosprezada”.
Esses movimentos parecem ser cíclicos, reactivos, e assumem sempre a mesma forma: a lamúria dos que se sentem negligenciados. Os homens, e talvez sobretudo os homens caucasianos. É uma espécie de auto-comiseração, o queixume de quem acredita ter sido despromovido. De quem sente ter ouvido demasiada conversa sobre minorias, de quem sente que o homem branco e heterossexual é uma espécie acossada, que precisa de se amotinar.
E é um tema que abordou muito: a agressividade que nasce de um sentimento de humilhação, da suspeita de que alguém, algures, está a rir-se de nós, se acha superior a nós. Uma agressividade que antes se manifestava individualmente, em casa, ou em grupos minoritários, em bares, em estádios, em actos terroristas; e que agora arranjou maneira de se manifestar colectivamente nas urnas.
Sem dúvida. O próprio conceito de humilhação talvez devesse ser estudado mais atentamente. Acho que explica, por exemplo, muito do que é o islamismo radical, e o seu revanchismo reaccionário. O impulso de querer recuperar uma posição, o estatuto perdido a que julgamos ter direito. É uma palavra que usamos muitas vezes no Ocidente com alguma ligeireza: a minha equipa de futebol foi humilhada, etc. Mas colectivamente é uma sensação perigosa, e que traduz um sofrimento profundo, mesmo quando é ilusório. Gore Vidal, que considero um pouco sobrevalorizado, escreveu um dia algo que achei imensamente perspicaz. Foi num ensaio sobre Updike, creio. Escreveu que é muito difícil defender uma abordagem igualitária à capacidade intelectual, ou seja, que ninguém consegue argumentar seriamente que qualquer intelecto vale o mesmo que qualquer outro. Mas já é possível argumentar que os meus sentimentos valem o mesmo que os de qualquer outra pessoa. E o que caracteriza, segundo Vidal, a nossa época é esta democratização do estatuto dos sentimentos. E tudo bem com isso, não é algo de que seja fácil discordar. Mas se exaltarmos as emoções mais básicas a esse ponto, num contexto democrático, emoções que nem sequer conseguem ser articuladas por quem as manifesta, creio que o resultado final será sempre qualquer coisa como a eleição de um Donald Trump.
Acho curioso que muita gente sinta agora algum nervosismo com o facto de Trump ter acesso a armas nucleares. Mas achei ainda mais curioso aquele número espantoso numa sondagem: mesmo entre os seus próprios apoiantes, apenas 22% se sentem confortáveis com esse facto.
Leu o artigo do David Runciman no LRB? A tese dele é que o voto em Trump só pode ser interpretado, contra-intuitivamente, como um voto de extrema confiança nas instituições: apesar de tudo, acreditamos tanto no sistema que vamos eleger esta pessoa como líder, na total confiança de que as instituições são demasiado sólidas para ele as conseguir incapacitar significativamente.
Talvez, mas nesta questão em concreto nem sequer há muitos freios e contrapesos. Em relação ao arsenal nuclear, o ocupante da Sala Oval tem uma autoridade praticamente autocrática. E um dos apoiantes de Trump disse qualquer coisa como “tudo bem, pode acontecer, mas prefiro uma guerra nuclear a uma presidência Clinton”. Isto vai muito além de meras preferências políticas, e tenho muitas dificuldades em compreender o ódio visceral que ela suscita.

Martin e Phillip jogam xadrez com o pai, Kingsley Amis, em 1961
É curioso falar nisso, porque o seu melhor amigo, Christopher Hitchens… não faço ideia do que ele pensaria sobre esta campanha, mas a opinião dele, pelo menos sobre Bill Clinton, era extravagantemente negativa.
É verdade, tinha-lhe um ódio profundo. E também não gostava muito dela. O Christopher tinha uns quantos macaquinhos de sótão sobre os Clinton. Entre os amigos que lhe sobreviveram… temos especulado muito sobre o que teria dito e escrito sobre Trump, e pessoalmente sinto uma grande curiosidade em saber em quem teria ele votado em 2016. Estou convencido de que teria votado num dos candidatos independentes. Não consigo imaginá-lo a ser capaz de votar em Hillary. Uma incapacidade pelos vistos mais comum do que julgava.
A Seta do Tempo foi publicado há 25 anos. Uma vez disse que, quando era mais novo, poucas coisas lhe davam mais prazer do que sentar-se com uma garrafa de vinho e um dos seus livros antigos. Imagino que já não releia a sua própria obra com a mesma frequência.
Não, lamentavelmente não. Pelo menos na íntegra. Embora tenha relido A Seta do Tempo aqui há uns cinco ou seis anos, não recordo a que propósito. Mas perdi esse gosto com alguma naturalidade à medida que fui envelhecendo. O futuro começa a parecer tão mais pequeno que o passado e a tendência é para nos concentrarmos no que ainda resta. O que queremos é pensar no próximo, não nos anteriores. Mas é uma pena. Era um prazer tão simples e agradável, que deixei pelo caminho.
Entre os livros mais antigos, há alguns que estão mais presentes na sua memória, outros que se desvaneceram mais com o tempo?
Alguns sim. Mas há um fenómeno que julgo ser transversal entre escritores, é quase uma profissão de fé: quanto mais antigos os livros, piores os achamos. E alguns dos primeiros parecem-me muito distantes. Tecnicamente parecem-me fracos. Sou capaz de ficar surpreendido e agradado com a energia, com a exuberância da linguagem, mas estruturalmente parecem-me todos obras de aprendizagem.
Também disse que os romances normalmente começam não com uma “decisão”, mas com uma “vibração”.
Sim, “vibração” era o termo que Nabokov usava. John Updike chamava à mesma sensação um “arrepio”. Funciona mais ou menos como um telegrama enviado pelo subconsciente. Percebemos que andamos a pensar numa ideia, ou numa imagem, há algum tempo. Que andamos a remoê-la. E quando passa uma semana ou duas, e a ideia ou imagem não nos sai da cabeça, sentamo-nos a trabalhar e percebemos que grande parte da preparação já foi feita a um nível subliminar. É um processo muito nebuloso, que os próprios escritores não compreendem muito bem. E que os críticos certamente não compreendem de todo. O Norman Mailer escreveu um livro muito bom sobre escrita chamado The Spooky Art [A Arte Fantasmagórica]. E é tudo bastante fantasmagórico, de facto. É como se estivéssemos a jogar à apanhada com o subconsciente, e ele estivesse sempre uns passos à nossa frente. É frequente sentir algum bloqueio no texto, e depois ao reler o que já está escrito, deparo com uma frase ou um parágrafo que subitamente revela a solução do problema, só que fui demasiado estúpido para o ter percebido de imediato. Não sei, compreendo pior o processo agora do que quando comecei a escrever.
Numa nota introdutória ao romance anterior a este, London Fields (1989), diz que chegou a considerar o título A Seta do Tempo. Essa “vibração” inicial de a Seta do Tempo terá sido o mecanismo, certo? A ideia de contar uma história com a cronologia invertida?
Sim, era uma frase que já andava há algum tempo na minha cabeça, acima de tudo porque gosto do som. E o mecanismo também. Mas ainda não tinha um cenário, e passei algum tempo à procura da história certa para contar. A ideia era estimulante, mas não consegui encontrar logo um propósito para ela. Foi só quando me ocorreu escrever sobre o Holocausto dessa maneira que o mecanismo se tornou quase assustadoramente relevante. Porque a seta do tempo é também a seta da moralidade. A revelação central foi essa. Se invertermos a direcção do tempo, invertemos também o funcionamento da ordem moral, de uma forma muito consistente. Foi só aí que pensei, há aqui alguma coisa, talvez haja aqui um romance.
A premissa (e alguns dos efeitos que produz) tem algo de ficção científica, um género de que o seu pai era grande apreciador. Só por curiosidade, conhece um romance chamado Counter-Clock World?
O de Philip K. Dick? Sim, conheço, chamaram-me a atenção para ele já depois de ter escrito A Seta do Tempo, não o tinha lido antes. Mas se o mecanismo teve algumas fontes, algumas inspirações, elas terão sido, acima de tudo, Kurt Vonnegut, especialmente um parágrafo de Matadouro Cinco. E também um conto de Fitzgerald, “The Curious Case of Benjamin Button”, na altura, antes da adaptação cinematográfica, menos conhecido. E um outro conto, uma fantasia brilhante de Isaac Bashevis Singer, cujo título não recordo [nota: “Jachid and Jechida”], mas que mostra exemplarmente e em pouquíssimas páginas, a agonia e o absurdo de uma vida vivida ao contrário.
E o meu pai era um grande apreciador de ficção científica, como diz, e um apreciador informado. Chegou a escrever um livro de crítica sobre o género, New Maps of Hell. A Seta do Tempo foi talvez o único dos meus romances de que ele gostou realmente. Que conseguiu ler até ao fim, aliás. E tenho a certeza de que foi esse verniz de ficção científica, a inventividade da premissa central, que lhe agradou.
Há alguns elementos de ficção científica em outras obras suas. Mais em London Fields, talvez, mas também em alguns contos.
Sim, li bastante ficção científica quando era mais novo, e quando escrevi crítica literária para jornais com mais frequência, recenseei muitos autores associados à ficção científica.
Sempre esperei, tendo em conta a sua preocupação com desastres em grande escala, que um dia escrevesse um romance-catástrofe, como aqueles de J. G. Ballard.
Sim, Ballard… sempre achei que era o aspecto mais poético das catástrofes que lhe interessava, a possibilidade de descrever paisagens alteradas, especialmente naqueles romances iniciais, The Drowned World, The Crystal World, etc. Mais do que as ideias, o que funcionava realmente na ficção dele era a cadência hipnótica da prosa. E mesmo na ficção científica, o objectivo do escritor não deve ser a presciência, a capacidade de adivinhar o que vem aí. É uma função demasiado arbitrária. Don DeLillo será talvez o escritor com maior taxa de sucesso. O próprio Ballard enfiou-se em alguns becos sem saída. A sua teoria, a dada altura, é que a próxima revolução social violenta seria por causa de lugares de estacionamento E achava que o grande perigo do séc. XXI seria uma espécie da apatia provocada por demasiada prosperidade. O que já não parece muito provável.
A ficção científica é território muito intrigante, mas no qual nunca me senti em casa. Escrevi um conto cuja acção decorre em Marte, mas mesmo esse é, na verdade, um conto sobre pedofilia, e não propriamente uma exploração honesta das possibilidades da ficção científica.

Martin Amis em 1977
Já o Holocausto permaneceu um tema cujas possibilidades ficcionais não conseguiu esgotar. E voltou a escrever outro romance sobre o tema, A Zona de Interesse. Um dos factos mais surpreendentes que aprendi livro foi a motivação aparentemente quase empresarial de todo o processo.
Sim, para mim também. A maneira como tentaram organizar um genocídio lucrativo, ou pelo menos que conseguisse autofinanciar-se. Apesar disso, acho que na sua essência era uma visão bio-médica. Como escreveu Robert Jay Lifton, em Os Médicos Nazis, essa é a chave para entender o que se passou. Eles viram o Holocausto como um programa de higiene nacional.
E há aquele pormenor quase horrivelmente perfeito: o facto de os passageiros nos comboios para Auschwitz pagarem o próprio bilhete. Não usou esse pormenor em A Seta do Tempo porque não o conhecia na altura? Ou porque parecia demasiado delirante e “inventado”?
É verdade, havia um preçário, as crianças pagavam meio bilhete. Foi algo que só soube muitos anos depois de A Seta do Tempo, a fonte foi o livro de Niall Ferguson, The War of the Worlds. Mas a ideia de que toda aquela empreitada foi feita enquanto se contavam tostões continua a parecer-me delirante.
Em A Zona de Interesse notei uma frase que recorre com alguma frequência na sua obra: a ideia de uma pessoa “acossada por noções elementares”. Já tinha aparecido em A Informação (1995), onde é usada como caricatura da maneira como um escritor observa o mundo: nunca aceitar nada como garantido – “Porquê cidades? Porquê carros?”, etc. O mecanismo de A Seta do Tempo, no entanto, deve ter exigido essa forma caricatural de observação enquanto escrevia, não? Perceber como é que tudo funciona, e porquê.
Ultimamente tenho dado aulas de escrita na Universidade de Nova Iorque, e costumo contar uma história pessoal. Havia uma série televisiva nos anos 70 ou 80, em que a personagem principal era um poeta, e que eu e o meu pai costumávamos ver religiosamente apenas para escarnecermos. Rejeitávamos com veemência aquela imagem romantizada do artista, e a série tinha muitas cenas do género: o poeta pegava numa laranja e ficava cinco minutos a olhar para ela, com uma expressão muito pensativa e sonhadora. É ridículo… mas a verdade é que é mais ou menos isso que o escritor faz. Tem de aprender o truque de observar qualquer objecto como se o estivesse a ver pela primeira vez. É fácil de parodiar, e parece ingénuo e sentimental de uma forma quase enjoativa, mas a verdade é que é mesmo a base do processo.
E creio que a composição de A Seta do Tempo exigiu isso mais do que outros, sem dúvida. Tive de examinar as componentes individuais de cada gesto, de forma a descrever o movimento inverso. Como é que uma pessoa se levanta de uma cadeira, como é que uma pessoa come, etc. Foi um regresso forçado a esse mundo das noções elementares. Em A Zona de Interesse, no excerto em questão, a personagem acredita que é o amor que nos devolve às noções elementares. Há uma relação impossivelmente complexa entre a arte e o amor. E seria reconfortante pensar, como ele pensa, que a arte ou o amor são suficientes para nos forçar a ver o mundo sem noções pré-determinadas, sem clichés, sem hábitos herdados.
O efeito mais destabilizador em A Seta do Tempo acaba por ser uma consequência directa da confluência entre esse mecanismo e o tema. Por um lado já sabemos o que vai acontecer, historicamente, por outro estamos a divertir-nos, porque a inversão da cronologia provoca efeitos predominantemente absurdos e cómicos. Nas primeiras páginas, o livro é cómico, e uma parte de nós quer que continue a ser cómico.
Percebo. Não foi uma reacção planeada, mas sim, talvez uma consequência inevitável da maneira como a história é contada. Se algum dia tivesse oportunidade, gostava de passar uns dias… Lembro-me de algumas piadas mais grosseiras que gostaria de eliminar. Mas a maneira como tento justificar essa discrepância é com o outro mecanismo narrativo, o facto de o livro ser narrado pela alma do protagonista. Quando o protagonista é velho, o narrador é novo, acabou de nascer. Daí a sua exuberância, a sua alegria. Mas sim, a ideia com que fiquei é que as páginas iniciais talvez sejam demasiado espirituosas.
O efeito lembrou-me o seu conto inspirado por Borges, “The Immortals”, onde também há um mecanismo cómico a funcionar (as dificuldades de uma criatura imortal para evitar o tédio ao longo de milénios) antes de um desenlace apocalíptico.
Sim, e escrevi esse conto pouco tempo antes, curiosamente. Mas talvez o problema técnico seja o mesmo: talvez seja necessário para a minha imaginação esgotar primeiro as possibilidades cómicas do tema, ou pelo menos reconhecê-las, identificá-las, antes de avançar para aquilo que quero realmente dizer. E nesses dois casos era inevitável: quando alteramos a ordem temporal, abrem-se automaticamente possibilidades cómicas tremendas. É difícil resistir-lhes.
Há outra semelhança. O suicídio é um tema recorrente na sua obra: Money (1984) tinha como sub-título “Uma nota de suicídio”; A Casa dos Encontros (2006) é uma longa nota de suicídio; Night Train (1997) é uma intriga mais ou menos policial à volta de um suicídio. Mas tanto no conto “The Immortals” como em A Seta do Tempo criou duas personagens, e duas condições, em que o suicídio é o único acto que não é opção.
E mais uma vez, o romance que estou a escrever agora está repleto de referências ao suicídio. Tem sido uma preocupação constante, de facto. Sinto que é um tema que desperta universalmente certas emoções – o medo, o terror, a compaixão – que são a as mesmas emoções catárticas da tragédia clássica, e que sempre ocupou um espaço permanente na minha cabeça, um interesse não inteiramente académico. Embora nunca tenha sido, convém esclarecer, uma opção que ponderei activamente.
Quando entrevistou Kurt Vonnegut e ele disse-lhe quase o contrário, que no caso dele representava antes de mais uma opção, um instrumento hipotético para resolver problemas.
Pois foi. E deu-me exemplos concretos: tenho uma infiltração de água em casa, o que fazer? Já sei, vou dar um tiro nos miolos. Era a primeira solução que lhe ocorria, nunca a última. Não posso dizer que seja o caso comigo, mas o impulso para o suicídio pode assumir muitas formas.
Em A Seta do Tempo presumi que a impossibilidade de suicídio era em parte uma glosa sobre livre arbítrio. Até porque foi uma das defesas mais usadas pelos criminosos de guerra nazis, a desresponsabilização: não havia nada a fazer, tinha as mãos atadas, estava só a cumprir ordens, etc.
Talvez, sim. Usando uma forma diferente de desresponsabilização, poderia dizer que não me ocorreu essa leitura. Mas também não é a tarefa do autor, prever todas as leituras, ou responsabilizar-se por elas. Quantas mais, melhor.
Numa entrevista logo a seguir à publicação de A Zona de Interesse, disse que nunca parou de ler sobre o Holocausto, embora nunca tenha sentido estar mais próximo de compreender o fenómeno. E agora, já parou?
Julguei que tinha parado. Mas afinal, o livro que estou a escrever, ao contrário do que pensei inicialmente, parece resvalar um pouco para aí. Há alguma exploração da personalidade de Hitler, algo que não tentei nem em A Seta do Tempo nem em A Zona de Interesse. Mas ocorreu-me depois de terminar o último que, se algum dia viesse a completar a “trilogia”, a única opção que resta seria aventurar-me por aí.
Quando A Viúva Grávida saiu, lembro-me de ter dito que tinha sido fruto de um projecto abortado, um romance autobiográfico sobre alguns escritores que conheceu pessoalmente, nomeadamente Philip Larkin e Saul Bellow. Esse projecto ficou definitivamente pelo caminho?
Não, na verdade é mais ou menos isso que tenho estado a tentar ressuscitar. É a outra metade do livro actual. É autobiográfico, mas não propriamente sobre mim. É sobre Philip Larkin, Saul Bellow e Christopher Hitchens. Um poeta, um romancista, um ensaísta.
E o Hitler. Podia ser o princípio de uma anedota.
Enfim, e o Hitler. E sendo autobiográfico, suponho que será sobre mim também, mas suspeito que menos sobre mim do que sobre os outros.
[a fotografia de Martin Amis é de Tom Craig]

















