Na semana passada, Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, já tinha manifestado apreensão perante o apoio dos EUA à oposição venezuelana: “O que temos ouvido [da parte dos EUA] sugere a possibilidade de intervenção militar na Venezuela […] Tudo isto é muito alarmante”. E, num recado, proclamou que “devemos evitar qualquer tipo de ingerência nos assuntos internos dos Estados soberanos”.
Com o aumento da tensão na Venezuela entre Governo e oposição, o reconhecimento oficial pelos EUA de Juan Guaidó, líder da oposição, como presidente interino do país e a determinação explícita da administração Trump em recorrer a “todas as opções” de forma a fazer Maduro abandonar o poder, a Rússia reforçou a 24 de Janeiro a advertência aos EUA, com Sergei Ryabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, a prognosticar que uma intervenção americana na Venezuela seria “um cenário catastrófico”.
O próprio Nicolás Maduro não hesitou, esta quinta-feira, em denunciar a “ingerência” dos Estados Unidos na Venezuela, dizendo que há no ar um cheiro dos Estados Unidos do passado: “É Donald Trump, na sua loucura de querer ser polícia do mundo, de querer ser o manda-chuva da América Latina”.
Mas estará Trump realmentete empenhado em recorrer a “todas as opções” na crise venezuelana, contrariando a sua postura genérica na política internacional?
Depois de, a 20 de Dezembro, ter anunciado, inesperadamente, a retirada imediata das forças americanas na Síria, Donald Trump justificou a sua decisão no dia seguinte através de vários tweets. Num deles perguntava:
“Os EUA querem ser o polícia do Médio Oriente, sem ganhar NADA e despendendo vidas preciosas e triliões de dólares a proteger gente que, na maior parte dos casos, não mostra reconhecimento pelo que estamos a fazer? Queremos ficar lá para sempre? É tempo de outros finalmente começarem a lutar…”.
É certo que muitos países têm beneficiado da actuação dos EUA como Globocop, mas outros têm também sofrido com as suas intervenções para manutenção da ordem — e não é verdade que os EUA não tenham ganho “NADA” com o desempenho dessa missão. Para enquadrar a posição de Trump é instrutivo recuar até aos primórdios da história dos EUA e acompanhar a luta entre as tendências “isolacionista” e “intervencionista” até ao nosso tempo. Se, ou quando, for preciso tomar uma decisão difícil sobre a Venezuela, uma delas vencerá.
Síria, 2018
Antes de mais, há que precisar que o dispêndio de “vidas preciosas” de militares americanos na Síria, invocado por Trump, tem sido assaz modesto face à intensidade dos combates naquele país: em quatro anos registaram-se cinco mortos, três deles em acidentes e não em combate – não é propriamente a Guerra do Vietname.
Noutro tweet , Trump gabava-se “Fiz, de longe, mais estragos ao ISIS do que todos os presidentes recentes!”, uma afirmação duplamente hiperbólica: por um lado, o ISIS só ganhou visibilidade em 2014, o que reduz “todos os presidentes recentes” a Barack Obama; por outro, desde 2015, que, sob o ataque (nem sempre concertado) de várias forças internacionais (a que se somam diversos grupos sírios e curdos), o ISIS tem vindo a perder território no Iraque e na Síria, pelo que o seu presente estado debilitado está longe de resultar exclusivamente da actuação de Trump, que só assumiu a presidência em 2017.

Agosto de 2017: A cidade de Raqqa, na Síria, após os violentos combates entre as forças da oposição síria (Forças Democráticas da Síria) e as do Daesh/ISIS
Só o tempo permitirá avaliar o acerto ou desacerto da retirada americana, mas há indicações de que – como quase tudo na actuação de Trump – não terá sido devidamente ponderada e que terá resultado de uma reacção intempestiva a um telefonema de Recep Tayyip Erdoğan: “OK, [o ISIS] fica para vocês” terá dito ao presidente turco – e as reacções à decisão sugerem que ela será contrária aos interesses dos EUA. Por um lado, o Secretário da Defesa americano, o general James Mattis, entendendo que a presença das forças americanas na Síria não deveria ter lugar antes da completa supressão do que resta do ISIS, ainda tentou convencer Trump a rever a sua posição e, não o tendo conseguido, apresentou a sua demissão (e Trump, que não tolera ser contrariado e é um poço de mesquinhe e rancor, vingou-se antecipando a data de demissão de Mattis em dois meses).
É oportuno recordar que quando James Mattis foi escolhido por Trump para Secretário da Defesa foi apontado pela imprensa e comentadores de inclinações liberais como exemplo da gente radical de que Trump estava a rodear-se – Mattis tinha fama de proferir declarações polémicas (como “É divertido matar algumas pessoas”), o que lhe valeu o cognome de “Mad Dog”. Porém, após dois anos de dislates presidenciais, o “cão raivoso” foi elogiado pela mesma imprensa e comentadores como um estadista ponderado e a sua saída foi descrita como a saída “do último adulto da sala” (isto é, a última pessoa responsável que restava na Casa Branca).

Chegada de James Mattis ao aeroporto de Kandahar, Afeganistão, Dezembro de 2001 (Foto: AP /Dave Martin, Pool)
Por outro lado, o anúncio da retirada da Síria por Trump mereceu o aplauso da Rússia e do Irão, que considerou que a presença militar americana na Síria tinha sido, desde o princípio, “errada, ilógica e geradora de tensão”. Não há melhor indicação sobre a insensatez de uma medida de um estadista, do que vê-la vigorosamente contestada pelo membro mais fiável da sua entourage e entusiasticamente acolhida pelos seus adversários figadais.
A retirada da Síria e a anunciada intenção de deixar de ser “o polícia do Médio Oriente” enquadra-se na perspectiva de Trump de que os EUA deverão evitar envolver-se em conflitos que não ameacem directamente território ou interesses norte-americanos. Esta posição isolacionista (ou não-intervencionista) tem uma longa história na política americana e tem alternado com um desmedido apetite para exercer controlo económico, político e militar sobre boa parte do planeta. Do historial das intervenções americanas como polícia global, que daria para encher milhares de páginas, apresentam-se em seguida alguns exemplos.
Costa da Berbéria, 1801
As duas Guerras da Berbéria (ou Guerras Berberes) foram a estreia da muito jovem nação americana no papel de Globocop. Por essa altura, as três entidades políticas na Costa da Berbéria, ou seja o beylik de Tunis, a Regência de Argel e o beylik de Tripoli (correspondendo a territórios hoje incluídos na Tunísia, Argélia e Líbia, respectivamente) faziam, formalmente, parte do Império Otomano, mas como o poderio deste estava em declínio, elas eram, na prática, autónomas e usavam essa liberdade para se dedicarem à pirataria, uma ancestral tradição que vinha do século XVI e com a qual Portugal também sofreu.
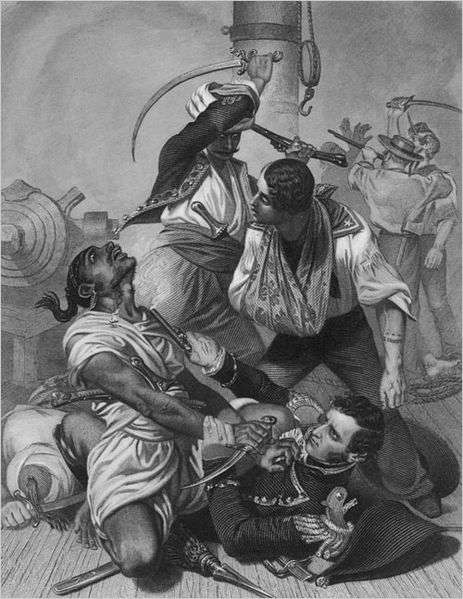
Marinheiros americanos lutam com piratas berberes
A pirataria berbere tinha as particularidades de 1) fazer escravos os tripulantes e prisioneiros dos países apresados e exigir avultadas somas pelo seu resgate e de 2) cobrar aos países pela “protecção” dos seus navios – no ano de 1800 a despesa nestas duas “rubricas” representou 20% do orçamento federal dos EUA, pelo que o presidente Thomas Jefferson entendeu que a situação era insustentável e cessou o pagamento de tributo, aliando-se à Suécia, que também era afligida por problema similar, para meter na ordem os piratas.
Foi assim que, algo ao arrepio do que a geografia ditaria, forças navais suecas e americanas se dirigiram para o Mediterrâneo Ocidental. Os suecos saíram de cena logo em 1802, resignando-se a assinar um tratado que não lhes era muito favorável, e os americanos prosseguiram a guerra até 1805, com a ajuda de mercenários recrutados em vários portos do Mediterrâneo, já que o poderio naval dos EUA era então incipiente.

A fragata americana Philadelphia em chamas, no porto de Tripoli, a 16 de Fevereiro de 1804, durante a I Guerra da Berbéria, num quadro de 1897 por Edward Moran. A Philadelphia tinha sido capturada pelos tripolitanos após ter encalhado, mas uma equipa de 80 marines comandada pelo tenente Stephen Decatur entrou no porto de Tripoli e incendiou-a
A sorte das armas produziu resultados variáveis e desgaste para ambas as partes, resultando na assinatura de um tratado de paz em 1805, seguido de troca de prisioneiros entre os beligerantes – os EUA não só tiveram de pagar resgate correspondente ao diferencial de prisioneiros como se conformaram-se em voltar a pagar pela “protecção”. Isto não impediu que, passado algum tempo, os ataques de piratas contra navios americanos fossem retomados, levando a que os EUA, em 1815 – após se terem desenvencilhado de mais um conflito com a Grã-Bretanha, em 1812 – voltassem a declarar guerra aos estados da Costa Berbere, conseguindo desta vez uma vitória mais expressiva, de forma que o tratado de paz libertou o país do pagamento de “protecção”.

Forças americanas comandadas pelo tenente Stephen Decatur abordam o navio berbere Tripoli, durante a batalha de Tripoli, a 3 de Agosto de 1804
Todavia, os EUA estavam então longe de ser uma potência militar e foi necessária a intervenção, em 1816, de dois “polícias” experimentados e robustos – a Grã-Bretanha e a Holanda – para que soasse o dobre de finados para a pirataria berbere. Os bey de Tunis e Tripoli cederam rapidamente à pressão anglo-holandesa e a resistência do bey de Argel foi quebrada por um bombardeamento de nove horas sobre a sua cidade, na noite de 26 para 27 de Agosto de 1816, levado a cabo por uma frota anglo-holandesa comandada por Lord Exmouth.

Bombardeamento de Argel em 1816. Quadro de Martin Schouman, 1823
EUA, 1823
Sete anos após o término da Guerra da Berbéria, o presidente James Monroe expôs perante o Congresso, no Discurso do Estado da União, a sua visão do posicionamento dos EUA em termos de relações internacionais: considerava que “os continentes americanos, pelo livre e independente estatuto que assumiram e mantêm, não serão considerados, daqui em diante como passíveis de futura colonização por qualquer potência europeia” e que os EUA consideravam “qualquer tentativa [dessas potências] para estender o seu domínio a qualquer parte deste hemisfério como uma ameaça à paz e segurança”. Em contrapartida, os EUA asseguravam que não iriam interferir com as colónias já existentes de qualquer potência europeia.

James Monroe por Samuel Morse, c.1819
Esta tomada de posição – que ficou conhecida como Doutrina Monroe a partir de meados do século XIX, ainda que o seu redactor tenha sido o Secretário de Estado John Quincy Adams – não surgiu em 1823 por mero acaso. Por esta altura, os principais países da América Central e do Sul tinham obtido a sua independência ou estavam em vias de obtê-la e o território do Novo Mundo sob controlo europeu tornara-se residual. Era pois o momento apropriado para os EUA reclamarem a América como sua área de influência exclusiva, ao mesmo tempo que assegurava às potências europeias que não tinha pretensões fora do continente americano.

John Quincy Adams por Gilbert Stuart, 1818
O incipiente estado de desenvolvimento das forças armadas dos EUA à data tornava estas proclamações assaz presunçosas aos olhos das potências europeias, que reagiram a elas com indiferença ou desdém – a excepção foi a Grã-Bretanha, que via favoravelmente a perda de poder do seu antigo rival espanhol sobre a América Central e do Sul, abrindo assim estes mercados às empresas britânicas, pelo que via como positivo que os EUA estivessem vigilantes contra qualquer veleidade espanhola de recuperar parte do império perdido. Seja como for, a insignificância militar dos EUA não impediu que, durante algumas décadas, as potências europeias (e em particular, a Grã-Bretanha) interferissem na geopolítica americana e até reclamassem alguns territórios como colónias, sem que os EUA lhes tivessem feito frente.
Mas, por outro lado, os EUA também começaram a dar mostras que pretendiam estender a sua influência bem para lá do continente americano: em 1842, após uma tentativa fracassada da Grã-Bretanha para depor os governantes do reino do Hawaii e tomar conta do arquipélago, o presidente americano John Tyler invocou a Doutrina Monroe para reclamar este território para a esfera de influência dos EUA – embora Honolulu ficasse 3700 Km a sudoeste de São Francisco. Mas o conceito de “esfera de influência” dos EUA não tardaria a dilatar-se ainda mais.

John Tyler, c.1860
Japão, 1853
O Japão viveu durante séculos num isolamento apenas quebrado por um comércio limitado com a China e, depois, com Portugal e a Holanda. Se no comércio com a China, foi quase sempre esta a determinar os termos das relações sino-nipónicas, com Portugal e a Holanda foi o Japão a impor regras muito restritivas (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 2).
A situação sofreu uma reviravolta em 1853, quando o comodoro Matthew Perry entrou na Baía de Tóquio capitaneando uma pequena frota americana, a fim de cumprir uma missão de que fora incumbido pelo presidente Millard Fillmore: a abertura dos portos japoneses aos EUA. Houve várias razões para esta decisão e uma delas prendia-se com o facto de o domínio naval depender, naqueles tempos, da existência de uma rede de postos de abastecimento em carvão e de os dois Globocops séniores – Grã-Bretanha e França – já terem assegurado o controlo dos principais pontos-chave do Extremo Oriente.
Perry entregou uma carta ameaçadora aos governantes japoneses e disparou uma salva de pólvora seca com todos os canhões da frota para mostrar a superioridade naval americana (na altura, alegou que estava a celebrar o Dia da Independência dos EUA, embora este tivesse ocorrido alguns dias antes).

Americanos e japoneses, Shimoda, Japão, 1854. Litografia da série Graphic scenes of the Japan Expedition publicada em 1856 por Wilhelm Heine (também conhecido como William Heine), um artista de origem alemã que integrou a expedição de Perry ao Japão
Perry deu aos japoneses algum tempo para pensar – o shogun estava enfermo e os seus conselheiros e aliados estavam divididos sobre a resposta a dar aos americanos – e, após ter ido prospectar a costa da China e a ilha de Formosa (cuja ocupação sugeriu ao Governo americano), regressou à Baía de Tóquio em 1854, com uma frota reforçada. Os japoneses, conscientes da sua inferioridade tecnológica no domínio bélico, não tiveram outro remédio senão ceder a praticamente todas as exigências de Perry – a 31 de Março foi assinado o Tratado de Kanagawa, que pôs termo à política nipónica de isolamento e fez as outras potências apressarem-se a celebrar acordos semelhantes com o Japão (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 3).

Litografia da série Graphic scenes of the Japan Expedition, por Wilhelm Heine: A paisagem e as figuras humanas são japonesas, mas na baía ao fundo distinguem-se as silhuetas de quatro navios ocidentais
Alaska, 1867
Nem sempre é fácil traçar uma distinção entre a vocação para o policiamento do mundo e a ambição imperial. Esta última compreendia, nos impérios tradicionais, a aquisição de território, mas no caso dos EUA, provavelmente por terem nascido como uma colónia que se libertou do jugo de um colonizador, a sua Constituição interdita que o país possua colónias. Não interdita, todavia, a expansão territorial, o que os EUA fizeram com denodo, ao longo do século XIX, dilatando em muito a área original das “13 colónias” que tinham declarado independência da Grã-Bretanha em 1775 (ver Ainda há americanos na América? e Esta estrada leva a Clintonville ou a Trump City?).

O Leste da América do Norte, quando da Declaração de Independência, em 1775: a vermelho, as 13 colónias; a rosa, outros territórios formalmente sob controlo britânico
A expansão dos EUA até ao Oceano Pacífico – e, quiçá, também até ao Oceano Árctico – passou a ser vista como natural, desejável e inevitável, uma ideia que cristalizou no conceito de “Manifest Destiny”, que atribui ao povo e instituições americanas qualidades especiais que habilitam os EUA a exercer uma missão civilizadora. O “Manifest Destiny” teve representação pictórica no quadro “American Progress” (1872), de John Gast, e está bem patente nas palavras do jornalista John O’Sullivan, um ardente promotor do expansionismo americano, a propósito do “direito” dos EUA ao Oregon: “Essa reivindicação decorre do nosso manifesto destino para nos expandirmos e tomar conta de todo o continente americano, que a Providência nos confiou para que nele levássemos a cabo o grande cometimento da liberdade e da auto-governação federada”.

“American Progress”, de John Gast
Foi assim que o território dos EUA reconhecido pela Grã-Bretanha através do Tratado de Paris (que, em 1783, pôs termo à Guerra da Independência) foi triplicado nos 70 anos seguintes, através de uma agressiva política de aquisições, conquistas, negociações e intimidação. A sua principal vítima foi o México, que na Guerra Mexicano-Americana de 1846-48 perdeu 55% do seu território (correspondentes aos actuais estados da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas e parte do Colorado) em favor do bully do norte e passou pela humilhação de ver a Cidade do México ocupada por tropas americanas. Em troca, os EUA pagaram ao México 15 milhões de dólares, a titulo de indemnização pelos estragos causados pelas suas tropas.

Território mexicano perdido para os EUA a branco
A devastadora Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, desviou a atenção e as energias do ímpeto expansionista, mas a verdade é que, à data do início do conflito já não havia espaço para expansão – pelo menos em contiguidade territorial. É de assinalar que, embora as guerras civis noutros países americanos tenham servido sistematicamente de pretexto para intervenções “pacificadoras” pelos EUA, durante a Guerra Civil Americana nem o México nem as Honduras se propuseram repor a ordem nos EUA.

Expansão territorial dos EUA: a castanho, o território dos EUA de acordo com o Tratado de Paris
Quando a guerra terminou, o apetite imperialista americano, guiado por William H. Seward, que foi Secretário de Estado de Abraham Lincoln e do seu sucessor, Andrew Johnson, voltou-se para territórios mais distantes. Seward deu um golpe de mestre na aquisição do Alaska à Rússia, em 1867, mas fracassou no intento de adquirir a Gronelândia e a Islândia. Andou em “prospecção” pelas Caraíbas em busca de novos territórios ou, pelo menos, de locais para instalação de bases navais, e, em 1867, chegou a redigir um tratado com a Dinamarca para aquisição das Índias Ocidentais Dinamarquesas, que nunca foi assinado (o território acabaria por, em 1916, ficar sob controlo dos EUA, com o nome de Ilhas Virgens Americanas). Frustrado sairia também o intento de Seward de adquirir a Baía de Samaná, na República Dominicana.

Assinatura do tratado que transferiu a posse do Alaska da Rússia para os EUA; sentado, ao centro William H. Seward. Quadro de Emanuel Leutze, 1867
EUA, 1890
Quando, em 1879, rebentara a Guerra do Pacífico (também conhecida como Guerra do Salitre), opondo o Chile à aliança Bolívia-Peru, os EUA, que já começavam a assumir o papel de polícia do continente, enviaram para Callao, no Peru, um navio de guerra comandado pelo capitão Alfred Thayer Mahan, a fim de defender os interesses americanos que pudessem ser postos em causa pelo conflito.
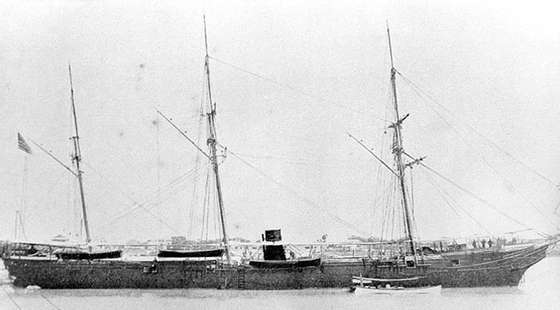
O Wachusett, o navio comandado por Mahan na costa peruana, numa foto de 1867
As leituras realizadas por Mahan nos seus momentos de ócio no clube britânico de Lima, no Peru, levaram-no a formular conceitos geo-estratégicos que viria a desenvolver no livro A influência do poder naval na história: 1660-1783, publicado nos EUA em 1890, quando Mahan detinha o cargo de presidente do US Naval War College. As prelecções de Mahan no Colégio Naval e os livros que publicou sobre o tema do poder naval fizeram dele o mais influente estratega americano do século XIX, para o que também terá contribuído a amizade que travou com o Secretário Adjunto da Marinha (e futuro presidente dos EUA) Theodore Roosevelt. O pensamento de Mahan ganhou curso também fora dos EUA, uma vez que, na Alemanha, o almirante Tirpitz aderiu a ele e usou os argumentos de Mahan para convencer a Alemanha a desenvolver uma frota capaz de ombrear com a Royal Navy: fez traduzir para alemão A influência do poder naval na história e distribuiu 8.000 exemplares gratuitamente, como forma de pressionar os decisores e a opinião pública por ocasião da discussão no Reichstag do orçamento para a marinha de guerra alemã.
A visão geoestratégica de Mahan presumia que o poder de uma nação assentava na sua marinha e que esta necessitava de uma rede de bases navais e estações de reabastecimento de carvão criteriosamente localizada. Entre as acções que Mahan preconizava para reforçar o poder naval dos EUA estava também a construção de um canal entre o Atlântico e o Pacífico na América Central e a anexação do Hawaii. Ambas as medidas seriam concretizadas em poucos anos.
Hawaii, 1893
Desde que, em 1842, o presidente Tyler reclamara o Hawaii para a esfera de influência dos EUA, o arquipélago foi tornando-se cada vez mais vinculado aos EUA, embora se mantivesse independente do ponto de vista formal. Este estatuto foi ameaçado em 1893 por um golpe de estado contra a rainha Lili’uokalani, montado por residentes estrangeiros (maioritariamente americanos).

Lili’uokalani, a última rainha do Hawaii, reinou entre 1891 e 1893. Foto c.1891
A pretexto de repor a ordem e proteger as vidas e bens dos residentes americanos, os EUA fizeram desembarcar tropas que, embora não tomando partido no conflito, contribuíram na prática para consolidar o triunfo dos revoltosos, que tinham como principal objectivo a anexação das ilhas pelos EUA. O Governo Provisório instituído pelos revoltosos deu lugar à República do Hawaii, que durou apenas entre Julho de 1894 e Agosto de 1898, altura em que William McKinley, o novo presidente dos EUA, formalizou a anexação, a pretexto do risco de o Japão se apoderar das ilhas e de ser conveniente possuir uma base naval no Pacífico para apoiar as operações em curso contra Espanha, país com que os EUA estavam em guerra desde Abril de 1898.
Venezuela, 1895
Mas, entretanto, em 1895, os EUA já tinham tido oportunidade de demonstrar que não só levavam a sério a Doutrina Monroe como o extraordinário desenvolvimento do país ocorrido desde 1823 os colocava em posição de a fazer aplicar.
Há meio século que a Venezuela mantinha um diferendo com a Grã-Bretanha a propósito do traçado da fronteira com a Guiana Britânica (que é hoje, e desde 1966, um país independente conhecido apenas como Guiana).

O diferendo fronteiriço: a Venezuela pretendia que a fronteira fosse definida pela linha negra à direita, que acompanha o curso do Rio Esequibo, a Grã-Bretanha reclamava o território delimitado pela linha cinzenta mais para a esquerda; as linhas coloridas intermédias correspondem a outras soluções de partição
Ambos os países reclamavam o controlo sobre a chamada Guayana Esequiba e os EUA acabaram por envolver-se no assunto, através do senador William Scruggs, que fazia lobby pelos venezuelanos e apelou ao presidente Grover Cleveland para que fizesse valer a Doutrina Monroe. O Secretário de Estado Richard Olney subscreveu a posição de Scruggs numa tomada de posição que dilatou a interpretação inicial da Doutrina – no entender de Olney “os EUA são hoje praticamente soberanos neste continente e os seus decretos têm valor de lei […] Os seus recursos infinitos, combinados com a sua posição isolada tornam-no senhor da situação e praticamente invulnerável face a qualquer potência”. Ou seja, os EUA não reclamavam apenas o direito a opor-se à criação de novas colónias europeias na América ou a iniciativas que representassem ameaças aos seus interesses – assumiam que tudo o que se passasse no continente lhes dizia respeito.

Richard Olney, em 1913
A Grã-Bretanha, ao aceitar que os EUA desempenhassem o papel de árbitro no diferendo, reconheceu implicitamente a interpretação da Doutrina Monroe feita pelo Secretário de Estado Richard Olney. A mediação americana permitiu que o assunto fosse resolvido não pela força mas por um tribunal arbitral em Paris, que – algo ironicamente – em 1899 acabou por dar validar quase na íntegra a pretensão territorial britânica.

O presidente Cleveland dá uma ensinadela ao leão britânico: cartoon de J.S. Pughe no semanário satírico Puck, 1895
Cuba, 1898
Em 1898, os únicos territórios que restavam do vasto império colonial espanhol no Novo Mundo eram Cuba e Porto Rico. Os cubanos estavam, naturalmente, impacientes por imitar os restantes povos americanos e os EUA viam com simpatia a sua luta pela independência, que colocara a ilha em polvorosa em 1868-78 (a Guerra dos Dez Anos) e em 1879-80 (a Guerra Chiquita ou Pequena Guerra) e se reacendera em 1895.
A Doutrina Monroe garantia que os EUA respeitariam o estatuto das colónias europeias já existentes no continente, mas, à medida que o seu poderio crescia, os EUA estavam a começar a ver todo o continente como susceptível de ser moldado em função da sua visão e dos seus interesses – e as Caraíbas estavam a tornar-se num local apetecível para os empresários e militares americanos. Por outro lado, os cubanos pró-independentistas exilados na Florida – entre os quais se contava o lendário José Martí e o futuro primeiro presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma – eram muito activos e contribuíram, com os jornais sensacionalistas de William Randolph Hearst, para colocar a opinião pública americana a favor da causa independentista, ao mesmo tempo que faziam intenso lobbying em Washington.

Cartoon de Grant E. Hamilton na revista americana Judge de 2 de Fevereiro de 1897: Columbia (figura alegórica representando o povo americano) acorre, compadecida, em socorro do povo cubano, brutalmente reprimido pelos espanhóis, empregando métodos repressivos dignos do século XVI, enquanto o Tio Sam faz de conta que o assunto não é com ele, embora disponha dos meios para intervir
Sendo esta a disposição geral, os EUA só precisavam de um pretexto para dilatar mais um pouco a Doutrina Monroe – e ele surgiu quando, a 15 de Fevereiro de 1898, o couraçado americano Maine explodiu no porto de Havana e se afundou, causando a morte de 253 tripulantes. As causas da explosão nunca foram esclarecidas, mas o fenómeno foi interno (provavelmente um acidente nos paióis) e não terá resultado de um acto deliberado dos espanhóis, como os jornais de Hearst se apressaram a insinuar, atiçando ainda mais a opinião pública contras os espanhóis.

O Maine entra no porto de Havana a 25 de Janeiro de 1898, três semanas antes da explosão fatal
O presidente William McKinley cedeu à pressão da opinião pública e do lobbying político e, invocando o incidente do Maine – “uma patente e impressionante prova de que o estado das coisas em Cuba se tornou intolerável” – solicitou ao Congresso autorização para intervir em Cuba, “em nome da humanidade, em nome da civilização, em nome dos interesses americanos ameaçados, que nos conferem o direito e o dever de falar e agir”. McKinley propunha-se obter a “completa e definitiva cessação das hostilidades e providenciar o estabelecimento de um governo estável, capaz de manter a ordem, cumprir as obrigações internacionais e assegurar a paz e a tranquilidade, tanto dos seus cidadãos como dos nossos”.

William McKinley, c. 1900
O Congresso deu autorização para o recurso à força, mas na condição, expressa na Teller Amendment, proposta pelo senador Henry M. Teller, de que as forças americanas seriam retiradas de Cuba após o fim do conflito e que não deveria ser considerada a possibilidade de anexação da ilha. A Teller Amendment sugere a ausência de ambições expansionistas pela parte dos EUA, mas também pode ter leitura mais cínica: os produtores de açúcar dos EUA não queriam enfrentar a concorrência do açúcar cubano, que deixaria de pagar tarifas aduaneiras se o território fosse anexado.

Carga das tropas americanas na batalhas das Colinas de San Juan, a 1 de Julho de 1898, num quadro de Frederic Remington
A guerra durou apenas dez semanas e saldou-se numa derrota inequívoca das obsoletas forças espanholas. Como era então usual em guerras travadas por europeus em zonas tropicais, a doença fez 7 a 18 vezes mais mortos do que os combates propriamente ditos. O Tratado de Paris pôs termo às hostilidades e além de atribuir aos EUA o controlo temporário de Cuba, presenteou-os com as restantes possessões espanholas nas Caraíbas – Porto Rico – e no Pacífico – Filipinas e Guam – embora determinasse que, como contrapartida pela perda das Filipinas, os EUA deveriam pagar 20 milhões de dólares a Espanha.

“Bem, nem sei por qual começar”, confessa o Tio Sam, num cartoon de 28 de Maio de 1898 no Boston Globe
Filipinas, 1899
Apesar de a declaração de guerra dos EUA a Espanha ser justificada com a libertação do povo cubano do jugo opressor dos espanhóis e com o (alegado) ataque espanhol ao couraçado Maine em Havana, a primeira batalha da guerra Hispano-Americana teve lugar a 15.000 kilómetros de Cuba – na Baía de Manila, nas Filipinas, a 1 de Maio de 1898.

A batalha da Baía de Manila, numa ilustração da época
É certo que as Filipinas eram uma possessão espanhola e que o seu povo, como o cubano, também vivia oprimido, aspirava à auto-determinação e revoltara-se recentemente contra as tropas coloniais espanholas – mas a libertação dos filipinos nunca fizera parte da argumentação em prol da guerra. O estender da guerra às Filipinas é um momento sintomático: o Globocop começava a arrogar-se o direito de intervir em qualquer lugar do mundo, a coberto de pretextos remotos.
Após os americanos terem destruído a frota espanhola na Baía de Manila, o Exército Revolucionário Filipino tomou conta do arquipélago sem necessidade de grande ajuda americana e a 12 de Junho de 1898 declarou a independência das Filipinas e aclamou Emilio Aguinaldo, um herói da luta independentista, como presidente. Porém, a declaração não foi reconhecida pelos EUA e, por outro lado, a nova República das Filipinas não concordou com os termos do Tratado de Paris, que transferia a posse do arquipélago de Espanha para os EUA. Assim, em Fevereiro de 1899 iniciava-se a guerra entre filipinos e americanos.

Os katipunan (ou katipuneros) eram uma sociedade revolucionária filipina, fundada em 1892, para combater o colonialismo espanhol. Aos olhos dos EUA, no início de 1898, os katipuneros eram valorosos freedom fighters, mas um ano depois já eram considerado terroristas e tratados como tal – um padrão que viria a repetir-se até aos nossos dias
O conflito durou mais de três anos e custou a vida a 4000-6000 combatentes americanos e a 80.000-100.00 combatentes filipinos, bem como a 250.000 a um milhão de civis filipinos, em resultado da fome e de doenças.

Cartoon de Winsor McCay, 1899: Na tentativa de domar as insubmissas Filipinas, o Tio Sam acaba, por inépcia, por ficar amarrado ao imperialismo, enquanto, ao fundo, Espanha se afasta com a sua compensação de 20 milhões de dólares
Durante a campanha filipina, as forças dos EUA não se coibiram de empregar métodos brutais contra os filipinos – entre os quais a “cura de água”, usada como forma de tortura para extrair informações a prisioneiros, um método que seria recuperado pelas forças americanas no século XXI, com a designação bem mais modernaça de waterboarding (nem a tortura escapa ao rebranding).

Cartoon na capa da revista Life de 22 de Maio de 1902: Soldados de vários países europeus contemplam uma “cura de água” infligida por soldados americanos a um filipino e comentam “Os santimoniais yankees já não podem atirar-nos pedras”
A guerra e a República Filipina terminaram oficialmente a 2 de Julho de 1902, ficando os EUA com a tutela do arquipélago e a missão de preparar as Filipinas para a independência – isto é, outra independência que não aquela pretendida pela República Filipina de Emilio Aguinaldo. É que os EUA, por já contarem com mais de 120 anos de independência, sabiam muito bem que tipo de independência convinha aos povos com menos experiência na matéria. Na verdade, os filipinos parecem ter tido dificuldade em assimilar os princípios básicos indispensáveis à auto governação, pois os EUA foram sucessivamente prorrogando o seu protectorado sobre o arquipélago, que só alcançou a independência em 1946.

O Tio Sam dirige-se aos seus novos alunos – Filipinas, Hawaii, Porto Rico e Cuba – nas aulas sobre Civilização: “Muito bem, crianças, irão aprender a matéria, quer queiram quer não. Basta olharem para a turma mais avançada [entre os quais se distinguem os estados do Texas, Arizona, Alaska] e garanto-vos que, dentro de pouco tempo se sentirão tão felizes por estar aqui como eles”. Vale a pena destacar que o índio está remetido a um canto e segura o livro ao contrário – uma referência ao estatuto de menoridade a que os nativos americanos eram relegados – e que há um chinês à porta. Cartoon de Louis Dalrymple, 1899
China, 1900
Não é preciso acreditar em teorias conspirativas para ver a ocupação das Filipinas pelos EUA não como um efeito secundário e inesperado da intervenção americana em Cuba, mas como uma acção premeditada. É que as ambições imperiais dos EUA na Ásia tinham crescido imenso, espicaçadas pela competição com as potências europeias, que, uma vez que a “corrida a África” (“Scramble for Africa”) já tinha encerrado (para desgosto da Alemanha, que tinha entrado tardiamente no jogo), redireccionavam agora a sua avidez para o gigante agonizante que era a China (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 3). E não havia melhor base disponível para defender eventuais interesses americanos na China do que as Filipinas.

Cartoon de 1898 na revista satírica Judge: “Afinal as Filipinas eram só um degrau para chegar à China” e o Tio Sam apronta-se para vender aos chineses os seus produtos, bem como a sua religião e costumes
Quando alguns sectores da sociedade chinesa (encabeçados pela sociedade secreta dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros) se rebelaram contra a crescente ingerência estrangeira nos assuntos da China, os Globocops uniram-se na Aliança das Oito Nações a fim de dar uma lição aos chinocas e os EUA contribuíram com 3000 soldados para esta missão punitiva, num conflito que ficaria conhecido como a Guerra dos Boxers.
Este terminou com mais uma derrota chinesa e embora a guerra apenas tenha causado danos em território chinês, o país ficou obrigado a pagar aos oito Globocops “reparações de guerra” no valor de 450 milhões de tael (17.000 toneladas!) de prata, como forma de compensar a desgastante tarefa do policiamento global. Generosamente, os oito Globocops permitiram que o pagamento fosse escalonado ao longo de 39 anos – o que, graças aos juros, fez a soma subir para quase mil milhões de tael.

Tropas americanas erguem a bandeira dos EUA sobre as muralhas de Pequim, a 14 de Agosto de 1900
Por esta altura, o senador Albert J. Beveridge (1862-1927) tornara-se numa influente figura da política americana, quer pelas suas intervenções quer pelo facto de em 1901 ter sido nomeado para a presidência do Comité dos Territórios do Senado, responsável pela definição do estatuto dos vários territórios que compunham os EUA. Beveridge advogava a anexação definitiva das Filipinas (“as Filipinas são nossas para sempre”), dado que eram “a porta para todo o Oriente”, e perfilhava a crença do “fardo do homem branco”, isto é, que cabia a algumas nações (necessariamente brancas) levar a civilização a todos os povos do mundo (invariavelmente mais escurinhos ou amarelados), se fosse preciso com a ajuda do poder persuasivo das canhoneiras. E entre as nações escolhidas por Deus para essa nobre missão estavam os EUA: “É uma questão racial […] Ele identificou o povo americano como a Sua nação eleita”.
O discurso “Em defesa do Império Americano”, proferido por Beveridge no Congresso, a 9 de Janeiro de 1900, é revelador da mentalidade que presidia (e presidiria durante décadas) à actuação dos EUA como Globocop: “Não abandonaremos a nossa oportunidade no Oriente. Não renunciaremos à nossa parte na missão da nossa raça, mandatária, por graça de Deus, da civilização no mundo […] A Declaração de Independência não nos interdita que façamos a nossa parte na regeneração do mundo”. Claro que a Declaração de Independência não tinha aplicação universal: “aplica-se apenas a povos capazes de auto-governarem-se”, o que não incluía os filipinos, “uma raça de malaios, filhos da barbárie e educados segundo métodos e ideias espanholas”.
Além de justificar o imperialismo americano na Ásia com tão nobres ideais, Beveridge acabou por aduzir razões económicas para tal: “O principal comércio da América deve fazer-se com a Ásia. O Pacífico é o nosso oceano […] Onde poderemos encontrar consumidores para os nossos excedentes? A geografia dá-nos a resposta: a China é o nosso cliente natural”. É um discurso que se torna hilariante quando lido à luz das relações comerciais entre a China e os EUA nas últimas décadas e à designação da China como inimigo comercial n.º 1 pelo presidente Trump.
Pela mesma altura, o historiador Brooks Adams (neto de John Quincy Adams) tinha vindo a explanar uma mundividência parcialmente coincidente com a de Beveridge em livros como America’s economic supremacy (1900) e The new empire (1902) e não hesitava em prever que “Os EUA suplantarão em breve qualquer império, senão mesmo todos os impérios combinados”.

Brooks Adams
Porto Rico, 1900
Quando o Tratado de Paris colocou a ex-colónia espanhola de Porto Rico sob controlo dos EUA, estes também a trataram como se fosse uma colónia. Mas como a Constituição americana impedia que o país possuísse colónias, foi necessário criar um estatuto especial para a ilha: em 1900 foi declarado “território insular”, sob o controlo de um governador nomeado por Washington, e em 1917 os porto-riquenhos tornaram-se formalmente cidadãos americanos. Foram-lhe sendo concedidos poderes de auto-governo e, desde 1947, são os porto-riquenhos que elegem o seu governador. Porém, não ganharam representação no Congresso nem direito de voto nas eleições presidenciais dos EUA, situação que se mantém até aos nossos dias. O estatuto da ilha é o de “território não-incorporado” e a sua designação formal é “Commonwealth of Puerto Rico” ou “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Bombardeamento de San Juan, capital de Porto Rico, pela frota americana, a 12 de Maio de 1898, durante a Guerra Hispano-Americana
Venezuela, 1902
Numa atitude aparentemente contraditória com a crescente pesporrência dos EUA no papel de Globocop e com a invocação da Doutrina Monroe feita quando da disputa anglo-venezuelana de 1895, quando em 1902-03 houve novo conflito entre a Venezuela e potências europeias, os EUA não se imiscuíram.
Desta feita, o desentendimento teve razões financeiras: o presidente venezuelano Cipriano Castro recusou-se a honrar as dívidas contraídas junto dos banco europeus e a indemnizar os interesses europeus lesados pelas sucessivas guerras civis que tinham agitado intermitentemente a Venezuela desde 1892. Em resposta, os Globocops Grã-Bretanha, Alemanha e Itália enviaram uma frota para impor um bloqueio naval ao “caloteiro”, que para mais, tinha apresado um navio britânico suspeito de ajudar os revoltosos.

Navios alemães bloqueiam porto venezuelano, em 1902, numa gravura de Willy Stower
Cipriano Castro contava que os EUA se opusessem ao bloqueio, mas o presidente Theodore Roosevelt entendeu que a Doutrina Monroe dizia respeito a conquistas territoriais e não a intervenções militares. Apesar da superioridade naval anglo-alemã, Castro não se vergou às exigências europeias, pelo que os alemães consideraram um desembarque e aí Roosevelt, entendendo que tal constituiria uma violação da Doutrina Monroe, enviou uma esquadra para dissuadir os alemães. O conflito ficou num impasse que se resolveu num tratado que permitiu levantar o bloqueio contra uma promessa de pagamento faseado das dívidas da Venezuela aos europeus.

A Grã-Bretanha e a Alemanha depenam a Venezuela de Cipriano Castro perante o olhar aprovador do Tio Sam: cartoon de William Allen Rogers no New York Herald de Janeiro de 1903
Panamá, 1903
O outro grande projecto que, segundo Alfred Thayer Mahan, seria necessário executar para fazer dos EUA numa superpotência naval e convertê-lo num Globocop respeitado começou a ser concretizado em 1903, com a aquisição dos direitos de construção do Canal do Panamá à (quase falida) Compagnie Nouvelle du Canal de Panama, dirigida por Philippe Bunau-Varilla, que sucedera à (igualmente) falida Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama, fundada por Ferdinand de Lesseps.

“Uma coisa bem começada já está meio acabada”: Cartoon de Victor Gillam, 1899. Após ter tomado conta das Filipinas e Guam (à esquerda) e de Cuba e Porto Rico (à direita), o Presidente McKinley prepara-se para unir Pacífico e Atlântico através de um canal na Nicarágua (foi uma hipótese que competiu com a do Canal do Panamá), de forma a promover a livre circulação dos navios de bandeira americana, alguns dos quais ostentam os dizeres “Bens americanos para países estrangeiros”. O Tio Sam traz ferramentas para a obra e encoraja o presidente: “Termina o canal, McKinley, e completa a expansão nacional no teu primeiro mandato”
O Tratado Hay-Herrán, acordado entre o Secretário de Estado John M. Hay e o encarregado de negócios colombiano Tomás Herrán, além de fazer transitar os direitos de construção dos franceses para os americanos, concessionava o canal por 100 anos aos EUA.
Deve ter-se presente que o Panamá era então uma província da Colômbia, apesar de alguns panamianos aspirarem à independência, criando tumultos que, em 1885, já tinham justificado a intervenção “pacificadora” de tropas americanas. Quando, em Janeiro de 1903, o senado colombiano se recusou a ratificar o Tratado Hay-Herrán, não foi preciso um grande esforço dos EUA para acicatar nova revolta dos separatistas panamianos, que fez com que o Panamá proclamasse a independência em Novembro de 1903 e um novo tratado, com termos praticamente idênticos aos do Tratado Hay-Herrán, fosse celebrado entre os EUA e o país recém-nascido.

Um cartoon de 1903 sintetiza o maquiavelismo da actuação dos EUA na questão do Canal do Panamá
O arrogante e prepotente conceito de nation-building, que foi invocado pelos EUA quando das invasões do Afeganistão e do Iraque, é parte integrante da mundividência intervencionista há muito tempo. Mas enquanto no Afeganistão e Iraque o nation-building se revelou um fiasco, no Panamá foi um “sucesso”: este território seria hoje, muito provavelmente, uma província da Colômbia se o canal Pacífico-Atlântico tivesse sido aberto na Nicarágua, como alguns advogavam na viragem dos séculos XIX-XX.

Cartoon de John T. McCutcheon, publicado no Chicago Tribune em 1914, com uma visão benigna da política externa dos EUA: antes da intervenção americana, as Filipinas, o Hawaii, Porto Rico, Cuba e o Panamá viviam atormentados pela opressão espanhola, a escravatura industrial, o jugo espanhol e a malária; após terem sido resgatados pelos EUA, as cinco figuras alegóricas transbordam de saúde e prosperidade, gozam de auto-determinação e ganharam o aspecto de homens de negócios americanos
As obras do Canal do Panamá foram iniciadas em 1904 e o canal foi inaugurado em 1914. O Panamá só assumiu controlo efectivo do canal em 1999, após a assinatura de um tratado com os EUA garantindo a permanente neutralidade da estrutura.

O presidente Theodore Roosevelt posa ao comando de uma escavadora a vapor durante as obras do Canal do Panamá
República Dominicana, 1904
O presidente Theodore Roosevelt, que ocupou a Casa Branca entre 1901 e 1909, tinha um entendimento da política externa que ficou sintetizado no lema “Fala suavemente e leva contigo um grande cacete”. Roosevelt começou por defender a anexação das Filipinas, mas, depois de a efémera República Filipina ter sido suprimida, o seu foco de interesse deslocou-se para a América Central e Caraíbas. Empenhou-se a fundo na construção do Canal do Panamá, tratou de assegurar que os pontos-chave nos acessos a este ficavam sob controlo americano e, influenciado pela visão de Alfred Thayer Mahan sobre o poder naval, investiu fortemente na Marinha de Guerra, que, em poucos anos, se converteu na segunda maior do mundo, sendo apenas superada pela britânica.

“O polícia do mundo”, cartoon de Louis Dalrymple, publicado na revista satírica Judge a 14 de Janeiro de 1904: O presidente Theodore Roosevelt impõe ordem no mundo através da “Nova Diplomacia”
Em 1904, quando a República Dominicana entrou em incumprimento das suas dívidas, os EUA, antecipando-se a uma eventual intervenção das potências europeias, como a que ocorrera dois anos antes com a Venezuela, enviaram para a ilha uma força naval, que tomou conta dos serviços alfandegários e passou a usar as receitas destes para pagar as dívidas do país.

Em Dezembro desse ano, num discurso no Congresso, Roosevelt explicou a nova e mais abrangente interpretação da Doutrina Monroe que estava por trás desta actuação e que ficou conhecida como o “Corolário Roosevelt”: “Tudo o que este país deseja é que os países vizinhos sejam estáveis, ordeiros e prósperos […] A ocorrência sistemática de ilicitudes ou a impotência podem conduzir a um deslaçamento generalizado do tecido civilizacional, que poderá obrigar […] à intervenção de um país civilizado e, no Hemisfério Ocidental, a adesão dos EUA à Doutrina Monroe poderá forçar os EUA, ainda que relutantemente, em casos flagrantes de ilicitude e impotência, a exercer o poder de policiamento internacional”.

Aplicando a política do “grande cacete”, Theodore Roosevelt converte o Mar das Caraíbas num Mare Nostrum americano: cartoon de William Allen Rogers, inspirado nas viagens de Gulliver e publicado em 1904
O Corolário Roosevelt serviu de justificação para que, nos anos seguintes, os EUA se intrometessem sistematicamente nos assuntos internos de Cuba, Haiti, Honduras, México, Nicarágua e República Dominicana, quase sempre com o fito de defender interesses económicos americanos.

O presidente Theodore Roosevelt na Casa Branca, 1903: O senhor incontestado do Hemisfério Ocidental?
Honduras, 1912
Na América Central, no início do século XX, os interesses económicos resumiam-se praticamente a produtos agrícolas: cana-de-açúcar, café, tabaco e, sobretudo, bananas, cuja produção e comércio costumava ser controlada por empresas americanas, que frequentemente também eram donas dos caminhos-de-ferro e dos portos. A maior era a United Fruit Company, que resultou da fusão, em 1899, da Tropical Trading and Transport Company, de Minor C. Keith, e da Boston Fruit Company, de Andrew Preston. Em segundo lugar vinha a Standard Fruit Company, que operou com este nome a partir de 1924 (antes era a Vaccaro Bros and Co.) e que na década de 1960 foi adquirida pela Castle & Cooke (que hoje tem o nome de Dole e é o maior produtor de frutos e vegetais do mundo). A outra grande empresa do ramo era a Cuyamel Fruit Company, que tomou este nome em 1911 (antes era a Hubbard-Zemurray) e foi absorvida pela United em 1929 (a United viria depois a dar origem à actual Chiquita).

Minor C. Keith, um dos magnatas das bananas, em 1917
A United, a Standard e a Cuyamel eram tão poderosas que, com uma pequena ajuda do Estado americano, eram capazes de impor a sua vontade aos governos dos pequenos países da América Central cuja economia estava fortemente dependente da exportação de bananas, como a Costa Rica, as Honduras ou a Guatemala – a United era mesmo conhecida em alguns círculos latino-americanos como “el pulpo” (o polvo). Este facto levou o escritor O. Henry (pseudónimo de William Sidney Porter), a cunhar a expressão “república das bananas”, que surgiu pela primeira vez na colecção de contos Cabbages and kings (1904), inspirados pela sua estadia de seis meses nas Honduras. A expressão “república das bananas”, que O. Henry aplicou à ficcional República de Anchuria, acabou por designar genericamente um país cuja economia assenta na exportação de um único recurso agrícola ou mineral e cuja governação tem de se vergar às imposições da empresa que explora esse recurso.

O. Henry, c.1910
Nas Honduras, a Cuyamel Fruit, desagradada com o presidente do país, o general Miguel Dávila, por este estar a favorecer a rival United Fruit (em troca de esta agir como “facilitadora” na obtenção de empréstimos do Governo dos EUA), contratou um mercenário, o general Lee Christmas, para derrubar Dávila e instalar na presidência o general Manuel Bonilla, que tinha sido deposto por Dávila uns anos antes e era um homem de confiança da Cuyamel.
O golpe de estado, ocorrido em 1912, colocou Bonilla no poder, mas mergulhou o país numa prolongada instabilidade política, que teve como consequência a entrada em incumprimento das Honduras e a incapacidade de se financiar nos mercados internacionais, empurrando o país para uma prolongada estagnação económica e social – sem, contudo beliscar os negócios das grandes empresas bananeiras. Quanto a Christmas, um homem que forjara uma reputação de dureza e tenacidade mastigando vidro em público, foi recompensado com a chefia do exército hondurenho.
[Documentário sobre a produção de fruta na América Central, produzido pela United Fruit na década de 1940: A dada altura afirma-se que “talvez não haja outro produto no mundo que seja manuseado com tanto cuidado como a banana”; já os trabalhadores mereciam das companhias bananeiras muito menor desvelo]
Nicarágua, 1912
A Nicarágua não era um produtor de bananas com a relevância das Honduras, mas tinha – e tem – uma vantagem estratégica decorrente de a sua configuração e topografia permitirem a abertura de um canal entre o Pacífico e o Atlântico. Assim, invocando um pretexto ou outro, os EUA mantiveram tropas no território nicaraguense entre 1912 e 1933 (embora as intervenções pontuais tivessem começado antes).

A Doutrina Monroe segundo um cartoon num jornal britânico de 1912
Em 1914, ano em que o canal do Panamá foi completado, os EUA e a Nicarágua assinaram o Tratado Bryan-Chamorro, que concedia aos EUA o direito à construção de um canal através da Nicarágua – uma prerrogativa que os EUA não estavam interessados em concretizar e servia apenas para manter potenciais rivais europeus à distância (só mais recentemente, devido à saturação do Canal do Panamá e à impossibilidade de os grandes navios mercantes de hoje o atravessarem, a ideia foi retomada – não por acaso, por uma empresa chinesa).

Marinheiros do cruzador americano Denver na Nicarágua, 1912
Pelo o Tratado Bryan-Chamorro, em troca de uma exclusividade de 99 anos sobre os direitos do hipotético canal e da instalação de uma base naval americana no Golfo de Fonseca, a Nicarágua recebeu dos EUA três milhões de dólares, imediatamente gastos no pagamento dos credores internacionais, por imposição dos funcionários americanos que passaram a gerir as finanças da Nicarágua durante os anos seguintes. O Tratado Bryan-Chamorro incluía uma cláusula que legitimava futuras intervenções militares dos EUA no país, à semelhança da Platt Amendment, uma cláusula enxertada pelos EUA na Constituição cubana em 1901, como condição para a retirada das tropa americanas da ilha (após a Guerra Hispano-Americana de 1898) e que fora, entretanto, invocada para justificar intervenções americanas em Cuba em 1906-09 e 1912.

Um cartoon da época mostra o que os cubanos pensavam da Platt Amendment
A contestação dos países vizinhos à instalação da base naval americana no Golfo de Fonseca foi favoravelmente acolhida pelo Tribunal de Justiça Centro-Americano. Porém os EUA ignoraram a decisão da arbitragem internacional e construíram mesmo a base, o que levou a que o Tribunal de Justiça Centro-Americano fosse dissolvido em 1918, por manifesta impotência, o que certamente agradou aos EUA, que nunca gostaram de ver a sua actuação coarctada por tribunais internacionais.
Da permanente turbulência política em que a Nicarágua viveu, emergiu em 1927 o comandante Augusto Sandino, cujo radicalismo e recusa em aceitar o protectorado americano levariam a que fosse forçado ao exílio no México. Regressaria poucos anos depois para conduzir a agitação e a luta de guerrilha contra os governos conservadores apoiados pelos EUA e acabaria por ser assassinado em 1934, após a retirada das tropas americanas.

Nicarágua, 1932: Marines americanos exibem a bandeira capturada às forças de Augusto Sandino
México, 1913
Como seria natural, dada a contiguidade geográfica e a permanente instabilidade política, o vizinho do sul foi alvo de repetidas ingerências americanas ao longo dos séculos XIX e XX. Entre elas esteve o golpe de estado de 1913 contra o presidente Francisco Madero, que foi “cozinhado” com a ajuda do embaixador americano Henry Lane Wilson, embora, não necessariamente com o consentimento no presidente americano William Howard Taft, cujo mandato estava no término – iria dar lugar a Woodrow Wilson – e não estava disposto a envolver-se em grandes aventuras.
Após a deposição de Madero, o México entrou no período da “Guerra de las Facciones” (um dos muitos episódios da Revolução Mexicana, que se estendeu de 1910 a 1920) e os incidentes entre tropas mexicanas e americanas levaram a que o presidente Woodrow Wilson (que entretanto tomara posse) cortasse relações diplomáticas com o México e enviasse uma frota para o porto mexicano de Veracruz, que foi ocupado durante seis meses.

Navio americano dispara sobre Veracruz, 1914
Três anos depois, a Alemanha, tentou aproveitar-se do ressentimento mexicano contra as ingerências americanas para aliciar o país a juntar-se à Alemanha numa guerra contra os EUA, mas a proposta de aliança (o assaz inepto “Telegrama Zimmermann”) enviada ao Governo mexicano pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão foi interceptado pelos americanos e foi um factor que pesou na decisão destes de entrar na I Guerra Mundial – até então, quer o presidente Wilson quer a opinião pública americana tinham mantido uma posição não-intervencionista.

Tropas americanas hasteiam a bandeira nacional em Veracruz, a 27 de Abril de 1914
Vale a pena realçar que o presidente Wilson anunciara que o seu mandato seria pautado por uma política de “boa vizinhança”, mas acabou por ordenar duas invasões no México: a ocupação de Veracruz e uma expedição punitiva, em 1916, em resposta a uma incursão de Pancho Villa em território americano.

O Tio Sam persegue Pancho Villa: cartoon de Clifford K. Berryman, 1916
França, 1920
Ainda assim, Woodrow Wilson acabou por ser o responsável por conceber e promover uma ideia que pretendia pôr termo à actuação discricionária dos Globocops e colocaria a resolução dos diferendos entre países numa organização intergovernamental. No documento dos “14 pontos”, que Wilson apresentou como ponto de partida para as negociações de paz após o término da I Guerra Mundial, propunha-se que “se formasse uma assembleia geral das nações […] com o propósito de proporcionar garantias mútuas de independência política e integridade territorial, quer para os grandes quer para os pequenos estados”. A visão de Wilson teve concretização quando a Conferência de Paz de Paris, criou, a 10 de Janeiro de 1920, a Sociedade das Nações (ver Governar o mundo: Como havemos de viver juntos?).

Woodrow Wilson, 1919
Ironicamente, embora no rescaldo da I Guerra Mundial Wilson tenha passado muitos meses na Europa, embrenhado em negociações, e tenha conseguido convencer a maior parte das potências a aderir a esta instituição, não obteve a necessária maioria de 2/3 do Senado americano, pelo que os EUA ficaram de fora da Sociedade das Nações.
As pulsões contrárias do isolacionismo e do intervencionismo sempre tinham coexistido na sociedade americana e a perda de vidas humanas e a destruição causadas pela I Guerra Mundial fizeram com que, em 1920, a disposição isolacionista prevalecesse, ainda que os EUA tivessem sofrido menos com o conflito do que os outros beligerantes principais.
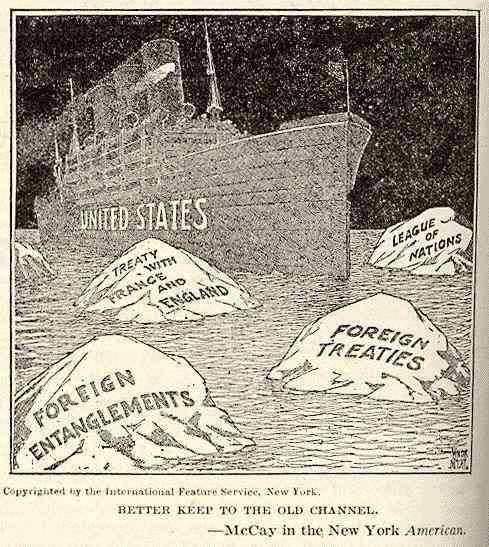
“É melhor continuar no velho canal”: Cartoon pró-isolacionista de Winsor McCay, 1919: Num mar pejado de escolhos, mais vale não sair da rota conhecida
Mesmo que os EUA tivessem aderido à Sociedade das Nações, é duvidoso que estivessem dispostos a abrir mão da Doutrina Monroe e, consequentemente, do intervencionismo no seu “quintal”. Só se registou uma mudança na política americana para com a América Latina com o presidente Franklin Roosevelt, que anunciou, no discurso de tomada de posse, em 1933, uma “Good Neighbor Policy”: “consagrarei esta nação à política do bom vizinho, o vizinho que se respeita a si mesmo e, consequentemente, respeita os direitos dos outros, o vizinho que cumpre as suas obrigações e a santidade dos seus acordos”. Roosevelt não se ficou pelas palavras e tomou medidas efectivas, retirando os marines da Nicarágua e do Haiti e a Platt Amendment da Constituição cubana.

Franklin Roosevelt, 1933
Interlúdio musical
O desanuviamento nas relações entre os EUA e a América Latina seria também promovido no plano cultural, através de filmes como “The gang’s all here” (1943), uma feérica celebração da amizade pan-americana realizado, exuberantemente coreografada por Busby Berkeley e protagonizado por Carmen Miranda. Apesar da boa vontade, “The gang’s all here” não evita – tal como os produtos similares que na época nasceram em Hollywood – a caracterização estereotipada e “exótica” dos povos latino-americanos e o tom paternalista, o que acaba por reflectir a relativa superficialidade da “Good Neighbor Policy”: os países latino-americanos eram merecedores do respeito dos EUA, desde que se entregassem aos seus cantos, danças e festividades pitorescas e não pusessem em causa os interesses das empresas americanas ou aderissem a ideais socialistas.
[Excerto de “The gang’s all here”:]
“Saludos amigos” (1942), que partilhava o espírito e a ênfase no entretenimento musical de “The gang’s all here”, tinha a particularidade de ser um filme de animação dos estúdios Walt Disney, embora incluindo trechos de imagem real, que documentam (selectivamente) a vida cosmopolita e próspera nas grandes cidades latino-americanas (mas não o quotidiano dos bairros de lata ou das plantações de bananas). O filme fez parte de uma “tournée da boa-vontade” da Disney pela América Latina encomendada pelo Departamento de Estado e supervisionada por Nelson Rockefeller, Coordenador dos Assuntos Inter-Americanos (que, em 1974-77 seria vice-presidente dos EUA), e o facto de ter estreado no Rio de Janeiro antes de ter sido mostrado aos espectadores dos EUA mostra que o seu principal propósito era a propaganda. O filme divide-se em quatro segmentos, “Lago Titicaca” (Peru/Bolívia), “Pedro” (Chile), “El gaucho Goofy” (pampa Argentina) e “Aquarela do Brasil” (Rio de Janeiro), onde tem lugar a primeira aparição do papagaio Zé Carioca (“Joe Carioca, the Brazilian jitterbird”).
[Trailer de “The gang’s all here”:]
O sucesso de “Saludos amigos” no fortalecimento da “amizade pan-americana” levou a que a Disney repetisse a fórmula em 1944, com o musical “The three caballeros”, que soma ao Pato Donald e ao papagaio Zé Carioca um galo mexicano, o pistoleiro Panchito Pistoles, e se desdobra por sete painéis. O filme foi um dos primeiros a combinar nas mesmas cenas personagens animadas e imagens reais e contou com várias vedetas latino-americanas, como a cantora brasileira Aurora Miranda (irmã de Carmen), a cantora mexicana Dora Luz e a dançarina mexicana Carmen Molina.
[Trailer de The three caballeros]
https://youtu.be/vxn0VVtUwec
Coreia, 1950
Há paralelismos entre o término da II Guerra Mundial e o da I: os EUA, com uma formidável pujança económica que contrastava com uma Europa exaurida e devastada, voltaram a surgir da posição de grande triunfador e fizeram uma nova tentativa para criar uma instituição de governação mundial – só que desta vez, não ficaram de fora. Como escreve Mark Mazower, em Governar o mundo (ver Governar o mundo: Como havemos de viver juntos?), os EUA entenderam necessitar da ONU “para garantirem um quadro para a diplomacia que tornasse a liderança do mundo aceitável para o público americano, sempre desconfiado de envolvimentos prolongados no estrangeiro”.
O que os EUA não esperavam era que a confortável maioria de estados aliados na Assembleia Geral da ONU, que conferia legitimidade à liderança do mundo pelos EUA, se iria erodindo, à medida que as colónias europeias na África, Ásia e Oceânia foram ganhando independência e assento na Assembleia Geral.
Quanto ao Conselho de Segurança, seria de esperar que, durante a Guerra Fria, a sua actuação estivesse sempre entravada, uma vez que os cinco membros permanentes – EUA, URSS, Grã-Bretanha, França e China – detinham poder de veto e dificilmente os EUA e a URSS estariam de acordo. Porém, a Guerra Civil Chinesa (1945-49) cindiu a China em duas entidades e o lugar desta entre os membros permanentes ficou com a República da China (Taiwan), não com a República Popular da China, pelo que a URSS, em protesto por esta decisão, cometeu o erro crasso de boicotar o Conselho de Segurança. Acontece que o boicote soviético coincidiu com a intempestiva invasão da Coreia do Sul, alinhada com os EUA, pela Coreia do Norte, comunista, e os restantes membros do conselho aprovaram de imediato o envio de uma força multinacional, liderada pelos EUA, para repelir a agressão norte-coreana.

Tropas americanas em combate na Coreia
Mas os EUA não voltariam tão cedo a desfrutar da legitimação do Conselho de Segurança, pois a URSS apressou-se a reocupar o seu lugar e em 1971 Taiwan perdeu o lugar de membro permanente em favor da República Popular da China. Por outro lado, a actuação dos EUA como Globocop foi, durante a Guerra Fria, sistematicamente contrariada pela URSS e, perante o alastramento da “ameaça comunista”, os EUA sentiram-se justificados para abandonar a “Good Neighbor Policy” e retomaram a “tradicional” política intervencionista na América Latina.
Irão, 1953
Poucas semanas após o término da Guerra da Coreia, a 27 de Julho de 1953, com a fronteira entre as duas Coreias recolocada mais ou menos onde tinha estado antes do início do conflito, o Globocop americano – aliado ao vetusto Globocop britânico – entrava em acção num cenário bem distante: o Irão.
Desde que se descobrira petróleo na região, então conhecida como Pérsia, que o controlo do país era disputado pela Grã-Bretanha e pela Rússia, mas a Revolução Russa e a subsequente guerra civil fizeram com que o vacilante regime soviético tivesse assuntos mais prementes a resolver e os britânicos tentaram estabelecer no país um regime de protectorado. Esta tentativa falhou, embora a Grã-Bretanha mantivesse forte ascendente sobre o país, já que o monopólio da exploração de petróleo era detido pela empresa Anglo-Iranian Oil Company, em termos favoráveis a esta e desfavoráveis para o Irão. A partir de 1925, o Irão (designação que, a partir de 1935, substituiu a “Pérsia”) foi governado, pelo menos formalmente, pela dinastia Pahlavi, com um interregno durante a II Guerra Mundial, em que, dada a importância estratégica do petróleo, o país ficou sob ocupação repartida da Grã-Bretanha e URSS.

Irão, Setembro de 1941: Uma coluna de abastecimento britânica é escoltada por um blindado soviético
O fim da guerra trouxe o fim da ocupação, mas não melhores condições para os trabalhadores locais da Anglo-Iranian Oil, nem mais receitas para o país, nem capacidade do Governo iraniano para gerir a exploração de petróleo e o descontentamento começou a crescer, acompanhado pelo sentimento nacionalista iraniano.
Em 1951, o jovem shah Reza Pahlavi (no trono desde 1941) nomeou Mohammad Mosaddegh como primeiro ministro e este deu início, com aprovação unânime do parlamento iraniano, à nacionalização da indústria petrolífera.

O shah Reza Pahlavi (à esquerda) e o primeiro ministro Mohammad Mosaddegh, em 1951
Seguiu-se um período de alta tensão, com os britânicos a exercer pressão para deter o processo de nacionalização, o que levou a que o shah demitisse Mosaddegh; foi, porém, forçado a reconduzi-lo devido a um levantamento popular. Os britânicos, que já não tinham força para jogar ao Globocop sozinhos, pediram ajuda aos EUA. A administração americana até começara por ter simpatia por Mosaddegh, mas, pouco a pouco, acabou por prevalecer o receio de que o Irão pudesse cair nas garras do comunismo – um receio que serviu para justificar muitos desmandos durante a Guerra Fria – e que o controlo dos iranianos sobre o seu próprio petróleo pudesse significar o fim do petróleo barato indispensável para manter a pujança do American Way of Life. Assim, a CIA, sob a direcção de Kermit Roosevelt (neto do presidente Theodore Roosevelt), tratou de organizar um golpe de estado – com a anuência do shah.

Teerão, 1953: Jovens arruaceiros contratados pela CIA manifestam-se em favor do shah
A CIA começou por criar um clima de instabilidade, recrutando entre o bas fond iraniano hordas de arruaceiros pró-shah e anti-Mosaddegh, que lançaram o caos nas ruas de Teerão.

Teerão, 1953: Shabaan Jafari (conhecido como “Shabaan, o desmiolado”), um pequeno criminoso que se converteu num dos principais agitadores anti-Mosaddegh, lidera um grupo de manifestantes
Simultaneamente, a CIA também recrutou agitadores que se infiltraram no Tudeh (o Partido Comunista do Irão) e que saíram para a rua reclamando uma revolução comunista. As desordens e os confrontos entre os dois grupos justificaram a entrada em cena dos militares comandados pelo general Fazlollah Zahedi, em Agosto de 1953, enquanto o atemorizado shah se refugiava em Roma.

Apoiantes do golpe de estado contra Mosaddegh celebram a vitória
A CIA capturou Mosaddegh e entregou-o ao novo governo iraniano, Fazlollah Zahedi tornou-se no novo primeiro ministro, o shah regressou de Roma, a governação do país assumiu um carácter autoritário e a oposição foi perseguida. Mosaddegh foi levado a julgamento, sob acusação de traição, e, embora os procuradores pedissem a pena capital, escapou com três anos de prisão solitária e prisão domiciliária para o resto da vida; o tribunal foi menos clemente para o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi condenado à morte.
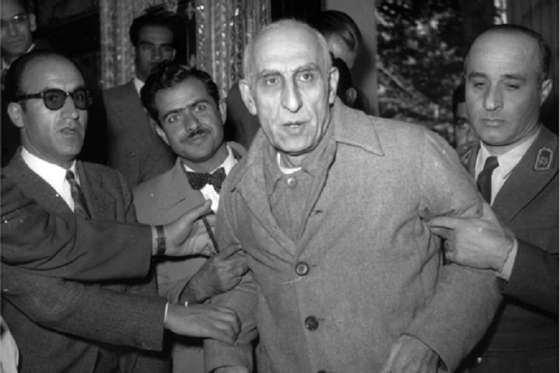
Mosaddegh durante o julgamento, em Novembro de 1953
O preço que a Grã-Bretanha teve de pagar pela ajuda americana foi o fim do monopólio da Anglo-Iranian Oil Company: o petróleo iraniano passou a ser repartido com cinco companhias americanas (mais a Shell e uma companhia francesa), que entregavam metade das receitas ao Governo iraniano, mas sem divulgar os seus relatórios & contas. A Anglo-Iranian Oil Company recuperar da perda da exclusividade e mantém-se activa nos dias de hoje, embora desde 1954 opere sob o nome de British Petroleum (BP).
O golpe de estado de 1953 ajuda a perceber a Revolução Iraniana de 1979 e o sentimento dos iranianos para com os EUA. E vale a pena relevar um elemento comum entre os dois eventos: também o golpe de estado de 1953 teve o apoio dos ayatollah e dos crentes islâmicos mais radicais, pois viam com maus olhos o pendor secular da governação de Mosaddegh.

Mosaddegh em prisão domiciliária, no fim da vida
Guatemala, 1954
Na América Central, na falta de petróleo, continuavam a ser as bananas a decidir a sorte dos governantes. A United Fruit dava-se bem com o ditador Jorge Ubico, um general que ascendera ao poder nas eleições de 1931 (em que fora o único candidato), era admirador de Hitler e Mussolini e era conhecido como o “Napoleão da América Central”. Ubico concedera várias benesses à United Fruit, nomeadamente a cedência de vastas áreas agrícolas pelo prazo de 99 anos, e chegara ao ponto de pedir à companhia que não pagasse salários acima de 50 cêntimos por dia, para não encorajar os outros trabalhadores guatemaltecos a reclamar salários melhores (um pedido a que a United Fruit certamente correspondeu com agrado).

O general Ubico e a sua entourage, 1940
Não é de admirar, pois, que a United Fruit tenha visto com apreensão a revolução de 1944, que derrubou a ditadura de Ubico e promoveu eleições livres, que resultaram na chegada à presidência de Juan José Arévalo. Embora este fosse conservador e anti-comunista, instituiu o salário mínimo, o direito à greve e vínculos laborais estáveis e pôs termo à discriminação racial que a United Fruit praticava sobre os seus trabalhadores. Mas o que converteu o descontentamento da United Fruit em franco alvoroço foi a decisão do presidente Jacobo Árbenz, eleito democraticamente em 1951, de levar a cabo uma reforma agrária, que expropriava as propriedades não cultivadas com mais de 272 hectares e as redistribuía entre trabalhadores rurais sem terra.
A United Fruit, que detinha o monopólio da produção e exportação de bananas na Guatemala, era o maior proprietário rural e o maior empregador do país e tinha lucros anuais que eram duas vezes maiores que as receitas do governo guatemalteco, possuía numerosas parcelas não cultivadas acima dessa dimensão e estava em risco de ver expropriada 40% da sua área. Portanto, gastou uma fortuna numa campanha de descrédito contra o governo guatemalteco, pôs em campo os seus “lobbistas” e recorreu aos seus contactos em Washington. Ora, não lhe faltava gente bem colocada a quem recorrer: John Foster Dulles, o Secretário de Estado da administração Eisenhower, tinha sido representante jurídico da United Fruit e era um importante accionista da empresa; Allen Dulles, director da CIA (e irmão de John Foster), fazia parte do conselho de administração da United Fruit; Thomas Dudley Cabot, director da secção de Segurança Internacional do Departamento de Estado, fora CEO da United Fruit; a secretária pessoal de Eisenhower era esposa do director de relações públicas da United Fruit; finalmente, Bedell Smith, Sub-Secretário de Estado, não tinha desempenhado cargos na United Fruit, mas chegaria depois a presidente da companhia. A maioria dos latino-americanos que empregavam pejorativamente a United como “polvo” talvez não estivessem conscientes de quão válida era a designação também nos EUA.

O presidente Dwight Eisenhower (à esquerda) e John Foster Dulles (à direita), numa foto de 1956
Não foi difícil convencer a administração Eisenhower de que Jacobo Árbenz era um perigoso comunista, pelo que não tardou que a CIA fosse encarregada de preparar um golpe para o derrubar, cuja liderança foi confiada a Carlos Castillo Armas, ex-lugar-tenente de Árbenz que fora forçado ao exílio após uma tentativa de golpe de estado em 1949. As notícias dos preparativos do golpe chegaram aos ouvido do governo guatemalteco que, perante o bloqueio de venda de armas imposto pelos EUA e seus aliados, fez uma aquisição secreta de armas à Checoslováquia, a fim de equipar as milícias e fazer frente a Castillo Armas, operação que, aos olhos dos americanos, confirmou as suspeitas das inclinações comunistas de Árbenz.
O exército de Castillo Armas invadiu a Guatemala a 18 de Junho e Árbenz, abandonado pelas Forças Armadas, cujo chefe, Carlos Enrique Díaz, lhe retirara o apoio, demitiu-se a 27 de Junho. Quem tomou o lugar de Árbenz foi Díaz, mas os EUA não o consideravam “adequado” para o cargo, pelo que a sua presidência durou um dia; Hernán Monzón, que o derrubou, ficou a chefiar uma junta militar durante pouco mais de uma semana, acabando por ceder o cargo a Castillo Armas, que, dois meses depois, venceu com 99% dos votos umas eleições em que foi o único candidato.
A imprensa europeia e o Secretário-Geral da ONU denunciaram o apoio americano ao golpe de estado na Guatemala e os EUA ficaram mal vistos perante a opinião pública latino-americana, o que não impediu John Foster Dulles de ser eleito Homem do Ano de 1954 pela revista Time. Quem retirou lições do golpe americano foi um médico argentino com 25 anos de idade e de inclinações marxistas, que, à data, vivia na capital da Guatemala e que concluiu que o imperialismo só podia ser combatido através da luta armada. Chamava-se Ernesto Guevara.

Che Guevara
Cuba, 1961
Já a CIA parece ter ficado deslumbrada com a facilidade com que derrubava governantes e colocava outros no seu lugar e começou a cometer erros grosseiros. Um dos primeiros falhanços clamorosos da CIA teve lugar em Cuba, que era governada de acordo com os interesses dos EUA e cuja economia estava em boa parte em mãos americanas. Um dos homens de confiança dos americanos em Havana era Fulgencio Baptista, que, na qualidade de comandante das forças armadas cubanas, entre 1934 e 1940, perseguira comunistas e socialistas, e desempenhara o cargo de presidente entre 1940 e 1944.
Em 1952, Baptista voltou a candidatar-se às eleições presidenciais, mas como as sondagens o davam em terceiro lugar, deu um golpe de estado quatro meses antes das eleições. Baptista aumentou os vencimentos dos militares, a fim de assegurar a sua docilidade, e concedeu facilidades e benesses às empresas e ao crime organizado americano, fazendo com que o ascendente americano sobre a ilha se reforçasse e levando Earl E.T. Smith, embaixador dos EUA em Havana no período 1957-59, a comentar que a segunda pessoa mais importante de Cuba era o embaixador dos EUA.
Aproveitando o descontentamento popular contra as políticas de Baptista e a corrupção que permeava o regime, Fidel Castro deu início a um movimento revolucionário de inspiração marxista que contou com a colaboração de Ernesto “Che” Guevara e que, após vários contratempos e peripécias, conseguiu derrubar Baptista em Dezembro de 1958.

Soldados do regime de Baptista fuzilam um rebelde, 1956
Mais do que a linguagem revolucionária e as reformas no plano social empreendidas por Castro, o que deixou as empresas americanas assarapantadas foi o programa de nacionalizações e a reforma agrária. Em retaliação, o presidente Eisenhower congelou os bens cubanos nos EUA e decretou um embargo comercial à ilha, o que teve o efeito de empurrar Castro para os braços de Moscovo.
Foi então que a CIA congeminou derrubar Castro empregando um exército improvisado recrutado entre os muitos cubanos que tinham buscado exílio na Florida. A CIA treinou-os e equipou-os e a 17 de Abril de 1961, com o aval do recém-empossado presidente John Kennedy, lançou esta força a partir da Guatemala e Nicarágua contra Cuba – o assalto, que ficou conhecido como “Invasão da Baía dos Porcos”, não só foi um desastre do ponto de vista militar (foi esmagado em três dias) como foi realizado de forma tão inepta que ficou óbvio a todo o mundo que fora obra do Governo americano.

Tropas do regime de Castro atacam os invasores desembarcados na Baía dos Porcos, 1961
Apesar deste fiasco, a CIA não deixou de tentar derrubar o regime cubano, passando a concentrar-se na eliminação física de Fidel Castro, para a qual urdiu as mais variadas e disparatadas estratégias – todas goradas. Após meio século de governação, Fidel Castro passou o testemunho ao seu irmão Raul, falecendo em 2016 de causas naturais, com 90 anos.
[Trailer do documentário 638 ways to kill Castro (2006), realizado por Dollan Cannell]
Vietnam, 1963
O envolvimento americano no Vietnam excedeu largamente o de qualquer dos eventos acima mencionados, o que pode parecer paradoxal, já que o país fica longe dos EUA, não desfruta de uma localização geoestratégica privilegiada, não é uma fonte de recursos naturais insubstituíveis e não albergava à data empresas americanas dignas de relevo. A continuada intervenção militar dos EUA no Vietnam resultou do clima paranóico gerado pela Guerra Fria e pela “teoria do dominó”, que sustentava que, na ausência de uma estratégica de contenção pelos EUA, os países cairiam sob domínio comunista uns após os outros, numa derrocada imparável. A China tinha sido a primeira peça a cair, a segunda fora a Coreia (uma queda limitada à metade norte da península, graças à intervenção americana) e agora era o Vietnam que estava em risco – numa situação análoga à da Coreia, com o Norte comunista a tentar absorver o Sul “democrático” e pró-ocidental. Seguir-se-iam, advertiam os estrategas, o Laos, o Camboja, a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, a Birmânia e a Índia.

Cartaz anti-comunista impresso e distribuído em 1951 nas Filipinas pela US Information Agency
A primeira ocorrência registada da expressão “teoria do dominó”, data de 1954 e é atribuída ao presidente Eisenhower, que, em 1950, enviara os primeiros conselheiros militares americanos para ajudar a administração colonial francesa a conter as aspirações independentistas dos vietnamitas. O auxílio americano fora crescendo, em termos humanos, materiais e financeiros, ao longo dos quatro anos, atingindo um total de 1000 milhões de dólares e representando 80% dos custos da guerra, mas não impediu a estrondosa derrota dos franceses. A Conferência de Paz de Genebra dividiu o Vietnam em dois países independentes, mas o Norte continuou a apoiar activamente a guerrilha comunista no Sul (o Viet Cong).

Guerrilheiros Viet Cong, 1966
John Kennedy, que sucedeu a Eisenhower em 1960, continuou a despejar milhões de dólares no Vietnam do Sul sob a forma de equipamento, treino e aconselhamento militar, mas recusou colocar tropas no terreno e deu ênfase a uma política de “pacificação”.

John Kennedy e o Secretário de Estado Robert McNamara na Casa Branca, 1962
O descontentamento contra o regime do presidente sul-vietnamita Ngô Dinh Diêm foi crescendo e acabou por materializar-se num golpe de estado a 2 de Novembro de 1963, que resultou no assassinato de Ngô Dinh Diêm e lançou o Sul num período caótico. 20 dias depois, o assassinato de Kennedy colocou na presidência o seu “vice”, Lyndon B. Johnson, que reconheceu que o Vietnam do Sul não conseguiria fazer face sozinho à ameaça comunista e intensificou o envolvimento militar americano.
Em Março de 1965, ocorreu uma escalada decisiva no conflito, com a chegada ao terreno das primeiras tropas de combate americanas – 3500 marines, que se juntaram a 23.000 conselheiros militares – e o início dos bombardeamentos do Norte pelos aviões americanos.

Um helicóptero desembarca soldados americanos no vale de Drang, Vietnam, Novembro de 1965
O conflito alastrou ao Laos e Camboja, o auxílio soviético e chinês aos comunistas vietnamitas aumentou em volume e sofisticação de equipamento, os bombardeamentos americanos foram tornando-se mais devastadores (estima-se que tenham sido lançadas 7.5 a 8.0 milhões de toneladas de bombas sobre a antiga Indochina) e as tropas americanas no Vietnam continuaram a engrossar até atingir meio milhão de homens em 1969. Nesse ano, Johnson deu lugar na Casa Branca a Richard Nixon, que, por sugestão do Conselheiro Nacional de Defesa, Henry Kissinger, decidiu persuadir os seus adversários comunistas de que era uma criatura insensata e capaz de tudo e chegou a ordenar um simulacro de ataque nuclear à URSS com bombardeiros B-52 (depois cancelado).
Com o conflito num impasse, o Norte devastado pelos bombardeamentos americanos e a contestação à guerra a crescer nos EUA – as baixas americanas somavam já 58.000 mortos e 300.000 feridos – em 1973 os beligerantes acordaram em pôr termo às hostilidades através dos Acordos de Paz de Paris. Os bombardeamentos americanos foram suspensos, houve troca de prisioneiros e Nixon retirou as suas tropas do Vietnam, mas continuou a prestar assistência militar ao Sul. As tropas do Norte acabaram por retomar as ofensivas em grande escala e o presidente Ford, que em Agosto de 1974, substituíra Nixon (forçado a demitir-se devido ao escândalo Watergate), foi incapaz de dissuadir o Congresso de cortar os fundos para auxílio militar ao Sul. A ideia era que o financiamento fosse progressivamente diminuído até chegar a zero em 1976, mas as tropas do Norte anteciparam esse momento, ao tomarem Saigão, pondo término, a 30 de Abril de 1975, a 20 anos de conflito.
A queda de Saigão decorreu num ambiente de caos e pânico, com os helicópteros americanos a proceder, até ao último instante, à evacuação de pessoal diplomático e cidadãos americanos, bem como de sul-vietnamitas aterrados com o que poderiam sofrer às mãos dos comunistas. Ninguém teria adivinhado, em 1955, que os EUA, com a sua tremenda superioridade tecnológica, a sua formidável máquina de guerra e o seu poderio financeiro, seriam desfeiteados por um obscuro povo do Sudeste Asiático.
Foi o primeiro grande revés do Globocop – e o maior até à data – e o trauma da derrota deixou marcas profundas na psicologia e cultura americanas, estando particularmente evidentes na sua produção cinematográfica, facto satirizado pelo escritor americano Viet Thanh Nguyen (nascido em 1971 no Vietnam numa família que fugiu de Saigão para os EUA em 1975) no romance O simpatizante (The sympathizer, 2015) nestes termos: “esta era a primeira guerra em que seriam os derrotados a escrever a história e não os vencedores, graças à máquina de propaganda mais eficaz alguma vez criada […] Neste trompe l’oeil hollywoodesco […] os vietnamitas de todos os lados dariam um pobre ar da sua graça, remetidos para os papéis de pobres, inocentes, maldosos ou corruptos. O nosso destino não era ficarmos simplesmente calados, haveríamos de aparecer como parvos”.
Brasil, 1964
Entretanto, no continente americano, continuava em vigor uma versão actualizada da Doutrina Monroe.
As eleições brasileiras de 1961 tinham dado a presidência a Jânio Quadros e a vice-presidência a Goulart, seu adversário político, mas Quadros, numa manobra desastrada para consolidar o poder, demitira-se pouco depois, esperando desencadear uma onda popular clamando pelo seu regresso. A onda não se ergueu e Goulart deveria ter automaticamente tomado o lugar de Quadros, não fosse o acaso de estar nessa altura em visita à República Popular da China, o que lançou sobre ele a suspeição de simpatias comunistas, tronando-o inaceitável, aos olhos de muitas forças políticas, para o cargo de presidente.

Cartaz anti-comunista, Brasil, 1960
Após longas e sinuosas negociações, Goulart acabou por assumir a presidência, mas com restrições aos seus poderes, que só foram levantadas quando em 1963 um plebiscito o confirmou no cargo. Quem não ficou tranquilizado foi o presidente Kennedy, que pôs em movimento a operação Brother Sam, “para evitar que o Brasil se convertesse noutra China ou noutra Cuba”.

Kennedy (à esquerda) e Goulart (à direita) durante a visita do segundo aos EUA em 1962
Os EUA não tiveram, todavia, de se envolver directamente no Brasil: a CIA teve apenas de atiçar o descontentamento contra as reformas introduzidas por Goulart (mais notórias entre os empresários) através da orquestração de manifestações anti-comunistas, enquanto no plano político, Goulart via a sua actuação bloqueada no Congresso pela esquerda e pela direita, em simultâneo. O golpe de estado desferido pelos militares contra Goulart a 31 de Março de 1964 acabou por não encontra oposição e a 2 de Abril o Congresso declarou que o cargo presidencial estava vago. Os EUA, agora presididos por Lyndon Johnson, que tinham enviado uma frota para águas brasileiras e preparado um detalhado plano logístico a fim de apoiar aos golpistas, acabaram por não ter de accionar estes recursos.
Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos militares que promoveu o golpe, assumiu a presidência a 15 de Abril – dando início a um período de ditadura militar que duraria até 1985 – e em Maio o governo brasileiro anunciou a ruptura das relações diplomáticas com Cuba, o que deve ter tranquilizado Lyndon Johnson.

Esplanada dos Ministérios, Brasília, durante o golpe de estado de 1964
Chile, 1973
Há semelhanças entre o que aconteceu no Brasil em 1964 e no Chile nove anos depois: um presidente democraticamente eleito e empenhado em reformas de cariz socializante, mas visto pelos EUA e por alguns sectores da sociedade como perigoso comunista, e com a actuação limitada por um parlamento hostil, é derrubado por um golpe militar com mão da CIA.
As suspeitas dos EUA (agora presididos por Nixon) em relação ao presidente chileno Salvador Allende, eleito em 1970, agravaram-se quando Fidel Castro realizou uma visita de estado de um mês ao Chile, seguida pela reabertura das relações diplomáticas Chile-Cuba, mas também terá pesado o facto de Allende ter nacionalizado (com a aprovação unânime do parlamento) a exploração de cobre (a principal exportação chilena), que estava maioritariamente nas mãos de empresas americanas.
Também neste caso a CIA não teve de esforçar-se muito para encorajar um grupo de militares a dar um golpe de estado que, a 11 de Setembro de 1973, derrubou Allende e colocou no seu lugar o general Augusto Pinochet, dando início a uma ditadura militar de 15 anos, que, certamente para desilusão dos EUA, conservou a mineração de cobre sob controlo estatal.
Kuwait, 1991
Saddam Hussein cometeu um grave erro de avaliação das reacções do Globocop n.º 1 e a ocupação do Kuwait pelo Iraque, em Agosto de 1990, foi uma agressão tão clamorosa e injustificável que os EUA, sob a presidência de George Bush, conseguiram, após intensa campanha de lobbying, obter do Conselho de Segurança da ONU autorização (mediante a Resolução 678, de 29 de Novembro de 1990) para usar “todos os meios necessários” para expulsar os iraquianos do Kuwait, caso estes não o fizessem voluntariamente até 15 de Janeiro de 1991. A China foi o membro do Conselho mais difícil de convencer, mas acedeu abster-se na votação da resolução, em troca de um alívio das sanções que lhe tinham sido impostas pelos EUA após a repressão brutal das manifestações na Praça de Tiananmen, em 1989.
A partir de 17 de Janeiro teve início um ataque aéreo contra alvos iraquianos pelas forças da coligação, liderada pelos EUA e contando com a Arábia Saudita, Reino Unido, França e Canadá.

Aviões de combate americanos (F-15 e F-16) sobrevoam poços de petróleo incendiados pelo exército iraquiano em retirada, Kuwait, 1991
Após semanas de bombardeamentos pela aviação e por mísseis de cruzeiro, o ataque terrestre da coligação foi lançado a 24 de Fevereiro: as forças iraquianas sofreram uma fulgurante e pesada derrota e o Kuwait foi dado como libertado e as operações militares como terminadas a 27. As forças da coligação poderiam ter avançado sem grandes obstáculos até Baghdad, mas o Globocop vacilou: George Bush entendeu talvez que o derrube de Saddam Hussein e uma mudança de regime poderia ser mal recebido pelos restantes países do Médio Oriente e Dick Cheney, Secretário da Defesa, considerou que os EUA poderiam “ficar atolados em problemas ao tentar tomar e governar o Iraque”. Com o exército desarticulado e revoltas contra Saddam Hussein a eclodir pelo país, os generais iraquianos hesitaram em manter o apoio ao seu presidente, mas uma vez que a ofensiva da coligação se deteve, acabaram por reafirmar a sua fidelidade e esmagar os revoltosos.

A auto-estrada de seis faixas entre o Kuwait e o Iraque foi a principal via de fuga usada pelas tropas iraquianas em retirada, que acabaram por ser massacradas pelos ataques aéreos da coligação. Foto de Abril de 1991
Sudão, 1998
É frequente que a actuação dos EUA como Globocop seja acusada de ter por único fim a defesa dos interesses dos EUA, mas os ataques com mísseis de cruzeiro ordenados por Bill Clinton contra o Sudão e Afeganistão a 20 de Agosto de 1998 foram vistos por muitos como estando ao serviço do interesse particular do presidente dos EUA, tendo (alegadamente) servido para desviar as atenções do escândalo resultante do envolvimento de Clinton com Monica Lewinsky, uma estagiária da Casa Branca.
Os ataques – que receberam o nome de código de Operação Infinite Reach – foram lançados três dias depois de Clinton ter prestado depoimento perante a comissão que investigava o dito escândalo. Oficialmente, foram apresentados como uma retaliação contra o atentado bombista de 7 de Agosto contra as embaixadas americanas da Dar es Salaam (Tanzânia) e Nairobi (Quénia), que causara 224 mortos (12 dos quais americanos). Na altura, Clinton declarou “o nosso alvo era o terrorismo, a nossa missão era clara”.
Um dos alvos dos mísseis foi o laboratório farmacêutico Al-Shifa, em Khartoum, no Sudão, que estaria (supostamente) a produzir uma substância precursora do gás de nervos VX, destinado a ser usado em ataques terroristas.

O laboratório farmacêutico Al-Shifa após o ataque
O outro alvo foi um complexo de campos de treino de terroristas em Zhawar Kili al-Badr, no Afeganistão, que seriam operados por uma obscura organização terrorista islâmica, que estaria por trás dos atentados de Dar es Salaam e Nairobi e era liderada por um milionário saudita. Só três anos depois a opinião pública ocidental ficou familiarizada com o nome da dita organização – al-Qaeda – e do seu líder – Osama bin Laden. Este, que nem sequer estava em Zhawar Kili al-Bard quando do ataque, apequenou os efeitos do bombardeamento, comentando que os mísseis apenas tinham matado galinhas e camelos.

O complexo de campos de treino da al-Qaeda em Zhawar Kili al-Badr, em 1998, antes do ataque com mísseis
Afeganistão, 2001
Após os atentados da al-Qaeda contra território americano a 11 de Setembro de 2001, os EUA, agora presididos por George W. Bush, recolheram sólido apoio internacional para, em Outubro de 2001, invadir o Afeganistão, invocando que o regime taliban que governava este país dava abrigo a Osama bin Laden e providenciava uma base de operações à al-Qaeda – o que era verdade.
A invasão do Afeganistão teve sólido apoio da habitual aliada Grã-Bretanha e até a Rússia, habitual rival dos EUA, não pôs em causa a legitimidade da acção, ainda que esta não tivesse sido explicitamente autorizada pela ONU. A Grã-Bretanha e a Rússia tinham já passado por amargas experiências ao desempenhar o papel de Globocops no Afeganistão – a Grã-Bretanha em 1839-42, 1878-80 e 1919, a Rússia (então URSS) em 1979-89 – e os EUA também não tardaram a descobrir que, embora tivesse sido fácil derrubar o regime taliban, as estratégias militares convencionais não funcionavam naquele território.

Tropas americanas em Kandahar, Afeganistão, 2003
A invasão e os 17 conturbados anos de ocupação que se seguiram, constantemente pontuados por acções de guerrilha e ataques terroristas, causaram nas forças da coligação 3546 mortos, dos quais 2412 americanos. Entre a população civil afegã as baixas atingiram muitas dezenas de milhares de mortos e, apesar dos fundos e assistência internacional que têm sido canalizados para o desenvolvimento do país, o Afeganistão continua a ser um estado falhado, minado pela corrupção e pela incompetência, e as suas forças armadas continuam a mostrar-se incapazes de debelar a actividade dos taliban., apesar de contarem com o apoio de 13.000 militares da NATO (que, actualmente, providenciam sobretudo treino e aconselhamento). Como se o cenário não fosse suficientemente descoroçoante, em 2015 o Daesh/ISIS abriu uma sucursal no país.

O Afeganistão em Dezembro de 2018: a rosa, áreas controlados pelo governo afegão; a branco, áreas controlados pelos taliban; a cinzento, áreas controlados pelo Daesh/ISIS
Iraque, 2003
A produção e posse de gases de nervos e outras armas de destruição maciça, bem como o apoio à al-Qaeda, foram o pretexto invocado para a invasão do Iraque pelos EUA em 2003. Porém, desta feita os EUA não conseguiram obter os apoios que tinham permitido legitimar internacionalmente a expulsão do Iraque do Kuwait e a invasão do Afeganistão, pois, apesar da esforçada argumentação do Secretário de Estado Colin Powell (que fora Chefe de Estado-Maior durante a Primeira Guerra do Golfo) perante o Conselho de Segurança da ONU, não ficou provado que o Iraque possuísse armas de destruição maciça ou apoiasse a al-Qaeda (nem a subsequente ocupação do país permitiu recolher qualquer indício em favor desta tese). Pode dizer-se que Saddam Hussein contribuiu para este desfecho com mais um erro de avaliação: crendo que a única coisa que poderia dissuadir os EUA de o atacar seria a posse de armas de destruição maciça, adoptou uma posição deliberadamente ambígua – desmentiu oficialmente possuí-las mas, ao não permitir inspecções esclarecedoras pelas equipas internacionais, alimentou a suspeita de que estaria a esconder algo, o que deu aos EUA pretexto para atacá-lo.
A invasão do Iraque foi precedida por uma intensa campanha de bombardeamento aéreo e iniciou-se a 20 de Março de 2003; cinco semanas depois, a 1 de Maio, o presidente George W. Bush anunciava que a missão fora cumprida. Mais notável ainda, a derrota de Saddam Hussein custara às tropas americanas apenas 139 mortos (contra cerca de 10.000 soldados iraquianos). Mas, tal como no Afeganistão, se foi fácil aos EUA vencer a guerra, já a paz se revelou bem mais difícil de atingir, em parte devido a uma série de erros e atitudes dúbias pela parte dos vencedores e à sua ignorância sobre o povo e o território do Iraque.

Tanques americanos M1A1 Abrams junto ao monumento “Mãos da Victória”, em Baghdad, Novembro 2003
O clima de instabilidade e violência que se instalou após a queda do regime, quer com lutas sectárias entre sunitas e xiitas e curdos quer com ataques aos ocupantes, forçou as tropas americanas a ficarem no país até 2011 e em 2014 foi necessário chamá-las de volta, devido à entrada em cena do Daesh/ISIS, que levou de vencida as forças governamentais iraquianas e tomou conta de vastas áreas do país, só tendo sido debelado no final de 2017 (embora continue a promover atentados terroristas). As baixas americanas registadas após a queda do regime de Saddam Hussein foram de 440 mortos e 32.000 feridos. Em 1991, Dick Cheney, então Secretário da Defesa de George de H.W. Bush, fizera um prognóstico correcto em 1991, ao prever que os EUA iriam “ficar atolados em problemas” – o que leva a perguntar o que o terá levado a converter-se num dos mais veementes defensores da teses de que Saddam Hussein possuía armas de destruição maciça e estava conluiado com a al-Qaeda.
A idílica visão de um Iraque livre, estável, democrático e próspero anunciada pela administração Bush – e em particular por Cheney, que continuou durante muito tempo a prognosticar que a guerra contra o Iraque se tornaria numa “tremenda história de sucesso” – deu lugar a conflitos intermináveis e a mais um estado falhado. As perdas de vidas iraquianas em resultado dos últimos 15 anos de combates, execuções, atentados terroristas e operações anti-insurgência são avaliadas em 103.000 a 114.000 pelo Iraq Body Count, mas a revista Lancet, num estudo que soma às vítimas da violência as mortes resultantes da degradação (ou colapso) das infra-estruturas, dos serviços de saúde e da segurança, chegou a cerca de 600.000 mortos.
[Danos colaterais na missão de manutenção da ordem pelo Globocop: Baghdad, 2007: Um helicóptero americano Apache dispara sobre vários transeuntes, assumindo que estão armados (não estão) e que são “insurgentes” (não são e um deles é repórter da Reuters); quando uma carrinha com vários adultos e crianças, também desarmados, chega para tentar recolher os feridos, são também alvejados. O visionamento do vídeo não é recomendado a pessoas sensíveis]
E os EUA que benefícios colheram da guerra no Iraque?
Ainda antes da invasão ter lugar, já se sugeria que o verdadeiro motivo para o encarniçamento americano contra o Iraque seria assumir o controlo do seu petróleo, acusação que Donald Rumsfeld, Secretário da Defesa americano, rejeitou: “Nós não pegamos em tropas e vamos pelo mundo a tomar conta do petróleo dos outros […] Não é assim que as democracias funcionam”. Na verdade, com maior ou menor subtileza ou hipocrisia, directamente ou por interpostos países ou grupos políticos, as democracias com poderio militar têm funcionado assim ao longo do século XX. Aliás, Dick Cheney, declarara em 1990, quando da I Guerra do Golfo, que “quem controlar o fluxo de petróleo do Golfo Pérsico terá um completo domínio não só sobre a nossa economia como sobre a de todos os outros países do mundo”.

O vice-presidente Dick Cheney dirige-se a soldados americanos, numa base militar no Iraque, 2008
A ter sido esta a motivação real para a invasão, poderá objectar-se que o controlo do petróleo iraquiano teve um custo exorbitante para os EUA: entre 2003 e 2011 o Estado americano gastou directamente com a guerra no Iraque 1.1 biliões de dólares (1.100.000.000.000 USD), valor que sobe para 1.9 biliões (1.900.000.000.000 USD) quando se contabilizam custos indirectos e diferidos (o que representa 6.300 dólares por cada cidadão americano). Há que somar a este valor o que os países da coligação pagaram para a reconstrução do Iraque: 60.000 milhões até 2013, mais 88.000 milhões para repor o que foi destruído na guerra civil de 2014-17.

Donald Rumsfeld, George W. Bush e Dick Cheney, Pentágono, 2006
Mas se a intervenção no Iraque parece ter sido ruinosa para o contribuinte americano, foi um bom negócio para empresas como a Halliburton, que opera no sector petrolífero, e para a Blackwater, que opera no ramo da segurança privada (prescindindo de eufemismos: é uma agência de mercenários) e tem trabalhado para a CIA e para o Departamento de Estado americano (e tem mudado de nome várias vezes – chama-se agora Academi, o que se associa mais facilmente a um centro de explicações do que a mercenários armados até aos dentes). E talvez não seja um acaso que o vice-presidente Dick Cheney tenha sido CEO da Halliburton entre 1995 e 2000 e que a Halliburton tenha tido primazia em vários contratos para a reconstrução do Iraque (nomeadamente um de 7.000 milhões de dólares, por ajuste directo).
Paquistão, 2009
A 23 de Janeiro de 2009, no Waziristão, uma zona montanhosa e inóspita do Paquistão que serve de base a grupos taliban que operam no vizinho Afeganistão, teve lugar o primeiro ataque com um drone ordenado pelo presidente americano Barack Obama, cuja tomada de posse ocorrera três dias antes. Atingiu uma casa que era suposto servir de refúgio a taliban, mas as 20 vítimas mortais que causou eram todas civis.
O uso de drones (os militares preferem chamar-lhes UAV: “Unmanned Aerial Vehicle”) na luta dos EUA contra o terrorismo islâmico não começou com este ataque – a prática tivera início no final de 2001, nestas mesmas paragens – mas foi durante a administração Obama que o seu uso teve maior expressão, perfazendo um total de 563 ataques, repartidos pelo Paquistão, Somália e Yemen (países nos quais, note-se, não existe, formalmente, intervenção americana), o que representa cerca de 10 vezes o número de ataques de drones nestes países durante os mandatos de George W. Bush. Estima-se que os ataques com drones nestes três países durante a administração Obama terão matado 3.797 pessoas, 324 das quais civis.
As baixas sofridas pelas tropas americanas no Afeganistão e Iraque, o desgaste psicológico causado pela forma de actuação da guerrilha islâmica e o carácter difuso e evasivo dos grupos terroristas levaram o Globocop a adoptar esta forma de intervenção, à distância e sem quaisquer riscos para o agressor. Apesar da sua sofisticação tecnológica e de a administração Obama o ter descrito como “excepcionalmente cirúrgico e preciso”, o método tem produzido “danos colaterais” – as estimativas da percentagem de civis entre as vítimas dos drones oscila entre 2 e 24%.
[Ataques de drones americanos contra taliban no Afeganistão]
https://youtu.be/5nY1jHUyeJI
O papel dos EUA no mundo, de Washington a Trump
A decisão de Donald Trump de retirar as tropas americanas da Síria poderá ser vista como inoportuna ou como um “presente” para a Rússia e para o Irão, mas não é inesperada, já que, ainda antes de ter chegado a presidente, não faltam entrevistas e discursos em que deixou bem clara a sua visão isolacionista da política externa americana: “Vai chegar um ponto em que teremos de perceber que seria melhor para nós que o Japão se defendesse por si próprio desse psicopata da Coreia do Norte e que seria melhor para nós que a Coreia do Sul se protegesse a si mesma; o mesmo para a Arábia Saudita”; “Temos de pôr ordem na nossa casa. Não podemos andar por aí a intervir em cada país com que não estamos inteiramente satisfeitos e dizer que o vamos recrear”; “Andamos a fazer nation-building. Não pode ser. Temos de construir a nossa própria nação”.

Há pouco de original em Trump para além do seu cabelo: antes de ser um slogan seu, “America First” foi o nome de um grupo de pressão, formado em Setembro de 1940 (e dissolvido em Dezembro de 1941), que se opunha ao envolvimento dos EUA na II Guerra Mundial. Neste cartaz o America First Committee apela à luta contra a revisão dos Neutrality Acts aprovados na década de 1930 e que asseguravam a neutralidade dos EUA face a conflitos noutros pontos do globo
A perspectiva de Trump é partilhada por muitos republicanos embora o partido acolha posições muito diversas: enquanto o falecido senador John McCain afirmou, em 2007, que os EUA deveriam manter tropas no Iraque durante 100 anos, fosse necessário (invocando como exemplo a longa presença militar americana na Coreia do Sul e Japão – “presença”, não “ocupação”, realce-se), Rand Paul, num discurso de 2013, apelava à “restauração da visão da política externa dos fundadores da nação”.
Paul e outros republicanos que pensam como ele, têm em mente o discurso de despedida de George Washington, publicado a 19 de Setembro de 1796, poucos dias antes das eleições que designariam o seu substituto na presidência dos EUA, ao fim de oito anos como presidente e 20 anos ao serviço da nação americana.

George Washington em 1796, por Gilbert Stuart
Nele, Washington mostra um claro pendor isolacionista: “A grande regra de conduta no que toca às nações estrangeiras é estender as nossas relações comerciais mas manter os vínculos políticos reduzidos ao mínimo. A Europa tem um conjunto de interesses primários com os quais temos uma relação mínima ou nula […] Daí que seja insensato da nossa parte envolvermo-nos, através de laços artificiais, nas vulgares vicissitudes da sua política e nas concertações e divergências das suas amizades e inimizades”.

O “discurso de despedida” de Washington, publicado a 19 de Setembro de 1796 no jornal American Daily Advertiser, de Filadélfia
Esta posição poderia fazer sentido em 1796, quando uma carta levava dois ou três meses para ir de Paris a Washington e a interdependência comercial das nações era reduzida, mas tornou-se obsoleta em 2019, quando a comunicação é instantânea e os “interesses primários” da Europa e do resto do mundo estão intimamente imbricados com os dos EUA. Na verdade, cinco anos depois do discurso de despedida de George Washington, já os EUA tinham enviado uma frota para defender os seus interesses no longínquo Mar Mediterrâneo e passados mais 22 anos já proclamavam ao mundo que todo o continente americano era o seu quintal e que as potências europeias deveriam manter-se afastadas.
Uma coisa é exprimir perspectivas abstractas em prol do isolacionismo quando se é senador ou candidato presidencial (ou candidato a candidato) e outra é ser-se presidente dos EUA, confrontado com realidades concretas que exigem decisões concretas e não discursos. E é aí que a postura isolacionista do presidente Trump se destaca, pois todos os presidentes e estadistas americanos recentes acabaram por ter práticas intervencionistas, fossem quais fossem as suas inclinações ideológicas.

Cartaz publicado em 1924 pelo Conselho Nacional da Prevenção da Guerra, em Washington D.C., assinalando o 10.º aniversário do início da I Guerra Mundial. O cartaz põe na boca do “isolacionista” a resposta de Caim quando Deus lhe perguntou se sabia do seu irmão Abel – “Serei eu o guardião do meu irmão?” – e proclama que “a América nunca aceitará a maldição de Caim”
Ronald Reagan (1981-89) trocou a política de “contenção” da URSS, em vigor desde 1946, por uma atitude mais agressiva (a chamada “Doutrina Reagan”); apoiou a guerrilha anti-comunistas na Nicarágua, Afeganistão, Angola e Camboja, bombardeou a Líbia, enviou tropas para o Líbano, invadiu a ilha de Granada, nas Caraíbas, e forneceu quantidades apreciáveis de material bélico sofisticado ao Iraque, então envolvido numa guerra particularmente insensata e sangrenta com o Irão.

Helicóptero dos marines americanos sobrevoa peça anti-aérea de fabrico soviético; Granada, Outubro de 1983
George Bush (1989-1993) expulsou o Iraque do Kuwait, invadiu o Panamá, derrubando o presidente Manuel Noriega, e enviou tropas para a Somália. Num discurso à nação, a 16 de Janeiro de 1991, sobre o ataque lançado nesse dia contra as forças iraquianas no Kuwait, afirmou: “Temos perante nós a oportunidade de forjar para nós e para as gerações vindouras uma nova ordem mundial – um mundo em que o primado da lei, não a lei da selva, reja a conduta das nações”.

Um blindado dos marines americanos na Cidade do Panamá, Dezembro de 1989
Bill Clinton (1993-2001) enviou tropas para o Haiti, lançou mísseis de cruzeiro sobre o Sudão, o Afeganistão e o Iraque de Saddam Hussein e, liderando uma coligação de países da NATO, interveio decisivamente na guerra civil na ex-Jugoslávia, primeiro em 1995 contra os sérvios da Bósnia (República Sprska), na Operação Deliberate Force, e depois em 1999 contra a República Federal da Jugoslávia, na Operação Allied Force. Afirmou em 1993 que “devemos e temos de ser pacificadores” e a sua Secretária de Estado, Madeleine Albright, proclamou, em 1998, que os EUA “são a nação indispensável. Erguemo-nos bem alto e somos capazes de ver mais longe no futuro do que os outros países”.

Um F-16 americano regressa à sua base em Itália após uma missão contra as forças dos sérvios da Bósnia, 1995
George W. Bush (2001-2009) invadiu e ocupou o Afeganistão e o Iraque, derrubando os regimes dos taliban e de Saddam Hussein. Proclamou que “o nosso inimigo é a rede de terroristas radicais e todo e qualquer governo que os apoie”, o que serviu de pretexto para a criação de um programa global de “rendições extraordinárias” (“extraordinary renditions”), que consistia no rapto e transferência (extra-judiciais) de suspeitos de terrorismo (das mais variadas nacionalidades) para os EUA (ou melhor, para a base americana de Guantánamo, em Cuba) ou para centros de interrogatório e detenção controlados pela CIA, em países terceiros.

Polícias militares americanos vigiam suspeitos de terrorismo detidos em Camp X-Ray, na base americana de Guantánamo, em Cuba, 2002
Barack Obama ordenou ataques aéreos e de mísseis contra a Líbia de Muammar Gaddafi (Operação Odyssey Dawn) o Daesh/ISIS na Síria, armou e treinou grupos que se opunham ao presidente sírio Bashar al-Assad, intensificou os ataques de drones contra alvos identificados com o terrorismo islâmico no Paquistão, Somália e Yemen e fez as forças americanas regressarem ao Iraque para conter o avanço do Daesh/ISIS. Num discurso de 2014, Obama enalteceu a América como “a única constante num mundo incerto. É a América que possui a capacidade e a vontade para mobilizar o mundo contra o terrorismo. É a América que uniu o mundo contra a agressão russa, em defesa do direito do povo ucraniano a determinar o seu próprio destino […] É a América que ajudou a remover e destruir as armas químicas da Síria […] América, as nossas incontáveis bênçãos implicam um duradouro fardo. Mas, como americanos, acolhemos a nossa responsabilidade de liderança. Da Europa à Ásia, dos cantos remotos de África às cidades dilaceradas pela guerra do Médio Oriente, defendemos a liberdade, a justiça, a dignidade”.
No anterior, a sua Secretária de Estado Hillary Clinton, proclamara que “a liderança americana não é apenas respeitada, é também necessária”.

Março de 2011: Um destroyer americano no Mediterrâneo dispara um míssil de cruzeiro Tomahawk sobre instalações de radar líbias
A reforma do Globocop?
Donald Trump prometeu durante a campanha presidencial um substancial aumento (10% ou 54.000 milhões de dólares) do orçamento militar dos EUA, mas ressalvando que a actuação dos EUA em países estrangeiros deveria restringir-se a casos em que estivessem em jogo interesses económicos americanos. Como presidente, tem mostrado que a sua (proclamada) intenção de não envolver os EUA em conflitos internacionais está aliada à rejeição de actuações concertadas com países aliados ou com a ONU, instituição que, durante a campanha eleitoral denunciara como débil e inepta.
A 25 de Setembro de 2018, num sintomático discurso perante a Assembleia Geral da ONU – o lugar, por excelência, do multilateralismo – fez a apologia do unilateralismo e da filosofia “America First” e reafirmou o não-reconhecimento pelos EUA do Tribunal Penal Internacional, que justificou proclamando que “a América é governada por americanos […] Rejeitamos a ideologia do globalismo e adoptamos a doutrina do patriotismo”. Afirmou que “a América escolherá sempre a independência e a cooperação em vez do governo, controlo e domínio do mundo. Respeito o direito de cada nação a seguir os seus costumes, crenças e tradições. Os EUA não vos dirão como viver, trabalhar ou prestar culto. Só vos pedimos, em troca, que também respeitem a nossa soberania”.
Mas, logo a seguir, Trump contradisse-se, mostrando que se considerava no direito de ditar aos outros países o que deveriam fazer: “Os países da OPEP estão, como sempre, a esmifrar o resto do mundo e eu não gosto disso […] Defendemos muitos desses países sem cobrar nada e eles aproveitam-se de nós impondo preços elevados ao petróleo. Não é bom. Quero que eles parem de subir os preços, quero que eles comecem a baixar os preços e têm, a partir de agora, de contribuir substancialmente para a sua protecção militar. Não toleraremos isto – os preços horríveis – durante muito tempo”. Não explicou o que faria se os “preços horríveis” se mantivessem – quiçá lançar uns mísseis de cruzeiro (o equivalente moderno da tradicional canhoneira) sobre os países prevaricadores?
Neste discurso, Trump invocou também a Doutrina Monroe, que, disse, faz com que “rejeitemos a interferência de nações estrangeiras neste hemisfério e nos nossos assuntos”, mas não esclarecendo se, como Monroe e quase todos os presidentes americanos que lhe sucederam, considera que os EUA têm direito a policiar os países do continente americano.
A actuação de Trump no campo das relações internacionais tem sido, como nos restantes domínios, errática, pois as suas decisões não são as de um estadista primordialmente preocupado com o bem do seu país mas as de um homem de negócios com interesses à escala global que, ainda por cima, possui uma natureza egocêntrica, volúvel e impulsiva. É, pois, impossível adivinhar se a anunciada retirada americana da Síria será seguida por outras medidas “isolacionistas”, mas o facto de os EUA possuírem uma tão longa e arreigada tradição de actuação como Globocop e uma tão formidável máquina de guerra, e de a rede de interesses económicos americanos ser mais densa e inextricável do que alguma vez foi, fazem com que seja improvável que os EUA de Trump prescindam realmente de desempenhar o papel de polícia global – aliás, é paradoxal falar de “não-intervencionismo” a propósito de um país que possui no estrangeiro 38 grandes bases e 600 estruturas (torres de transmissões, estações de rastreio, etc.), espalhadas por mais de 80 países, cuja manutenção custa anualmente cerca de 100.000 milhões de dólares.
A principal diferença será que os EUA de Trump não se sentem já obrigados a intervir de forma concertada com os aliados e a coberto de um mandato das instâncias internacionais.
Cuba, 2019
O governo de inspiração (supostamente) marxista que governa a ilha que fica mesmo em frente da península da Florida já não é um espinho tão doloroso para os EUA como foi no tempo de John Kennedy – embora a base naval americana em Guantánamo, uma “concessão” que data de 1903, continue a magoar o flanco dos cubanos. Mas as relações Cuba-EUA, que pareciam tender para uma progressiva normalização durante a presidência de Barack Obama, voltaram a crispar-se com Donald Trump.
Em 2016, começou a ser registada uma intrigante perturbação de saúde afectando diplomatas americanos em Havana e envolvendo sintomas de natureza difusa, associados a ruídos estridentes e penetrantes de origem inidentificável e que nalguns casos terão induzido perda de audição e de memória, dor de cabeça e náuseas, cuja responsabilidade Trump atribuiu em 2017, ao Governo cubano. Este estaria a atacar os diplomatas americanos com – segundo as versões – substâncias químicas, micro-ondas, ultra-sons ou infra-sons (sendo esta última a favorita).

O Hotel Nacionale, em Havana, foi um dos locais onde os diplomatas americanos foram “atacados”
Uma vez que o móbil para estes “ataques” não era óbvio – deixar alguns diplomatas a queixar-se de zumbidos nos ouvidos não é propriamente um golpe fatal no imperialismo americano –, houve quem sugerisse que não se trataria de um ataque deliberado mas de efeitos secundários do equipamento de vigilância aos diplomatas usado pela espionagem cubana. Seja como for, os sintomas continuaram a alastrar, o que levou o Departamento de Estado americano a reduzir o pessoal da embaixada em Havana ao mínimo, e, em retaliação pelo “ataque”, em Agosto de 2017, dois diplomatas cubanos foram expulsos dos EUA. Entretanto, alguns diplomatas americanos na China apresentaram queixas similares às dos colegas de Havana.
As autoridades americanas colocaram cientistas em campo e nomearam comissões de inquérito e os cubanos, desejosos de afastar as suspeitas sobre si, também encarregaram peritos de analisar a embaixada e os hotéis onde tinham sido reportados os “ataques” e de entrevistar os residentes nas vizinhanças. Nenhuma destas demandas identificou causas plausíveis para a “Síndrome de Havana”, nem sequer conseguiu apurar ao certo no que consistia objectivamente esta “doença”. Em Janeiro de 2018, num artigo na Psychology Today, Robert Bartholomew, um especialista em psicologia de massas e um desmistificador de fenómenos “paranormais”, classificou a “Síndrome de Havana” como um caso de hipocondria de massas (“Mass Psychology Illness” ou MPI).
Um ano depois, em Janeiro de 2019, Alexander Stubbs, da Universidade da Califórnia, e Fernando Montalegre-Zapata, professor na Universidade de Lincoln, vieram (indirectamente) dar razão a Robert Bartholomew, ao anunciar o resultado da análise dos ruídos captados durante um “ataque”: o que perturbara os diplomatas americanos não tinha sido uma arma secreta dos serviços secretos cubanos mas o canto do Anurogryllus celerinictus, o grilo-de-cauda-curta-das-Índias.

A arma sónica dos serviços secretos cubanos: Anurogryllus celerinictus
A fricção dos élitros (a cobertura das asas) dos grilos machos tinha, como nas restantes espécies de grilos, o inocente propósito de atrair as fêmeas da mesma espécie, mas parece ter dado a volta à cabeça de pessoal diplomático de natureza sugestionável e dado à leitura de romances de espionagem do tempo da Guerra Fria (mas não certamente da deliciosa sátira que é Our man in Havana, de Graham Greene, que os poderia ter posto de sobreaviso contra especulações paranóicas). Hipótese similar já tinha sido, aliás, formulada por cientistas cubanos, embora atribuindo a fonte a uma espécie diferente de grilo, o Gryllus assimilis (uma espécie comum na América do Sul).
Após dois anos de especulação, debate e atritos diplomáticos, o mistério da “Síndrome de Havana” parece estar esclarecido, mas convém recordar que a invasão de Cuba pelos EUA em 1898 foi justificada por “factos” – a “sabotagem” do couraçado Maine pelos espanhóis, na Baía de Havana – tão inconsistentes e fantasiosos como o “ataque sónico” aos diplomatas.














