Índice
Índice
21 lições para o século XXI é a terceira parte de uma trilogia do historiador israelita Yuval Noah Harari, que começou com Homo sapiens: História breve da humanidade (ver O macaco que se converteu em Deus) e teve continuação em Homo deus: História breve do amanhã (ver Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como). O terceiro livro chega a Portugal, tal como os anteriores, em edição Elsinore e com tradução de Rita Canas Mendes, apenas alguns meses depois da edição original.
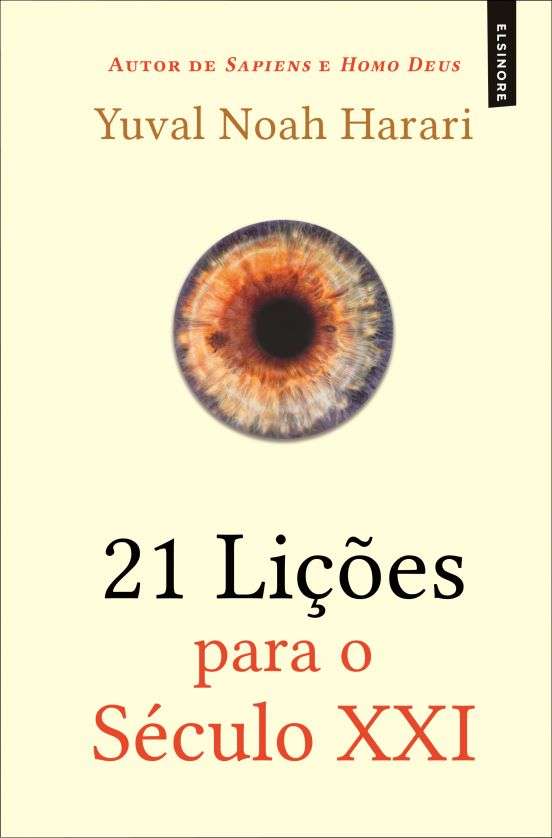
“21 Lições para o Século XXI”, de Yuval Noah Harari (Elsinore)
Este curto desfasamento é raro por cá, mas já acontecera com Homo deus (a tradução portuguesa foi a terceira a surgir) e explica-se por os livros de Harari serem best-sellers globais e quiçá por terem conquistado fãs entre a elite política e empresarial nacional que se desunha para fazer uma selfie com Paddy Cosgrave ou o robot Sophia, que acha giríssimo tudo o que tenha a ver com “Internet das coisas”, “genómica”, “bioinformática” ou “computação quântica” e a quem a promessa de eternidade e estatuto semi-divino já ao virar da esquina parece aliciante.
Harari anuncia na introdução que, após ter tratado o passado (em Homo sapiens) e o futuro (em Homo deus), pretende no terceiro tomo da trilogia “abordar especificamente o aqui e o agora” e que irá centrar-se “na actualidade e no futuro imediato”. A sua intenção é responder a perguntas como “A que devemos prestar atenção? O que devemos ensinar aos nossos filhos?”.
Porém, gasta o primeiro terço do livro – os capítulos “Desilusão”, “Trabalho”, “Liberdade”, “Equidade” e “Comunidade”, que ocupam cerca de 120 páginas – a reaquecer ideias já tratadas em Homo deus e que dizem respeito, essencialmente, a cenários futuros. Ao menos, Harari parece ter moderado o optimismo desvairado que insuflava boa parte de Homo deus, em que dava como definitivamente resolvidos os problemas da fome, do conflito e da doença e augurava à população mundial um futuro de prosperidade ilimitada e vida eterna.
Há nos restantes dois terços das 21 lições para o século XXI motivos de interesse e perspectivas originais que justificam a sua leitura, desde que se esteja atento às muitas falácias que semeiam o caminho e se passe por cima da pretensão implícita no título: em vez de “21 lições”, a modéstia ditaria que se tivesse optado por “21 perplexidades”, pois nem Harari nem ninguém tem resposta ou receita para os assuntos/problemas/angústias explanados no livro.

“De onde vimos? Quem somos? Para onde vamos?”, por Paul Gauguin, 1897
O ocaso do liberalismo
Liberalismo é uma palavra que é usada com diferentes significados por diferentes pessoas. No debate político português tende a ter carácter pejorativo e é um rótulo aplicado pela esquerda a quem crê na omnipotência do mercado e na sabedoria do capitalismo sem peias e quer encolher o Estado para dimensões mínimas – uma mundividência que seria talvez mais preciso denominar de “neo-conservadora”. Liberalismo também pode ser entendida como uma ideologia que tem na liberdade e igualdade valores supremos e que advoga liberdade não só para os mercados como para a expressão e para a crença religiosa e se opõe a discriminações baseadas no género e na raça. É a esta segunda acepção de liberalismo que Harari se refere no capítulo “Desilusão”, quando afirma que “até os eleitores no coração do Ocidente liberal estão na perder a fé na narrativa liberal e no processo democrático”, o que explica desta forma: “as pessoas podem não compreender a inteligência artificial e a biotecnologia, mas conseguem pressentir que o futuro está a deixá-las de parte […] A narrativa liberal era a narrativa das pessoas comuns. Como pode ela continuar relevante num mundo de ciborgues e algoritmos ligados em rede?”. E conclui: “Talvez as revoltas populistas do século XXI se façam não contra uma elite económica que explora o povo, mas contra uma elite económica que não precisa dele”.

John Locke (1632-1704), um dos pais do liberalismo, retratado por Godfrey Kneller em 1697
O argumento tem alguma pertinência, mas é difícil perceber como poderão as elites económicas prescindir do povo: o poderio económico estará sempre dependente da existência de uma massa de consumidores quem vender os seus produtos e serviços, por muito que a natureza das relações entre produtores e consumidores se altere. Tome-se o caso da Google: o seu astronómico valor económico resulta 1) dos anúncios pagos pelos produtores e 2) da informação detalhada sobre os consumidores que pode ser vendida aos produtores. Tudo isto – publicidade e informação – é imaterial, mas, em última análise, serve para que os produtores aliciem os consumidores a adquirir-lhes produtos e serviços. Os cyborgs e os algoritmos não fazem férias em Punta Cana, não frequentam spas e não compram sapatos, cremes hidratantes ou cereais para o pequeno-almoço.
Onde Harari está cheio de razão é quando constata que “o vácuo deixado pelo colapso do liberalismo vai sendo preenchido por fantasias nostálgicas sobre um qualquer passado dourado. Donald Trump conjugou os seus apelos ao isolacionismo americano com a promessa de ‘tornar a América novamente grandiosa’ – como se os EUA das décadas de 1980 e 1950 tivessem sido uma sociedade perfeita que os americanos devessem recriar no século XXI. O sonho dos brexiters é tornar a Grã-Bretanha uma potência independente, como se ainda vivessem no tempo da Rainha Vitória e como se o ‘maravilhoso isolamento’ fosse uma política viável na era da Internet e do aquecimento global”.

Cerimónia do Jubileu de Ouro da Rainha Vitória, na Abadia de Westminster, a 21 de Junho de 1887, comemorando o 50.º aniversário da sua coroação, por William Ewart Lockhart. Houve quem tivesse votado no Brexit com a esperança de regressar a este tempo
Os algoritmos do desemprego
Quando alguém exprime preocupação por os robots e a inteligência artificial poderem lançar milhões de pessoas no desemprego, a resposta dos devotos da tecnologia é que desde a Revolução Industrial que os luditas se alarmam por a mecanização roubar postos de trabalho, quando, na verdade, o sistema económico conseguiu sempre criar novos empregos para substituir os perdidos. Porém, escreve Harari, “há bons motivos para acreditar que, desta vez, será diferente e que a aprendizagem automática [i.e., pelas máquinas, o que em inglês se designa por machine learning] vai mudar por completo as regras do jogo”, perspectiva que Martin Ford explanou em detalhe no muito recomendável Robôs: A ameaça de um futuro sem emprego (ver Que fazer com toda esta gente supérflua?).
No capítulo sobre trabalho, Harari prossegue a exaltação dos formidáveis progressos realizados pelas máquinas no domínio das capacidades cognitivas que já ocupara muitas páginas de Homo deus. As máquinas não só estão rapidamente a adquirir competências de aprendizagem, análise, comunicação e, acima de tudo, entendimento das emoções humanas, como têm a vantagem de operarem em rede de forma muito mais perfeita do que os seres humanos. Até as tarefas criativas que tendemos a ver como intrinsecamente humanas podem ser mais bem desempenhadas por máquinas, diz-nos Harari. A arte define-se em termos de emoções humanas e estas “não são um qualquer fenómeno místico – elas resultam de um processo bioquímico”, pelo que um algoritmo de aprendizagem automática associados a sensores biométricos poderá ser capaz de compor música por medida não só para cada um de nós, como para o estado de espírito específico em que nos encontramos.
[“Daddy’s car”, uma canção “ao estilo dos Beatles” composta através das FlowMachines, um sistema de inteligência artificial desenvolvido pelos Sony Computer Science Laboratories, em Paris]
É curioso que Harari apresente a música como a indústria criativa mais susceptível de vir a ser revolucionada pelas novas tecnologias, quando esta já foi a primeira vítima desse impacto. Não foram precisos algoritmos de aprendizagem automática associados a sensores biométricos para fazer implodir a indústria musical: bastou a desmaterialização da música, a pirataria generalizada através da Internet e os hábitos de audição cada vez mais distraídos (ver Do walkman ao streaming: O que ouvimos realmente quando ouvimos música?). Os músicos há muito que foram espoliados dos seus rendimentos, em favor de mega-empresas que não precisam de compor, tocar ou editar nada – basta-lhes controlar a Internet e arrecadar as receitas publicitárias associadas à fruição de música por centenas de milhões de “melómanos” que, escudando-se nas mais variadas justificações, se recusam a pagar por “conteúdos”.
Para o futuro próximo, Harari traça um cenário em que recorrendo a informações detalhadas sobre milhões de pessoas, um “algoritmo pode descobrir que interruptores biométricos deve ligar para produzir um êxito global que vai deixar toda a gente a abanar-se à grande na pista de dança”. Mas os algoritmos poderão revelar-se tão eficazes no fabrico de êxitos planetários como na produção de música super-personalizada: “Se o seu namorado o deixar, o Facebook irá mimá-lo com uma canção personalizada sobre aquele sacana em particular, em vez da pessoa desconhecida que partiu o coração a Adele ou a Alanis Morrisette”.
Ambas as perspectivas são tenebrosas e estultas e o entusiasmo com que Harari as apresenta só é possível em alguém que combina a sensibilidade musical de um cepo com a crença na detestável concepção do ser humano como machina animata.

René Descartes, a partir de retrato por Frans Hals em 1648. O filósofo francês foi o pioneiro da visão do animal como uma machina animata – isto é de uma mera sucessão de respostas mecânicas e pré-determinadas a estímulos exteriores. Para Descartes, os uivos de um animal a ser vivissectado não tinham mais significado do que “a badalada de um relógio”
Sendo certo que muitos trabalhos irão desaparecer, ou, pelo menos, necessitar de muito menos trabalhadores humanos, a solução, proclamam os entusiastas da tecnologia, é simplesmente reconverter esses trabalhadores para novas funções. Ou seja, a sociedade ainda não conseguiu encaixar a ideia de que acabou “o emprego para a vida” e a inovação tecnológica já anuncia que também irá acabar “a profissão para a vida” e que os trabalhadores terão de reinventar-se sucessivamente para reagir às ondas de revolução tecnológica que se irão abater sobre eles com cada vez menor espaçamento.

Secção de embalagem, indústria de panificação, Alemanha, 2005
Só que agora não é como na Revolução Industrial – como aponta Harari, “todos estes novos empregos […] vão exigir uma grande especialização e, portanto, não darão resposta aos problemas dos trabalhadores sem habilitações”. “Em 1920, um trabalhador agrícola despedido devido à mecanização da agricultura podia procurar um novo emprego numa fábrica que produzia tractores. Em 1980, um operário fabril desempregado podia começar a trabalhar na caixa de um supermercado […] Mas, em 2050, um caixeiro ou operário da indústria têxtil que perca um emprego para um robot dificilmente conseguirá começar a trabalhar como investigador na área do cancro, ou como operador de drone”.

Os pardieiros onde vivia a classe operária londrina, gravura de Gustave Doré, c.1870
Na verdade, o cenário é bem mais preocupante do que traçado por Harari: por um lado, o desemprego gerado pelas máquinas não afectará apenas trabalhadores sem habilitações; também profissões altamente especializadas e qualificadas serão extintas e não será nada fácil converter um médico radiologista de 50 anos num operador de drones ou num técnico de impressão 3D. O outro é que o conceito de qualificação maciça assenta numa falácia: os entusiastas da tecnologia, tal como os governantes que olham o futuro através de óculos cor-de-rosa, parecem acreditar que, com treino adequado, reformas curriculares e escolas dotadas de tablets e quadros interactivos, qualquer um pode vir a ser técnico de energia eólica, nano-engenheiro ou designer de realidade virtual. Estão enganados: boa parte da população não desempenha hoje tarefas altamente especializadas não só porque não foi treinada para tal, mas porque não possui capacidades intelectuais nem inclinação para tal. A matéria humana não é infinitamente moldável e o sistema educativo, por muito dinheiro que nele se injecte, não é capaz de tomar 100 crianças ao acaso e de converter todos em profissionais altamente especializados.
Num momento de lucidez – e em contradição com outras afirmações suas – Harari admite que “muitas pessoas podem não ter o mesmo destino dos condutores de charrete do século XIX – que passaram a conduzir táxis – e sim o mesmo destino dos cavalos do século XIX, que aos poucos foram completamente empurrados para fora do mercado de trabalho”. Ser “empurrado para fora do mercado de trabalho” é uma formulação eufemística, pois Harari deve saber que o destino dos cavalos que puxavam charretes e ficaram sem “emprego” por causa do advento do automóvel, não foi gozar uma longa reforma antecipada num prado verdejante, foi serem levados para o matadouro.
[O tráfego em Londres na viragem dos séculos XIX-XX. O trecho entre 2’28 e 3’44 mostra quão intenso podia ser o tráfego]
Quem paga o rendimento básico universal?
Ainda no capítulo sobre o trabalho, Harari aborda o tema do rendimento básico garantido ou universal – ou seja, como forma de compensar as massas de trabalhadores lançadas no desemprego pela automação, o Estado asseguraria a todos os cidadãos um rendimento mínimo ou providenciaria gratuitamente um pacote de serviços básicos, cabendo a cada um decidir, de acordo com a sua natureza e as circunstâncias, se deveria arranjar um trabalho que proporcionasse uma fonte complementar de rendimento ou se deveria entregar-se à mais completa ociosidade ou a aprender a tocar sakuhachi ou a consagrar-se ao trainspotting. Apesar de gastar sete páginas com o assunto, Harari nunca menciona de onde virá o dinheiro para tal solução, uma omissão que é comum entre os futurólogos.
Em 2016, a figura do rendimento básico garantido – prevendo o pagamento mensal de 2.500 francos suíços (2200 euros) a cada cidadão – foi sujeita a referendo na Suíça, após o grupo Generation Grundeinkommen ter reunido 125.000 assinaturas para o efeito. A proposta foi recusada por 76.9% dos votantes, mas o que teria acontecido se a tivessem aprovado? É verdade que a Suíça tem hoje o 2.º maior PIB per capita do mundo – 70.000 euros – mas o que aconteceria ao PIB se o estímulo dos suíços para trabalhar fosse minado pela garantia de receber mensalmente 2200 euros sem qualquer esforço? Para mais, o Estado suíço não é “dono” do PIB suíço – este é gerado pelas empresas e pelos indivíduos e o Estado apropria-se de parte dos rendimentos destes através dos impostos e para poder pagar 2200 euros por mês a oito milhões de suíços o Estado teria de proceder a um brutal aumento de impostos – o que faria as grandes empresas abandonar o país ou, pelo menos domiciliar a sua sede fiscal noutro local, lançando a economia suíça no caos.
É inacreditável que as propostas de introdução do rendimento básico garantido sejam discutidas – e submetidas a referendo – como se não abalassem a estrutura socio-económica de um país até aos alicerces e fossem uma opção comparável a tornar gratuitas as entradas nos museus ao fim-de-semana ou legalizar o uso de Cannabis para fins terapêuticos.

Delegação da Kela, o instituto finlandês de segurança social. Em Abril de 2018, o Kela pôs termo a uma experiência de rendimento básico garantido (no valor de 560 euros mensais) iniciada em Janeiro de 2017 e envolvendo 2000 desempregados escolhidos aleatoriamente. Na verdade a experiência pouco informação trará sobre o funcionamento do “rendimento básico universal”, já que não abrangeu pessoas empregadas
Delegar a vida nos algoritmos
O capítulo sobre liberdade anuncia que “a revolução tecnológica pode instituir a autoridade dos algoritmos da Big Data, simultaneamente implodindo a ideia de liberdade individual”. Harari volta à carga com a cínica e detestável concepção do ser humano como uma mera aglomeração de algoritmos biológicos, já explanada em Homo deus (ver Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como): “Os sentimentos de atracção sexual surgem quando algoritmos bioquímicos calculam que um indivíduo próximo oferece uma alta probabilidade de acasalamento bem-sucedido, de relacionamento social ou de outro objecto cobiçado. Os sentimentos morais como a indignação, a culpa, ou o perdão derivam de mecanismos neuronais que evoluíram para viabilizar a cooperação no seio de um grupo”.
Os sentimentos não passam de cálculos, a consciência é uma fantasmagoria e o livre-arbítrio é uma ilusão, pelo que se estiverem disponíveis processos de tomada de decisão mais eficazes, precisos e modernos do que as elucubrações erráticas da nossa “arena interior secreta”, porque não recorrer a eles? Uma vez que “a maioria das pessoas não se conhece muito bem a si mesma”, porque não delegar as nossas escolhas nas máquinas que escrutinam minuciosamente os mais recônditos recantos da nossa vida?
No Admirável Mundo Novo de Harari, graças à recolha de “dados biométricos em volume suficiente e com o devido poder de computação, os sistemas externos de processamento de dados poderão reprogramar todos os nossos desejos, as nossas decisões e opiniões”.
Quando um grupo de amigos decide ir ao cinema e não há unanimidade sobre o filme a ver, é provável que o processo deliberativo acabe por designar “um filme medíocre que os desilude a todos”. Nestas ocasiões, “um algoritmo pode ajudar”, escolhendo qual “o filme perfeito para o grupo”. Hoje em dia a Netflix e a Amazon já nos fazem sugestões de filmes e produtos em função do registo histórico da nossa actividade, mas esta informação ainda contém muitas lacunas, que poderão ser colmatadas em breve, pois “neste momento há engenheiros a desenvolver software capaz de detectar emoções humanas com base no movimento dos nossos olhos e dos nossos músculos faciais”. Quando a televisão ganhar a capacidade de nos observar enquanto estamos em frente a ela, ela “irá descobrir o nosso tipo de personalidade” e permitir “à Netflix ou à Amazon escolherem-nos os filmes com uma precisão desconcertante”.
E, claro, o que é válido para escolha de filmes é aplicável a decisões mais ponderosas das nossas vidas, “como o que estudar, onde trabalhar e com quem casar” ou até ajudar-nos a perceber qual é a nossa orientação sexual. Harari sugere que os algoritmos serão uma preciosa ajuda para “muitos homossexuais [que] passam a adolescência sem certezas quanto à sua sexualidade”. A cena clássica do jovem que anuncia, embaraçadamente, à família que é gay está condenada a desaparecer. Adeus angústias e hesitações sobre a sua própria orientação sexual e adeus ao momento tenso de a revelar à família! A Big Data, depois de escrutinar o perfil de cada um de nós, revelará aquilo que nem nós próprios sabíamos – ou que sabíamos mas tínhamos relutância em admitir. E não há motivo para recear reacções de incompreensão da família: se é a Big Data que o diz, é a Verdade revelada, não é uma vergonha que se abate sobre a família nem “o estúpido do puto que agora meteu na cabeça que é maricas!”
A meio da arenga sobre as benesses do Admirável Mundo Novo, Harari tem, na pg. 80, uma vacilação: ocorre-lhe, a propósito de quem se habitua a seguir cegamente as instruções do GPS e acaba com o carro atascado num ermo, que “a capacidade de nos orientarmos é como um músculo – se não a usarmos, perdemo-la. O mesmo se aplica à capacidade de escolher um parceiro ou uma profissão”.
Porém, após este relâmpago de lucidez, Harari volta a assumir, ainda mais apaixonadamente, o papel de arauto do Idílico Futuro Algorítmico: “uma vez tomando a inteligência artificial melhores decisões do que nós sobre as nossas carreiras, ou até sobre as nossas relações, os nossos conceitos de humanidade e de vida terão de mudar. […] Depois de começarmos a depender da inteligência artificial para decidir o que estudar e com quem casar, a vida humana deixará de ser um drama de tomada de decisões”. E se isto é aplicável às decisões individuais, ainda mais sentido fará para as decisões colectivas: “as eleições democráticas e os mercados livres deixarão de fazer sentido. O mesmo sucederá com a maioria das religiões e das obras de arte”. E Harari pinta esta distopia, que ultrapassa largamente em horror o mundo imaginado por George Orwell em 1984, como se fosse algo desejável e inevitável.
[Cena dos “dois minutos de ódio”, do filme 1984, a partir do romance homónimo de George Orwell, na versão realizada por Michael Radford e estreada em 1984]
Todavia, por volta da página 105, a mente inconsequente e errática de Harari admite que este futuro radioso possa ser ensombrado, já que “à medida que cada vez mais dados fluírem do nosso corpo e do nosso cérebro para máquinas inteligentes, passará a ser mais fácil às empresas e às instituições estatais conhecer-nos, manipular-nos e tomar decisões em nosso lugar”. Manipular-nos?! O que resta para manipular na “vida” de alguém que já delegou em algoritmos todas as decisões importantes? Quando se prescinde completamente do livre-arbítrio, que diferença faz que o algoritmo seja isento nas suas escolhas ou seja ligeiramente enviesado em função dos interesses da Coca-Cola, da BP ou do Governo?
A verdade é que Harari vai construindo este cenário futurista sem nunca esclarecer que papel estará reservado ao homem depois de delegar tudo o que é importante nos algoritmos. Levaremos a vida vegetativa do típico cão de apartamento ou do frango de aviário?
Harari prevê que à medida que a autoridade passar dos seres humanos para os algoritmos, talvez deixemos de ver o mundo como uma arena em que indivíduos autónomos se esforçam por tomar as decisões correctas. Em vez disso, podemos encarar todo o universo como um fluxo de dados, ver os organismos como pouco mais do que algoritmos bioquímicos e acreditar que a vocação cósmica da Humanidade é criar um sistema de processamento de dados que tudo abarque – e depois fundirmo-nos com ele”. Não é uma visão inovadora: não só há muitos futurólogos e gurus de Silicon Valley – como Ray Kurzweil – obcecados com o conceito de Singularidade Tecnológica, ou seja, a fusão do corpo biológico humano com as tecnologias de informação, ou até o advento da irrelevância do corpo físico através da migração (ou “upload”) da “consciência” humana para um suporte informático ou para a “nuvem”, como Harari já tinha manifestado entusiasmo por esta possibilidade em Homo deus.
Harari pretende dar lições sobre a vida, mas tem uma noção estritamente materialista, bioquímica e utilitarista do que é a vida. Não percebe que a vida humana é precisamente o “drama de tomada de decisões” que ele quer suprimir. A dúvida, a hesitação, a angústia, o fracasso, o caminho feito que é preciso arrepiar, o investimento emocional que se prova ter sido em vão ou na pessoa errada, o fracasso, o arrependimento, o remorso, tudo isso é parte indissolúvel da vida e quintessencialmente humano. A vida não são apenas os resultados, são também a busca; não é apenas o ponto de chegada, é o caminho, por vezes retorcido e penoso, que se fez. É diferente descobrirmos algo por nós próprios ou que um algoritmo nos revele a solução; é diferente que aquilo que desejamos tenha sido obtido através de luta, renúncia, sacrifício e erro, ou que nos tenha sido oferecido de mão-beijada.

Será indiferente escalarmos uma montanha ou pagarmos para que alguém o faça por nós?
Há vida fora do Facebook?
O capítulo sobre comunidade é introduzido pela bizarra ideia de que o Facebook poderá ser a solução para um mundo em que desigualdade e as tensões sociais aumentam. Harari crê que há sinceridade nas lamentações de Mark Zuckerberg sobre a desintegração das comunidades humanas e na sua intenção de que o Facebook seja uma ferramenta “para tornar mais fácil a construção de comunidades” e “fortalecer o nosso tecido social e aproximar o mundo”. Escreve Harari, ecoando Tim O’Reilly em Como será o futuro e porque depende de nós, que “a visão de Zuckerberg de religar os seres humanos uns aos outros é oportuna e nobre”. Será isto uma forma de recompensar Zuckerberg por, em 2015, ter recomendado Sapiens: A brief history of humankind no seu Clube do Livro e tê-lo ajudado a ser num êxito de vendas à escala planetária?
Porém, os objectivos do Facebook nada têm a ver com os desígnios altruístas proclamados por Zuckerberg, mas antes, como acontece com todas as empresas, com o esmagamento dos seus competidores e a maximização dos dividendos para os seus proprietários e accionistas, dois objectivos plenamente logrados, já que, com 2196 milhões de utilizadores activos, é a mais relevante rede social do mundo (o YouTube, com 1900 milhões de utilizadores, segue-o de perto, mas não é bem uma rede social), e Mark Zuckerberg, que em 2004, quando fundou o Facebook, era um estudante universitário sem cheta, possui hoje 67.100 milhões de dólares e é o 10.º homem mais rico do mundo (mesmo depois de ter perdido 15.400 milhões de dólares em resultado da desvalorização bolsista da sua empresa em Julho passado, após esta ter apresentado resultados financeiros que decepcionaram os investidores).

Mark Zuckerberg
Acreditar que o propósito do Facebook é “tornar mais fácil a construção de comunidades, fortalecer o nosso tecido social e aproximar o mundo” é como acreditar que a Nestlé foi criada para alimentar os famintos, que a missão da Dolce & Gabanna é cobrir os nus e os andrajosos, que a RE/MAX visa providenciar habitação condigna a quem vive em barracas e dorme ao relento e que o Deutsche Bank nasceu para permitir a cada cidadão a concretização das suas aspirações e sonhos.
Na verdade, estas empresas até acabam por permitir que muitos se alimentem, vistam, encontrem casa e concretizem sonhos, não por altruísmo mas pelos egocêntricos mecanismos explicados há quase 250 anos por Adam Smith – “não é da benevolência do talhante, do cervejeiro ou do padeiro que deveremos esperar obter o nosso jantar, mas da sua demanda pelos seus próprios interesses. Apelamos não à sua humanidade mas ao seu benefício, e nunca argumentamos com as nossas necessidades mas sim com as suas vantagens”. Já o Facebook, ao enredar os seus utilizadores numa névoa fantasmagórica de “amizades” virtuais e numa ilusória pertença a uma cibercomunidade global, rouba-lhes tempo e energia para que desenvolvam actividade no mundo real e se comprometam com as comunidades do lugar onde vivem e leva-os até a descurar as obrigações para com as suas famílias, amigos e vizinhos. Quando, em 1938, recordando uma transmissão experimental de TV a que assistira dois anos antes, E.B. White, num momento de extraordinária lucidez, advertiu que ela iria “fazer-nos esquecer o essencial e o próximo em favor do secundário e do distante”, não seria capaz de sonhar que o poder alienatório da televisão seria largamente suplantado pelo do Facebook.

John Logie Baird, um dos pioneiros da televisão
Quando foi baptizado, o Facebook ficou a uma letra de distância de revelar a sua natureza, a que assentaria mais justamente a designação Fakebook. Hipócritas são as nobres intenções e princípios expressos pelo seu fundador e mentor; postiças são as vidas que nele se exibem; lisonjeiros os perfis que cada um traça de si mesmo; duvidosas as “amizades” que nele se coleccionam; espectrais as “comunidades” que nele se constituem; falaciosas as “notícias” que nele são difundidas; tomadas de empréstimo e irreflectidas as opiniões que nele se apregoam assertivamente; frívolo e inconsequente o “activismo” que nele se pratica; efémeras, preconceituosas e intempestivas as ondas de indignação que o varrem regularmente. E a este panorama pantanoso, que resulta naturalmente da própria natureza da plataforma e dos instintos humanos deixados à solta, há ainda a somar o embuste organizado, metódico e em larga escala, levado a cabo por serviços secretos, agências governamentais ou grupos políticos, com o fito de manipular a opinião pública e influenciar eleitores, ou por empresas empenhadas em promover os seus produtos nas redes sociais. Como pode depositar-se fé numa rede social em que os seus símbolos de pertença e prestígio social – “likes”, “amigos”, “seguidores” – podem ser comprados a empresas especializadas (a Socialyup, por exemplo, propõe 500 likes por 30 dólares e 20.000 por 699 dólares).
Na verdade, o único tipo de “comunidades” que o Facebook conseguiu incentivar foi a das turbas de linchamento que patrulham o ciber-espaço em busca de oportunidades para dar vazão à sua convicção de superioridade moral e às suas frustrações, e mesmo estas agremiações são volúveis, erráticas e de fidelidade flutuante.
Harari está consciente de que 1) “durante o último século, a tecnologia nos tem distanciado dos nossos corpos”; 2) o custo de estarmos em “contacto” com a nossa “comunidade” na Facebook é o afastamento em relação às pessoas que nos rodeiam no mundo físico; 3) para “conhecermo-nos uns aos outros como ‘pessoas inteiras’ […] é preciso muito tempo e requer interacção física directa”; 4) as pessoas entretidas a “partilhar experiências” no Facebook “mal se apercebem do que eles próprios sentem” e “o que sentem é cada vez mais determinado pelas reacções online”; 5) “o modelo de negócio do próprio Facebook encorajou as pessoas a passarem cada vez mais tempo online, mesmo que isso significasse ter menos tempo e energia para dedicar a actividades offline”. E, todavia, Harari deposita no Facebook todas as esperanças em que o declínio das comunidades seja sustido, a ponto de o capítulo sobre “comunidade” acabar por ser apenas sobre o Facebook.
Noutra parte do livro, Harari ilustra a coexistência de crenças contraditórias na mente humana com a imagem “alguns neurónios estão de relações cortadas uns com os outros”. É isso mesmo que este capítulo das 21 lições para o século XXI sugere que acontece no cérebro de Harari.
Outras “lições”
Sobre “o desafio ecológico” Harari não tem para oferecer mais do que lugares comuns: “se mantivermos o rumo actual, [o Homo sapiens] não vai aniquilar apenas uma grande percentagem de todas as formas de vida, mas pode destruir os alicerces da civilização humana”.
Mais à frente, Harari dá-se conta de que “o nacionalismo e a religião ainda dividem a nossa civilização humana em várias facções, por vezes hostis”, mas que “a Humanidade hoje, constitui uma única civilização, e os problemas como a guerra nuclear, o colapso ecológico e a disrupção tecnológica só podem ser resolvidos ao nível global” – o tipo de frase oca que o Secretário-Geral das Nações Unidas costuma proferir nas suas intervenções públicas e que algumas “misses” também formulam, com recursos retóricos mais modestos, no discurso de agradecimento, após receberem a tiara.
Não é mais sofisticada, inovadora, útil ou esclarecedora a conclusão a que Harari chega no capítulo “Imigração”: “o debate em torno deste tema não deve ser conduzido como uma luta absoluta entre qualquer imperativo moral inegociável. Trata-se de uma discussão entre duas posições políticas legítimas, que deve ser decidida à luz de procedimentos democráticos comummente aceites”.

Migrantes resgatados do Mediterrâneo
Em compensação, Harari tem coisas bem mais inteligentes a dizer sobre terrorismo (capítulo 10): salvo se se entrar no domínio do terrorismo nuclear ou biológico, os terroristas são incapazes de produzir estragos significativos, mas “confrontam os governos com um desafio a que lhes é impossível dar resposta: provar que são capazes de proteger todos os seus cidadãos da violência política a todo o momento e em todos os lugares”, e esperam que os governos reajam “ao teatro do terror […] orquestrando grandes exibições de força, com a perseguição a populações inteiras ou a invasão de países estrangeiros” e, nessa reacção, cometam erros que dêem vantagens aos terroristas – foi o que aconteceu quando os EUA reagiram aos atentados de 11 de Setembro de 2001 com a invasão do Iraque.
O capítulo “Humildade” lembra que “não somos o centro do mundo” e confronta o preconceito e intolerância das crenças monoteístas – e, em particular, o judaísmo, cristianismo e islamismo – com a atitude do imperador Ashoka, que governou boa parte do subcontinente indiano entre 268 e 232 a.C. e que por volta de 250 a.C. promulgou o seguinte decreto: “o rei que contempla todos com afecto, honra tanto os ascetas como os crentes comuns de todas as religiões”, advoga que todas as religiões tenham na sua base “o comedimento no discurso, ou seja, não tecer loas à sua própria religião, nem condenar a religião de outros sem bons motivos para isso” e afirma que “o contacto entre religiões é bom. Devemos escutar e respeitar as doutrinas professadas por outros”.

O imperador Ashoka num relevo do século I a.C. em Sanchi, Índia
Harari (um cidadão israelita, é bom lembrar) escolhe como alvo, entre as várias formas de falta de humildade, frequentemente de raiz nacionalista ou religiosa, “a megalomania judaica” – a ideia de que o povo judeu e o judaísmo desempenharam um papel central na história do mundo. Lembra que, ao contrário do cristianismo, o islão e o budismo, “o judaísmo sempre foi um credo tribal” e que o Velho Testamento hebraico apenas “acabou por ser uma pedra angular da cultura humana porque foi bem acolhido pelos cristãos e incorporado na Bíblia”. E lança uma pergunta zombeteira: “consegue citar algumas obras-primas inspiradas no Talmude?”.
Por outro lado, conclui Harari, a paranóia anti-semita – a ideia de que “os judeus controlam o mundo, ou o sistema bancário, ou, pelos menos, os meios de comunicação e que são culpados de tudo, do aquecimento global ao 11 de Setembro” – “é tão absurda como a megalomania judaica”.

O imperialismo judeu é um polvo cujos tentáculos são o liberalismo, a social-democracia, o comunismo, o radicalismo, a especulação, o monopólio do ouro, o ateísmo e a imprensa. Panfleto publicado na Noruega por Max Johannes Arildskov, 1935
É uma mensagem que terá dificuldade em encontrar ouvintes no país de Harari, alicerçado na ideia da excepcionalidade dos judeus e do judaísmo e na sua identificação da raça e da religião com o Estado, conceito que, em Julho de 2018 (já depois da publicação original deste livro), foi reforçado com a aprovação da “Lei Básica: Israel como Estado-Nação do povo judaico”, que estipula que o direito à auto-determinação (para o qual são invocadas bases “naturais, culturais, religiosas e históricas”) é “exclusivo do povo judeu” e torna o hebraico na única língua oficial do país.
O judaísmo não é, todavia, a única religião a ser demolida por Harari: “Quando mil pessoas acreditam numa história inventada durante um mês, chamamos-lhe fake news. Quando mil milhões de pessoas acreditam nisso há mil anos dizemos que é uma religião”.
Harari não se fica por alfinetadas como esta e no capítulo 13 questiona o próprio fundamento do pensamento religioso: “Porque existe algo em vez do nada? O que moldou as leis fundamentais da física? O que é a consciência e de onde vem ela? Não sabemos quais as respostas a estas perguntas e a esta ignorância damos o majestoso nome de Deus”. E, claro, Harari rejeita também a detestável ideia, que continua a ser apregoada com sobranceria por muitas autoridades religiosas que se julgam de espírito aberto e tolerante, de que “a fé religiosa [seja] uma condição necessária para o comportamento moral. […] Moralidade não quer dizer ‘seguir os ditames divinos’. Significa ‘diminuir o sofrimento’”.
O capítulo “Secularismo” complementa e expande as considerações sobre religião e realça a imperiosa necessidade de, não só as religiões como as ideologias e em todas as crenças, de reconhecerem as suas limitações, imperfeições e falibilidade e admitirem que existe nelas um lado sombrio que deve ser combatido, “para evitarmos a tranquilização ingénua de que ‘ a nós isso não pode acontecer’”.

Mosaico em Hagia Sophia, Istambul, datado de c. 1260, representando Christos Pantokrator, ou seja, “Todo-Poderoso”, aquele que tudo governa, o sustentáculo do universo
O que há de novo na pós-verdade?
A argumentação de Harari volta a revelar fragilidades no capítulo “Pós-verdade: Algumas notícias falsas duram para sempre”. Defende Harari que “os seres humanos sempre viveram na era da pós-verdade” e que o “Homo sapiens conquistou este planeta sobretudo graças à sua capacidade singular de criar e disseminar ficções”, pois são elas que unem os colectivos humanos e garantem que “todos obedecem às mesmas ordens e, portanto, conseguem cooperar eficazmente”. Tudo isto tem um fundo de verdade, mas não legitima que Harari possa afirmar que decorre daqui que não há razão para culpar “o Facebook, Trump ou Putin por terem aberto alas à nova e assustadora era da pós-verdade”.
Para comprovar que não há nada de novo nas fake news do século XXI, Harari compara os rumores que correram durante a campanha eleitoral de 2016 para a presidência dos EUA de que “Hillary Clinton encabeçava uma rede de tráfico de crianças que mantinha menores em escravatura sexual na cave de uma pizzaria muito conhecida”, com o boato que correu na cidade inglesa de Lincoln, em 1255, atribuindo a morte de Hugh, um rapaz de nove anos encontrado no fundo de um poço, a um assassínio ritual perpetrado por judeus, o que acabou por conduzir à execução de 19 judeus.

Apesar de ser conhecido como Little Saint Hugh of Lincoln, Hugh nunca chegou a ser canonizado, mas foi convertido em mártir e sepultado na catedral local, tornando-se num foco de peregrinações e devoções. Desenho do seu cadáver, preservado na catedral de Lincoln, por Samuel Hieronymus Grimm (1733-1794)
Harari esquece que existe uma diferença abissal entre o que o cidadão médio da Inglaterra medieval sabia sobre o mundo e o que o cidadão americano do século XXI sabe sobre o mundo. A diferença é ainda maior no que diz respeito ao que pode saber-se: mesmo um camponês inglês medieval que, por improvável acaso, possuísse espírito crítico e pretendesse confirmar a veracidade do que ouvia dizer, não teria forma de o fazer, pois era iletrado, estava rodeado de pessoas tão ignorantes e incultas como ele e a rígida estrutura social não lhe permitira obter esclarecimento junto de pessoas mais cultas. Já o cidadão médio americano de hoje até poderá estar mal informado sobre muitos assuntos, mas tem a possibilidade de, em alguns minutos e sem sair sequer de casa, expandir formidavelmente o seu conhecimento sobre seja que domínio for e confrontar rumores com factos.
Na verdade, a ignorância, a superstição, a credulidade e a estreiteza de vistas dominavam de tal forma a Europa medieval, que mesmo que o campónio de Lincoln chegasse à fala com um erudito ou um homem de leis, é provável que este partilhasse das crendices anti-semitas da populaça ignara. Na verdade, o boato sobre o assassínio ritual do pequeno Hugh não correu apenas entre os lapuzes e os arruaceiros, foi subscrito pelas mais altas instâncias do Estado e da Igreja. Harari omite esta parte crucial da história: apesar de não ter sido o primeiro caso do género – já em 1144 tinha corrido a história da crucificação do pequeno William of Norwich por judeus, seguida pela dos “mártires” Harold of Gloucester (em 1168) e Robert of Bury St. Edmunds (1181) – a morte de Hugh of Lincoln mereceu a intervenção directa da Coroa inglesa, que promoveu a acusação formal dos judeus.

A crucificação de William of Norwich por judeus, segundo pintura do século XV na Holy Trinity Church, Loddon, Norfolk
O próprio Henrique III se deslocou à cidade e ordenou a execução de um judeu que confessara o crime (após ter sido torturado pelo irmão do bispo de Lincoln) e a prisão de outros 90, dos quais 18 acabaram por ser condenados e executados. E Hugh of Lincoln não foi um caso isolado: rumores análogos começaram a correr noutras regiões do país, dado origem a sangrentos progrom e acabando por determinar a expulsão de todos os judeus de Inglaterra em 1290.
O boato sobre Hugh of Lincoln faz parte do quadro mais vasto e complexo das perseguições anti-semitas na Europa medieval e não foi um caso comparável com a atoarda sobre a rede de tráfico de crianças de Hillary Clinton, que não mereceu o crédito de nenhum medium minimamente sério (pelo contrário, o boato foi imediatamente investigado e desmentido por jornais e cadeias de TV – até pela Fox News) e muito menos de uma entidade judicial ou estatal (embora um lunático tivesse entrado aos tiros na pizzaria, exigindo a libertação das crianças).

A pizzaria Comet Ping Pong, em Washington, em cuja cave estariam aprisionadas as crianças traficadas por Clinton
Mas a falha essencial de Harari é não perceber que o que é peculiar na pós-verdade não é que haja quem espalhe mentiras e meias-verdades, é a atitude dos receptores. O que é “novo e assustador” na pós-verdade do século XXI é que ela não resulta da ignorância ditada pelas circunstâncias, mas da decisão deliberada dos receptores de ignorar tudo o que não se conforme à sua mundividência e aos seus preconceitos. A pós-verdade é a cegueira selectiva que faz aceitar as histórias mais inverosímeis e rebuscadas e os argumentos mais coxos e recusar provas claras e inequívocas da sua falsidade – o que importa é que as histórias se ajustem àquilo em que escolhemos acreditar. A ignorância circunstancial pode ser superada dando às pessoas acesso a informação de qualidade; já a cegueira selectiva não se “cura” com mais informação. Na verdade, até tem proliferado neste nosso tempo de sobrecarga informativa, uma vez que a Internet permite aos fanáticos, monomaníacos e adeptos de teorias da conspiração – outrora isolados – estabelecer contacto com os que partilham ideias similares e passar a viver apenas rodeado pelas suas ficções favoritas, sem ser confrontado com mundividências diversas e argumentações contrárias.
[Compilação de excertos de declarações de Alex Jones, dando crédito aos rumores sobre a rede de tráfico de crianças de Hillary Clinton (ou “Pizzagate”). Alex Jones é o mais activo difusor de teorias conspirativas dos EUA, através do The Alex Jones Show e do website InfoWars, e está conotado com a alt-right e os paleoconservadores. No rescaldo do caso “Pizzagate”, Jones foi obrigado por um tribunal a retractar-se das suas acusações]
O caminho da beatitude pneumática
Na 21.ª “lição”, que tem por título “Meditação: Observar, simplesmente”, Harari entra, inesperadamente, em modo confessional e faz revelações sobre a sua vida pessoal que encerram a explicação para a mundividência expressa em Homo deus e nestas 21 Lições, assente na ideia de que os sentimentos não passam de cálculos e o livre-arbítrio de uma ilusão, para o desprezo por religiões, filosofias e ideologias, para a pouca estima pelas artes e para a aversão ao “drama da tomada de decisões”.
Conta Harari que, aos 24 anos, após uma juventude em que se descreve como “uma pessoa preocupada e inquieta”, aderiu à meditação Vipassana, uma prática budista que o fez perceber que “o sofrimento não é uma condição objectiva do mundo exterior”, antes “uma reacção produzida pela minha mente”. Escreve Harari que “se realmente conseguir observar-se a si mesmo durante o tempo que demora a inspirar e expirar… terá compreendido tudo” – e por tudo, entenda-se o Mistérios da Vida e da Morte e do Universo.
Chegar a este capítulo é como ser aliciado a assistir a uma palestra sobre história e filosofia e no fim o orador começar a fazer propaganda a cursos de “mindfulness” e “reiki” e a clínicas de “cura xamânica” e a distribuir amostras de “florais de Bach”. Harari diz fazer esta revelação do foro pessoal para que o leitor conheça “a cor das lentes através das quais vejo o mundo”, uma franqueza que é bem-vinda, mas deveria ter tido lugar logo na introdução, ou até na introdução a Homo deus.
As duas horas por dia que Harari tem gasto ao longo destes anos (tem agora 42) tornando-se agudamente consciente das suas inspirações e expirações poderão ter contribuído para acalmar as suas angústias existenciais e a sua incapacidade para aceitar a dúvida e o erro, mas não parecem ter feito dele um pensador sólido e consistente. Nos dois últimos parágrafos, o progresso tecnológico que apresentou como promessa converte-se, subitamente, numa ameaça: a tecnologia serve, afinal, para tornar “mais fácil iludir as pessoas” e dentro de pouco tempo “serão os algoritmos a decidir por nós quem nós somos e o que deveremos saber acerca de nós mesmos”. A não ser que façamos “o esforço de investigar quem realmente somos”.
Ao contrário do que vaticinava Homo deus, a plenitude da humanidade não se realizará pela fusão com a máquina ou pelo upload da mente humana para a “cloud”, mas através da focalização de toda a atenção nos actos de inspirar e expirar. Antes que os malvados dos algoritmos tomem o poder, inscreva-se num retiro de meditação Vipassana. E leve os miúdos.
















