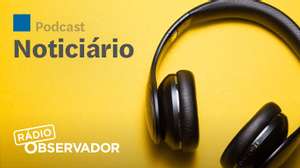A ideia de que podemos olhar para o passado para tentar ajustar a nossa forma de encarar o futuro é tão gasta quanto verdadeira — basta medir a popularidade do aforismo comumente atribuído ao filósofo espanhol George Santayana, de que “aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo”.
Não é isso necessariamente o que Peter Frankopan propõe em A História do Mundo — Do Big Bang até aos dias de hoje, um verdadeiro tomo concebido pelo historiador britânico da Universidade de Oxford. Aliás, a edição portuguesa trai em parte o intuito explicitado no título original, The Earth Transformed. Ao que Frankopan se propõe nesta recolha absolutamente vertiginosa e holística da história humana é tentar compreender como esta foi afetada pelo clima ao longo da nossa existência. Ou seja, é literalmente “ler” o ar dos tempos, já que o investigador dispõe de uma quantidade de dados avassaladora, propiciada pelos avanços tecnológicos, que dão luzes sobre como padrões climáticos na antiguidade podem ter contribuído para o florescimento de algumas civilizações e para o definhar de outras.
Convidado para a conferência “Peter Frankopan ao vivo: Planeta em mudança não é assim tão simples”, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o investigador esteve em Lisboa, onde falou com o Observador. É no decurso de uma conversa curta mas repleta que explica como as páginas do diário de um dos primeiros presidentes dos EUA demonstram como as preocupações com o clima não são um fenómeno moderno. Ou que algo como um terramoto pode ter criado as condições ideais para a Rússia invadir a Ucrânia.
No cerne do entendimento de Frankopan, contudo, está a ideia de que mais do que a influência mais ou menos benéfica, mais ou menos destrutiva dos fenómenos climáticos, o que selou o destino glorioso ou funesto dos diferentes povos foi a sua capacidade de reação e previsão às circunstâncias. A queda de um império nunca se dá de repente, defende, é uma asfixia lenta causada por um misto de más circunstâncias que podem ir desde colheitas insuficientes à venalidade e incompetência dos governantes.
A humanidade, defende Frankopan, está num ponto de inflexão, já que os dados de que dispomos advertem-nos para as mudanças climáticas mais repentinas e violentas jamais registadas. A forma como as encararemos, avisa, essa não está escrita na história.

▲ A capa da edição portuguesa de "A História do Mundo", de Peter Frankopan (Ed: Crítica)
O clima foi desde sempre fulcral para a experiência humana, desde os rituais religiosos feitos na tentativa de melhorar as colheitas até à forma como as povoações e as cidades floresceram ou se sofreram devido à sua influência. Porque é que tem sido tão negligenciado na maior parte da historiografia?
Suponho que não tenha sido negligenciado até há cerca de 300 anos. Penso que antes era muito importante para as pessoas refletirem sobre o mundo natural que as rodeava. Isso é visível nos textos gregos antigos, nos textos védicos da Índia ou do Sul da Ásia, nos textos religiosos, nas intervenções que os sacerdotes faziam para tentar trazer as chuvas ou impedir as cheias. Julgo que é provavelmente uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, começámos a centrar a forma como pensamos a história nos indivíduos, para ensinar aos “novos filhos do império” com quem deveriam aprender quanto ao passado. Por exemplo, Napoleão era obcecado por Alexandre, o Grande e por Júlio César. Por isso, a história tornou-se uma história de educação, de lições para ensinar — sobretudo aos jovens — a serem líderes bons e fortes. E depois, penso no distanciamento [em relação ao clima] e acredito que, a partir dessa altura, tratou-se provavelmente de manter as coisas simples. A maior parte da História em que pensamos é uma espécie de fórmula pronta para a Netflix. É o Vasco da Gama a sair ou a regressar de um porto, são os horrores da Segunda Guerra Mundial e os julgamentos de Estaline. Quando começamos a encarar os humanos como os atores mais importantes, esquecemo-nos facilmente do palco. Porque é que nos esquecemos do cenário?
Curiosamente, penso que no passado, durante a maior parte da história, as pessoas prestaram muita atenção a questões como as que Platão se colocou, sobre a razão pela qual a qualidade do solo era muito pior no final da sua vida do que no início. E além desta ideia da história como uma espécie de educador para a liderança, outro fator reside provavelmente na crença de que a ciência resolverá todos os problemas e que não precisamos de nos preocupar muito com isso [o clima]. Há muitos historiadores do ambiente que pensam sobre o tema, mas talvez não tenhamos sido suficientemente bons a colocá-lo em livros que as pessoas leiam. Há muitos colegas meus que trabalham em diferentes partes da história do ambiente, mas suponho que talvez só agora, em 2024 ou nesta parte do século XXI, é que um número suficiente de pessoas esteja realmente preocupado com o mundo natural e com a mudança, pelo que estarão mais interessadas em descobrir o que isso significou no passado.
Em relação ao que estava a dizer, talvez o clima não se enquadre realmente nesta ideia da história como impulsionadora das narrativas nacionais, certo?
Essa é parte da explicação, mas a principal razão é o facto de dispormos agora de ferramentas para medir o passado. Uma das pessoas sobre quem escrevo no meu livro é Thomas Jefferson, o homem que escreveu a Declaração de Independência dos EUA — diga-se que, além de Colombo ter atravessado o Atlântico ou de Vasco da Gama ter encontrado o caminho para a Índia, a independência americana é provavelmente o acontecimento geopolítico mais importante das últimas centenas de anos, um acontecimento que criou a grande superpotência mundial. Na manhã em que os Estados Unidos declararam a independência, Jefferson, em vez de se preocupar se isto era bom ou se ia dar origem a uma nova grande potência, foi comprar um novo termómetro para medir o tempo. E depois, no dia seguinte, tendo a América declarado a independência, voltou a sair à rua para comprar um barómetro para verificar as medições, porque estava obcecado com o facto de o clima estar a mudar. Fez várias leituras todos os dias — tenho no livro uma fotografia do seu diário no qual ele fazia várias medições para registar as condições do vento e os níveis de temperatura, porque ele, tal como muitas pessoas na América do Norte, sentia que o mundo e o clima estavam a mudar e estava convencido de que isso tinha a ver com a exploração humana do ambiente. Se abatermos as florestas, alteramos os padrões de precipitação, alteramos as temperaturas. E foi atacado por professores de Harvard, que disseram “está a basear as suas provas em boatos, em pessoas que dizem que ‘antes costumava ser mais frio'”. Por isso, manteve um diário durante décadas, medindo todos os dias, de forma obsessiva, as mudanças de temperatura. E agora, quando olhamos para trás na história, temos ferramentas que nos permitem ver como eram as temperaturas aqui em Portugal há 300 anos, há mil anos ou até mais. E isso permite-nos compreender muito melhor o passado, porque a forma como a ciência está a transformar a história é algo de alucinante. É realmente emocionante.
Essa história sobre Jefferson é, de certa forma, uma prova de que as preocupações ambientais não são algo contemporâneo, mas sim algo que acontece desde sempre.
Sim, escrevo também aqui sobre ficção científica [publicada] há cerca de 100 anos, mais ou menos em 1900. De repente, surgiu uma vaga de livros intitulados “O homem que roubou o clima”, com preocupações sobre o que poderia acontecer se fosse possível fazer a água aparecer ou desaparecer, ou se fosse possível rodar o mundo sobre o seu eixo e os trópicos se tornassem os pólos e os pólos se tornassem os trópicos. Na década de 1950, os cientistas soviéticos tentaram perceber se poderiam alterar a ecologia da África Ocidental e ajudar a liderar um movimento revolucionário comunista global, transformando o Sara, através de bombas e explosões nucleares, num lugar verde, porque as pessoas já se tinham apercebido de que o Sara já foi uma zona de lagos e vegetação. Por isso, estas ideias sobre o mundo que nos rodeia e sobre a forma como o podemos mudar para o bem e para o mal têm um longo legado. É como disse, hoje em dia as pessoas pensam que estas questões são muito prementes e muito novas, mas já existem há muito tempo.
Uma das teses principais do livro é que o clima moldou a civilização humana e que a nossa reação a ele ditou o destino de reinos e impérios anteriores. Mas agora estamos perante um novo problema, pois estamos “à beira de nos tornarmos vítimas do nosso sucesso como espécie”. Como assim?
O nosso sucesso tem sido espantoso, certo? Os avanços na ciência e na medicina significam que temos a maior população global de sempre, temos as taxas de sucesso mais elevadas de cuidados de saúde materna quando as mulheres dão à luz do que em qualquer outra altura na história. E as crianças nascidas neste preciso momento têm a maior esperança de vida de sempre. Tudo isso pode mudar, mas os êxitos que alcançámos neste mundo em que vivemos, com luzes que se acendem, Wi-Fi em todo o lado e a nossa capacidade de enviar mensagens uns aos outros, significa que estamos hiperconectados. E isso é uma coisa gloriosa e maravilhosa, o facto de podermos partilhar conhecimentos. De facto, melhor ainda, não apenas partilhar, mas democratizá-lo. Porque não são apenas os ricos que podem aquecer as suas casas, ter luz e conetividade. Toda a gente pode. E é a mesma coisa com a aprendizagem universitária — eu sei que recebemos um diploma se estudarmos na universidade, mas se quisermos aprender sobre um assunto, podemos encontrar vídeos do YouTube de alguns dos maiores especialistas do mundo gratuitamente.

▲ "Na Amazónia, onde os povos indígenas, que são muito melhores em termos de sustentabilidade a longo prazo, conservação e compreensão dos seus ecossistemas, são tratados como parte do problema"
AFP via Getty Images
É uma gigantesca mudança de paradigma.
É incrível, essas são coisas maravilhosas, em muitos aspetos. Mas os perigos são o facto de o mundo estar a mudar diante dos nossos olhos muito rapidamente — e de muitas formas que são aterradoras. Há poucos dias tivemos as temperaturas mais quentes de sempre no Chipre, em junho. Houve uma onda de calor em todo o Mediterrâneo oriental e isso significou que espaços como a Acrópole tiveram de ser encerrados pelo Governo grego. Houve pessoas que morreram em Meca durante a peregrinação, a Hajj. As temperaturas na Índia, na semana passada, foram de 52,9 graus centígrados. E estas são condições em que os seres humanos não funcionam. Para a maioria dos homens adultos, a temperatura ótima de produtividade é de 21 graus centígrados e, em média, para as mulheres é de cerca de 24 graus centígrados. E quando começamos a entrar na casa dos 30 graus sem ar condicionado, sabemos que todas estas coisas, como violência sexual e doméstica, ataques violentos e agressões, incluindo assassínios, aumentam e a tomada de decisões cognitivas diminui. O nosso processo de tomada de decisões quando estamos sob stress térmico é algo que nos deve preocupar bastante.
Poder-se-ia pensar que, de facto, tendo em conta tudo isto, as coisas estão a correr muito melhor a nível global do que poderíamos pensar. Mas, sabe, não é preciso muito para que as crises se instalem. E, para mim, uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos 12 meses, em termos políticos e económicos, foi a decisão do governo indiano de bloquear a exportação de arroz no verão passado — porque o governo indiano está preocupado com a falta de disponibilidade alimentar. E tivemos estes ensaios com a Covid-19, com o que acontece com um confinamento e uma pandemia, mas e o que acontece com a escassez de água em cidades de todo o mundo? A Cidade do México, por exemplo, fica sem água a 26 de junho, ou perto disso. Se as grandes cidades falham no abastecimento de água, é porque somos vítimas do nosso próprio sucesso. Ou, se o colocarmos de forma mais cínica, da nossa incapacidade de planear com antecedência.
Apesar de o livro perspetivar uma visão mais sombria da nossa vida na Terra, faz questão de dizer que não existem narrativas simplistas e que fazê-lo é perigoso. Refere como um exemplo de colapso num extremo pode significar florescimento noutro.
Veja, por exemplo, se for fã do Império Romano — como aparentemente muitas pessoas são, homens americanos que pensam nisso todos os dias não sei quantas vezes —, a sua queda nas províncias ocidentais, incluindo a Hispânia, é desastrosa porque, depois de 400 d.C., deixámos de ter mais anfiteatros construídos e lugares onde podemos ir e tirar uma bela fotografia para o Instagram. Mas, se formos um membro da população em geral, o facto de termos um abastecimento reduzido de bens vindos de longe e que são caros talvez não faça grande diferença na nossa vida. Se estivermos a trabalhar nos campos, quando está calor, está calor, é preciso fazer as colheitas e não se obtém necessariamente todos os benefícios. Por isso, o fracasso dos estados e dos impérios, ou a sua asfixia e morte lenta, exige uma reflexão um pouco mais construtiva sobre para quem é que isso é mau, como e porquê. Quero dizer, por exemplo, na Europa Ocidental, as pessoas deixaram de construir em pedra, deixaram de saber ler e escrever. Basicamente, viviam num raio de 16 quilómetros, não se afastavam mais de 16 quilómetros do local onde nasceram. Se adormecêssemos no ano 400 na Europa e acordássemos 500 anos mais tarde, não haveria qualquer mudança. Não houve novas tecnologias nem grandes diferenças. Um período bastante estável, com as mesmas crenças, de um modo geral. E talvez isso não seja mau, mas o nosso pressuposto é que isso é mau, certo? E talvez fosse mau, mas mau para quem? Será que, por vezes, há benefícios? Será que devemos pensar um pouco mais como historiadores e menos como produtores de televisão da Netflix sobre o que cria boa televisão?
Mas se estivéssemos na China nesse mesmo período, durante a dinastia Tang, isso seria um assunto totalmente diferente. Porque o que está a mencionar é também uma forma eurocêntrica de ver o mundo, certo?
Claro, e já escrevi sobre isso antes. Portanto, aqui, em Portugal, tenho a certeza de que aprenderam nas escolas que antigamente havia os gregos e romanos, e depois avançaram para a Reconquista. Agora já há a compreensão de que temos de ensinar um pouco sobre o Al-Andalus, sobre o que isso significa e como nos podemos tornar um pouco mais inclusivos, mas é um avanço um pouco tímido. Não há histórias óbvias que sejam contadas às pessoas, foi o que apreendi das vezes que passei em escolas e universidades portuguesas a falar com pessoas sobre educação. Portanto, estamos a ser menos eurocêntricos, mas não muito. Vejamos, por exemplo, agora os protestos, e feitos com razão, pelas liberdades dos palestinianos e a violência extrema que lhes é infligida: a maior parte das pessoas se calhar não se deu ao trabalho de saber o que ouvem os jovens na Palestina. Que tipo de música é importante no Médio Oriente? Por isso, podemos aprender uma coisa na escola, mas não é integrada em algo mais vasto. Penso que estes ritmos de como as pessoas se ligam e constroem ligações ao longo do tempo em diferentes partes do mundo são importantes e não lhes prestamos muita atenção.
Argumenta que há também uma espécie de equívoco no conceito de “colapso”, mencionando alguns exemplos como a queda do Império Acádio ou dos Maias, em que não foi o clima em si que o provocou, apenas lançou as primeiras sementes para que isso acontecesse.
Nem sequer lançou as primeiras sementes: é apenas um fator. O que os historiadores fazem é reunir muitos fatores diferentes e depois hierarquizar quais os mais importantes. Mas há sempre elementos multifactoriais em tudo isto. Quando era pequeno, partia sempre do princípio que um império morria como na Guerra das Estrelas: uma explosão maciça da Estrela da Morte. De facto, até vemos na própria saga A Guerra das Estrelas que isso também não acontece, o Império continua a existir, porque continuam a fazer mais e mais filmes. Não importa quantas Estrelas da Morte [explodam], há outra que é provavelmente mais útil. O que eu quero dizer é que [com os impérios] é sempre uma lenta asfixia: a produtividade abranda, as economias encolhem, muitas vezes há populistas que entram ou governantes que prometem que vão tomar decisões dramáticas. O sufoco nunca é espetacular. Mesmo no caso do Império Romano do Ocidente, quando chegam os hunos e os ávaros, não é tão simples como “os bárbaros deitaram fogo a tudo”. De facto, podemos ver isso com a cultura material, com a arqueologia, com a genética agora também. Há muito mais continuidade, as coisas vão piorando lentamente. Não sei se chegaram a ter a série Downton Abbey aqui em Portugal…

▲ "O nosso processo de tomada de decisões quando estamos sob stress térmico é algo que nos deve preocupar bastante"
Anadolu via Getty Images
Sim, tivemos.
Vemos no primeiro episódio como há uma casa de campo enorme com centenas de empregados mas, ao longo das temporadas, passa a ser o Lorde e a sua mulher a lavar a loiça, tiveram de despedir os empregados um a um, porque não tinham dinheiro para isso. E vão dizendo: “bem, não se preocupem, as coisas vão acabar por correr bem”. Esta, acredito, é uma boa metáfora de como as coisas se degradam. É que se estivermos no sítio errado na altura errada — e o nosso enquadramento ambiental faz sempre parte dessa história —, as coisas podem tornar-se difíceis. Um caso muito interessante é o de muitos dos meus colegas na China, que estão nos seus departamentos com um enorme trabalho a analisar como é que os fatores ambientais criaram mudanças de regime na história chinesa. E provavelmente não é preciso ser um génio para perceber que há uma razão para que essa pergunta seja feita hoje, sobre o que acontece na China, um dos locais com maior pressão hídrica e maior dependência energética e alimentar do planeta. No ano passado, tivemos uma onda de calor na China que foi a pior alguma vez registada no país. O que é que isso significa para a estabilidade do Partido Comunista? O que é que isso significa para a segurança das cidades? O que é que isso significa para a biodiversidade? O que é que isso significa para a segurança da água e dos alimentos? E como é que se pode tirar lições desse facto?
Vai ao encontro do que estava a dizer sobre a crise climática, de como o aumento do calor significa piores condições de vida que degradam lentamente tudo à sua volta, certo?
É óbvio que prestamos mais atenção a coisas como o aquecimento global, mas há mais exemplos. Quanto ao terramoto ao largo da costa do Japão em 2011, um dos efeitos mais importantes que teve foi, obviamente, a desestabilização do reator nuclear de Fukushima. Mas, além disso, cerca de dez dias depois, Angela Merkel, na Alemanha, disse que estava preocupada com o facto de a energia nuclear ser perigosa, pelo que ia encerrar todas as centrais nucleares alemãs — e todas elas foram encerradas no ano passado. Ao anunciar este facto, aconteceram três coisas. Em primeiro lugar, a indústria transformadora alemã, que é bastante substancial, precisava de substituir a energia que se ia perder com a energia nuclear. Assim, os alemães decidiram, na sua sabedoria, construir novos gasodutos de ligação à Rússia. Em segundo lugar, os russos pensaram “bem, isto dá-nos obviamente margem”, por isso, quando invadiram a Ucrânia — pela primeira vez, três anos mais tarde, em 2014, e novamente em 2022 — vimos como a propaganda dizia “as pessoas na Europa vão morrer de frio porque precisam do nosso petróleo e, acima de tudo, do nosso gás. Vamos ter velhotas a morrer de frio nos seus apartamentos, os europeus vão ter de comer lagartas e outros insetos porque não vão poder cultivar alimentos”. E a terceira coisa é que tudo isto se conjuga para pensar “como é que vamos encontrar uma forma de nos desligarmos da dependência energética?” Porque quando os russos invadiram a Ucrânia, 60% da energia alemã vinha da Rússia. Agora vejamos, será que a geologia e um terramoto no Japão podem ajudar-nos a ver as consequências e as más decisões? O que os alemães deveriam ter dito era “ou investimos em energias renováveis limpas ou reiniciamos todo o processo da energia nuclear”. Mas a resposta fácil e barata acabou por ter consequências dramáticas que provocaram centenas de milhares de mortes — será que Putin teria entrado na Ucrânia sem que tudo isto acontecesse? Não sei. Mas certamente deve ter sido um fator de ponderação, porque vimos isso nas respostas dos governos europeus. E mesmo aqui em Portugal, é um grande ponto de discussão. Porque é que a Ucrânia não faz um acordo de paz e faz com que tudo isto desapareça? Assim, Portugal poderia voltar à vida normal, em vez de esta passar a ser a vida normal, em que talvez as coisas piorem em vez de melhorarem.
Começa o livro com a parábola da queda do Éden, retirada do Paraíso Perdido de John Milton, esta ideia de que a humanidade é o arquiteto da sua própria destruição. Arriscaria outra metáfora religiosa: se Deus nos moldou à sua imagem, será que temos tentado fazer o mesmo com a natureza?
Sim, acho que isso é justo. Quero dizer, a razão para começar com Milton é o facto de o Paraíso Perdido ser um texto tão famoso, mas também porque fala do facto de as pessoas já estarem realmente preocupadas com as alterações ambientais nessa altura e de os humanos serem os seus piores inimigos. É complicado. Somos capazes de actos incríveis de bondade para com estranhos. Sempre que há uma crise humanitária, aqui em Portugal, como na maioria dos países, as pessoas fazem doações a desconhecidos que nunca conheceram para ajudar vítimas de terramotos ou pessoas que sofreram tsunamis ou falta de alimentos. Somos incrivelmente atentos ao nosso próprio sofrimento. Temos tendência para ser boas pessoas. Mas, por vezes, essa faceta também é abusada. Penso ser correto que tenhamos moldado o mundo natural da forma que queremos e há muitas formas simples de o demonstrar. Quando pensamos na perda de biodiversidade, todos queremos proteger os elefantes, os rinocerontes e os ursos panda, mas tendemos a não pensar nos polinizadores ou nos insetos. Pensamos que são uma praga e não outra coisa qualquer. Por isso, acredito que uma parte do problema reside na forma como se constrói a arquitetura do mundo a partir de diferentes perspetivas — e quando temos cadeias de ecossistemas e de biodiversidade, onde existem dependências, se retirarmos blocos dessa arquitetura alterando os habitats… E veja como muito disto acontece em mundos que não vemos. A desflorestação da Amazónia aparece de vez em quando nas notícias, todos sabemos o que é o fumo das árvores a arder, mas não pensamos realmente em como isso nos afeta. E agora, de facto, a Amazónia é um gerador de carbono em vez de o retirar da atmosfera.
Se nós, como espécie humana, tentarmos salvar os elefantes, por exemplo, podemos focar a nossa atenção para salvá-los e, inadvertidamente, erradicar outra espécie, é isso?
Ou com estas grandes reservas de conservação em lugares como no continente africano, por exemplo, onde o mantra é que os humanos são o problema. Assim, temos reservas onde os povos indígenas, os povos tribais, são recolhidos, levados para os arredores e largados. É o mesmo que acontece na Amazónia, onde os povos indígenas, que são muito melhores em termos de sustentabilidade a longo prazo, conservação e compreensão dos seus ecossistemas, são tratados como parte do problema, em vez de deixarem os seres humanos e os animais viverem lado a lado de forma sustentável. E, de facto, quando se limpa as reservas, se livra das pessoas e as estigmatiza, essas pessoas que estão a ser deslocadas não são as que geram emissões de carbono nem as responsáveis pela caça furtiva. Mas isso já aconteceu com pessoas como os maasai, no Quénia e na Tanzânia, em que as suas terras foram tomadas por indivíduos ricos dos Estados Unidos, de Portugal, de onde quer que seja, que dizem “precisamos de preservar os elefantes, os hipopótamos e os rinocerontes, por isso vamos criar uma vedação onde os humanos não podem ir”, em vez de pensar no que isso significa para a continuidade humana.
A forma como escreveu sobre este dilema, sobre a nossa forma de interagir com a natureza, fez-me lembrar a questão da tecnologia de Martin Heidegger: deixámos de ser habitantes passivos da natureza, criando moinhos para usar a força das correntes, para começar a construir barragens, remodelando completamente o mundo.
Bem, em parte porque somos ignorantes, certo? Não nos ensinam as coisas. Quer dizer, a minha camisola requer 2500 litros de água [para ser criada]. Uma barra de chocolate que eu possa comer requer 2.000 litros de água — isto é, cerca de dois a três anos de consumo de água para um ser humano adulto por barra. Ninguém nos fala disso na escola, não se aprende isso nos livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Por isso, parte da questão é dar mais informação às pessoas, para que possam tomar as suas próprias decisões. Por exemplo, tenho no livro uma investigação que mostra que todos os agregados familiares, mais ou menos, na Terra, independentemente da sua formação académica e da sua riqueza, deitam fora cerca de um terço de toda a comida que é trazida para casa. Pode não parecer, mas depois há a embalagem de leite que se estraga, coisas desse género, todo esse desperdício. E tudo isso requer fertilizantes, requer água e, muitas vezes, a podridão gera metano, que é ainda pior do que o dióxido de carbono. Se eu disser que vou pegar em 50 euros e pegar-lhe fogo à sua frente, vai pensar que estou louco. Mas se eu disser que isso é uma média de desperdício por semana em comida — de coisas que pedimos em excesso num restaurante ou que não comemos e deitamos para o lixo — é assim que nos tornamos mais eficientes, não só em economia doméstica mas em sustentabilidade. Parece-me que há muito espaço para as novas tecnologias nos ajudarem com isso, ajudar-nos a compreender como preservar, proteger e utilizar melhor o que temos.

▲ "Os historiadores tendem a ser péssimos preditores do futuro. Tendem a sobrevalorizar a sua própria capacidade de ler as folhas de chá. Não sou um desses historiadores"
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Dedica um capítulo inteiro à forma como o colonialismo não só foi um prenúncio de morte e sofrimento para as populações exploradas, como também veio assinalar o aparecimento do tipo de práticas extrativas que nos conduziram até aqui.
Sim, as fronteiras de recursos.
Caindo no risco de ser demasiado determinista, o que poderia ter sido feito de forma diferente?
Não me parece que eu seja suficientemente qualificado para responder ao que poderia ter sido feito. Quero dizer, eu lido com o que é real e não com o que é hipotético. Essa é talvez uma questão para um filósofo, porque pressupõe que alguém poderia ter dito ou feito alguma coisa que o tivesse impedido. Estas questões tendem a ser mais complicadas do que isso. Como escrevi no livro, há coisas como a moda dos chapéus de castor, que levou à exterminação de milhões de castores na parte norte do continente americano. E isso alterou os ecossistemas e os sistemas fluviais devido à ausência das barragens que os castores que foram mortos construíam, basicamente por causa da procura de moda, já que este era um chapéu popular na altura da Guerra dos Trinta Anos na Europa. Mas a nossa procura de novos materiais ao preço mais barato possível determinou muitas das formas de funcionamento dos impérios.
Uma das coisas que escrevo no meu livro é que os impérios estão sempre a tentar adquirir novos recursos naturais. Os portugueses não foram apenas exploradores, estavam a tentar descobrir como poderiam obter mercadorias mais baratas do que se viessem de Veneza ou Constantinopla. E como é que se cria um monopólio? Como é que se protege contra os concorrentes? No caso de Portugal, a proteção acabou por ser sobretudo pelo facto de serem europeus. E também, como é que se calibra os fluxos? Se tivermos a Madeira e os Açores a produzir açúcar e, de repente, o Brasil aparece como uma enorme plantação, à medida que o mercado inunda as mercadorias, o preço baixa. E então torna-se menos atrativo porque o lucro é menor, há demasiada oferta. Então, há a tentativa de descobrir qual é a próxima mercadoria que vamos perseguir. Suponho que é assim que se pode encarar o carvão a dar lugar ao petróleo no século XX e, atualmente, ao lítio, aos minerais raros, ao cobre, onde encontramos a procura de novas fronteiras de recursos. Então, o que é que podemos fazer em relação a isso? Regulamentação local, contenção dos danos ambientais. Provavelmente, se formos mais práticos, diríamos “vamos precisar destes metais, como é que os vamos extrair com o mínimo de danos sociais, económicos e ambientais?” Há formas de otimizar isso também, mas temos tendência para colocar o lucro à frente do pensamento a longo prazo.
É interessante que tenha mencionado as mercadorias e o lucro. No que diz respeito a este tópico, uma crítica que foi feita a A História do Mundo é o facto de, por vezes, não relacionar os nossos esforços aprofundados de exploração da Terra com o capitalismo como modelo económico. O que é que diz em relação a isto?
Na verdade, não foi com o capitalismo, foi com o marxismo, disse uma pessoa que me criticou na New Statesman. E sabe que mais? Essa é uma perspetiva burguesa europeia tão privilegiada, esta ideia de que, de alguma forma, é preciso dar prioridade aos ensinamentos de Marx. Podia ter passado um capítulo só a escrever sobre Marx — suspeito que ninguém teria ficado interessado, para além desse crítico em particular. Mas penso que essa ligação entre o pensamento sobre o proletariado urbano e o significado do capital circulante nas cidades urbanas da Europa é completamente irrelevante para a maioria das populações do mundo. Por isso, a ligação com o marxismo e o marxismo clássico é algo que eu rejeitaria, porque a maior parte do mundo não é uma sociedade urbanizada, nem o foi até muito recentemente. De facto, nos últimos 40 anos, a taxa de urbanização é, de longe, a mais rápida da história da humanidade. Por isso, talvez se possa colocar essa questão em termos atuais, em que temos neste momento, todas as semanas, três milhões de novos habitantes nas cidades. Com isto quero dizer que acho que as recensões e as críticas são ótimas, mas considero que esta me disse muito mais sobre a forma como a esquerda e os marxistas pensam como o seu próprio modelo tem de ser priorizado e que não há outras formas alternativas de o fazer. Se eu estivesse a fazer essa crítica, ter-me-ia concentrado em todas as tradições, nos povos indígenas, em todas as vozes das partes do mundo que nunca são trazidas à baila, particularmente pelos marxistas. É por isso que reajo assim. Mas, como já escrevi livros que tiveram um sucesso razoável, também sei que por vezes nos podemos tornar um alvo e por isso não há problema disparar. Mas considero que o prisma usado foi um prisma altamente privilegiado e com soberba, que se preocupa mais com as tradições intelectuais europeias do que para os 90 por cento do mundo que não vivem nessas tradições.
Faz questão de frisar que este livro não pretende traçar cenários nem propor soluções, mas mostrar-nos como o passado nos conduziu até aqui. Mesmo assim, não posso deixar de perguntar: o que pensa que vai acontecer a seguir?
Os historiadores tendem a ser péssimos preditores do futuro. Tendem a sobrevalorizar a sua própria capacidade de ler as folhas de chá. Não sou um desses historiadores. Por isso, diria simplesmente que estamos num ponto de inflexão. Emily Shuckburgh, uma colega minha em Cambridge, disse-o melhor do que eu: as decisões relativas a preocupações ambientais, poluição, fósseis, combustíveis fósseis, etc., que forem tomadas nos próximos 10 anos, não só moldarão a humanidade para os próximos séculos, mas possivelmente para o próximo milénio. E esse facto, de estarmos numa espécie de ponto tão importante da tomada de decisões, é o que deve concentrar a mente e não o que um historiador qualquer tenta prever que acontecerá daqui a 10, 20, 30 anos.