Índice
Índice
Face à atitude do governo holandês em negar autorização ao ministro turco dos Negócios Estrangeiros e à ministra turca da Família para empreender em território holandês, durante o fim-de-semana passado, acções de campanha em prol da dilatação dos poderes do presidente Recep Tayyip Erdoğan, este último reagiu prontamente, acusando, na segunda-feira, o governo holandês de ser “um resquício do nazismo”.
Afirmou Erdoğan: “Eles são fascistas […] Julgava que o nazismo tinha acabado, mas estava errado. Na verdade, está vivo no Ocidente”.

Uma semana antes, num comício em Istambul, Erdoğan mimoseara com comentários similares o governo alemão, por este ter cancelado a permissão concedida para a realização de comícios em território alemão com o mesmo fito, o de fazer campanha pelo alargamento dos poderes do presidente turco: “As vossas práticas não diferem das dos nazis. Julgava que há muito a Alemanha abandonara tais práticas, mas enganei-me”.
As acusações de nazismo ao governo alemão tinham já surgido no Verão passado, saídas não da boca de Erdoğan mas de jornais turcos alinhados com o seu partido, o AKP, em resposta à negação de autorização, pela parte de um tribunal alemão, de um comício que contaria com a presença de Erdoğan em vídeo: “A Alemanha, que nunca conseguiu libertar-se do seu passado nazi, deixou cair a sua máscara”, acusou o jornal Takvim. Também em 2016, já tinham chovido acusações de nazismo por alguns media turcos, em resposta à aprovação pelo parlamento alemão de uma resolução que classificava o massacre de arménios pelos turcos, em 1915, como um genocídio.

Desde que o Estado Islâmico se tornou numa óbvia ameaça que é rotulado de “islamo-fascista”, uma designação que surgiu pela primeira vez em 1933 e que ressurgiu num discurso de George W. Bush, após os ataques de 11 de Setembro de 2001.
Também Donald Trump tem vindo a atrair tal designação, com os mais literatos entre os descontentes com o resultado das eleições americanas a apontar para supostos paralelismos com The plot against America (2004), um romance de “história alternativa” (medíocre e esquemático, diga-se) de Philip Roth em que Charles Lindbergh, um simpatizante do nazismo, derrota Roosevelt nas eleições presidenciais americanas de 1940 e logo empreende uma aproximação à Alemanha de Hitler e lança um programa de “americanização” dos rapazes de origem judia, através de um programa de reeducação em campos de férias, enquanto cresce pelo país a discriminação anti-sionista.
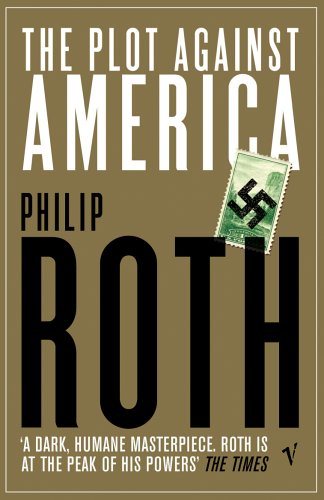
“The Plot Against America”, de Philip Roth
Porcos fascistas e macacos
Os macacos Chlorocebus pygerythrus (que o mundo anglófono designa por “vervet monkeys” e para o qual não há nome comum em português) têm sido uma importante fonte de informação sobre as peculiaridades do comportamento social humano, uma vez que são primatas que vivem em sociedade e partilham com o Homo sapiens problemas como a hipertensão, a ansiedade e a dependência do álcool. Um dos aspectos mais estudado dos C. pygerythrus são os seus gritos de alarme: estes são diferenciados consoante o predador avistado é um leopardo, uma serpente ou uma águia, e desencadeiam comportamentos diferentes no bando (por exemplo: quando os investigadores reproduzem o grito que significa “águia”, todos olham para o céu), o que demonstra que a sua linguagem comporta alguma sofisticação semântica, havendo investigadores que defendem que os gritos de alarme podem exibir 30 variedades diferentes, consoante a natureza do perigo e as circunstâncias.
[Macacos Chlorocebus pygerythrus reagem a imagens de leopardos emitindo o grito de alarme correspondente]
A diferenciação nos gritos de alarme tem óbvias vantagens adaptativas, mas para tal é preciso que haja rigor no seu uso. Se, num bando de Homo sapiens numa praia, alguém gritar “tubarão” todos fugirão para terra firme, e se gritar “tigre” todos procurarão refúgio no mar. Mas se alguém gritar “tigre” quando avista um tubarão as consequências podem ser fatais.
Algo análogo pode acontecer quando se rotula Trump de “fascista”. Trump é perigoso, mas não é fascista. Analogamente, aplicar a designação de “islamo-fascista” ao Estado Islâmico revela completa ignorância sobre islamismo e fascismo. Não identificar correctamente o adversário é meio caminho andado para se ser derrotado. É esse o risco que se corre quando a preguiça mental nos leva a usar designações equívocas.
Um insulto genérico
A acusação de fascismo/nazismo que Erdoğan lançou sobre a Alemanha e a Holanda filia-se numa tradição que os portugueses conhecem bem do período do PREC, em que “fascista” era empregue indiscriminadamente para designar alguém de quem não se gostava ou que fizera algo contrário aos interesses de quem lançava o insulto. Embora menos frequente, ainda hoje, na linguagem corrente, o apodo de “fascista” não pressupõe que o alvo tenha o Mein Kampf ou os discursos de Mussolini como livros de cabeceira, tal como, numa quezília de trânsito, o uso de “cabrão” não pressupõe que o ofensor esteja a par dos casos extra-conjugais da esposa do ofendido.
A acusação lançada por Erdoğan é, pois, completamente vazia do ponto de vista ideológico e absolutamente infantil do ponto de vista retórico, para não falar da ironia de emanar de alguém que preside a um regime que tem vindo a revelar-se cada vez mais autoritário e manifesta ambições totalitárias (patentes na proposta de ampliação de poderes presidenciais que é agora alvo de referendo). Uma vez que se presume que Erdoğan é um político astuto e que, mesmo não possuindo um mestrado em filosofia política, tem uma noção aproximada do que é o fascismo, é plausível que, estando, antes de mais, a dirigir-se ao povo turco, presuma que a menoridade intelectual deste lhe permite retirar dividendos eleitorais de uma argumentação rudimentar e falaciosa.

Apoiantes de Erdoğan manifestam-se em Roterdão, na sequência da escalada no conflito diplomático entre a Turquia e a Holanda
Em 1990, ainda a Internet estava na sua infância e já o advogado Mike Godwin enunciara, prescientemente, aquela que é hoje conhecida como “lei de Godwin”: “À medida que uma discussão online se prolonga, a probabilidade de surgir uma comparação com Hitler aproxima-se de 100%”. A “lei” dizia respeito aos fóruns de discussão da Usenet, mas encontra ampla confirmação na World Wide Web dos nossos dias e, uma vez que esta se converteu no meio eleito pelos governantes para fazer importantes proclamações (vejam-se os tweets de Trump), no debate político.
O argumento “ad Hitlerum” é um sinal de decaimento do debate para o nível mais rasteiro e é um sinal de demissão do pensamento e de afunilamento da memória. A história do século XX deu a conhecer os mais diversos tipos de regimes autoritários – a URSS de Estaline, a China de Mao, a Coreia do Norte da dinastia Kim, a Grécia de Metaxas, o Chile de Pinochet, a Argentina sob governo militar de 1966-73, o Brasil sob governo militar de 1964-80, o Kampuchea de Pol Pot, a França de Vichy, a Cuba dos manos Castro, a Arábia Saudita sob a dinastia Saud – mas a Alemanha de Hitler é sempre a eleita para comparações quando se pretende acusar um governo de autoritarismo. Ora, 1) nem todos os regimes autoritários são de direita, 2) nem todos os regimes autoritários de direita são fascistas, 3) nem ser ou não fascista reflecte o grau de repressão e iniquidade de um regime autoritário.

Benito Mussolini, ao centro, de mãos nas ancas, na Marcha sobre Roma que levou os fascistas italianos ao poder; 28 de Outubro de 1922
Como reconhecer um fascista
Michael Mann, um dos mais reputados estudiosos do fascismo, define-o assim em Fascists (2004), publicado em Portugal pelas Edições 70: “É a busca de um estatismo nacionalista transcendente e purificador através do paramilitarismo”. Para Mann, para que um regime seja fascista são necessários estes requisitos:
1) Nacionalismo: identificação populista para com uma nação “orgânica” ou “integral”, acompanhada da rejeição da diversidade étnica e de uma agressividade extrema para com quem seja identificado como ameaça à nação.
2) Estatismo: promoção de um Estado forte e autoritário, presente em todos os domínios da vida.
3) Transcendência: rejeição das “noções liberais e sociais-democratas de que o conflito entre grupos de interesses é uma característica normal da sociedade” e que só o fascismo permite “transcender o conflito social, reprimindo primeiro os que fomentavam o conflito […] e incorporando depois as classes e outros grupos de interesses em instituições corporativistas estatais”.
4) Depuração: uma vez que o fascismo encara todos os opositores – em termos ideológicos ou étnicos – como inimigos, há que removê-los da nação. Enquanto um “inimigo ideológico” pode ser “convencido”, graças a alguma persuasão e reeducação, a “ver a luz” e alterar a sua mundividência, o inimigo étnico é, por definição, irredutível e a única forma de livrar a nação dele é expulsando-o ou exterminando-o. Mann assinala, por exemplo, que, enquanto o fascismo italiano e espanhol perseguiram essencialmente inimigos ideológicos, o fascismo alemão também foi implacável com o inimigo étnico (embora o discurso amalgamasse tudo, ao considerar o judeu como sendo a força sinistra por trás do capitalismo e do bolchevismo).
5) Paramilitarismo: as forças paramilitares, nascidas “espontaneamente” das bases, unidas pela “camaradagem” e com actuação pautada pela violência radical são o motor da ascensão dos fascistas. “Em nenhum caso um movimento fascista foi apenas um ‘partido’”, era uma organização que também dispunha de forças uniformizadas e armadas, que intimidavam os adversários e desestabilizavam a ordem vigente.

As SA (Sturmabteilung), a mais numerosa força paramilitar do Partido Nacional-Socialista Alemão, em parada no Tempelhofer Feld, Berlim, 1933
Trump é fascista?
É verdade que o discurso de Donald Trump é nacionalista, como está patente na promessa de devolver a grandeza à América, na constante exaltação dos valores americanos (embora a natureza recente e heteróclita dos EUA faça com que estes sejam bem mais nebulosos e discutíveis do que os “valores germânicos” na Alemanha dos anos 30), na identificação dos estrangeiros como “bad hombres” (violadores, traficantes de droga, criminosos) ou terroristas.
É também certo que o discurso público de Trump retoma estratégias empregues pelo nazismo nas décadas de 20 e 30, como sejam a) a rejeição das elites políticas e intelectuais vistas como corruptas e venais, que se propõe afastar estabelecendo uma “ligação directa” entre líder e povo; e b) o estabelecimento de um pacto entre o líder e os seus apoiantes que faz com que pouco importa que o que o líder diz seja verdade ou sequer que ele creia nisso, bastando que “ambas as partes se entendam […] na concordância ostensiva quanto a afirmações extremas, quanto a embriagarem-se consigo próprias e a perturbarem de maneira triunfante quem está de fora”.
Estas são palavras escritas por Albrecht Koschorke a propósito de Mein Kampf, mas aplicam-se com justeza ao presente clima de “pós-verdade”, “factos alternativos”, “atentados na Suécia” e “escutas na Trump Tower ordenadas por Obama”. Pouco interessa se as afirmações são descabeladas e gritantemente falsas, pois os apoiantes a quem se dirigem querem acreditar nelas e são impermeáveis a qualquer argumentação racional e não querem ouvir falar de verificação de factos.

Comparação entre a afluência de público às cerimónias de tomada de posse de Donald Trump, em 2017 (esquerda) e Barack Obama, em 2009 (à direita): Contra factos não há argumentos, mas que fazer contra “factos alternativos”?
Porém, Trump não cumpre as restantes quatro condições. A sua ideologia – se é que tem alguma digna desse nome ou se a que tem de manhã possui afinidades com a que defende à tarde – é mesmo anti-estatista e visa fazer emagrecer o Estado e restringir as suas funções regulatórias, nomeadamente na área do ambiente ou dos mercados financeiros, dando mais espaço à “livre iniciativa”.
Outro aspecto central da ideologia fascista é a rejeição do capitalismo, bem evidente em trechos de Mein Kampf (que acena com o espectro da “escravidão do capitalismo internacional e dos seus senhores, os judeus”), nos discursos de Hitler, e em escritos de Himmler (“o capitalismo toma conta da maior invenção do homem, a máquina, e com ela escraviza as pessoas”).

O operário alemão faz frente ao capitalismo: cartaz nazi
Também Mussolini era um crítico daquilo a que denominava “supercapitalismo”, isto é, a forma decadente de capitalismo que ele entendia ser a dominante no seu tempo: “Nesta fase, o supercapitalismo encontra a sua inspiração e justificação numa utopia, a utopia do consumo ilimitado. O ideal do supercapitalismo é a padronização da raça humana desde o berço até à morte”. Ora, Trump não pretende combater o capitalismo, já que ele mesmo é um dos seus mais exuberantes representantes, e capitalistas são também os multimilionários a quem confiou boa parte dos postos de responsabilidade da sua administração. Pelo contrário, Trump pretende dar maior liberdade ao capitalismo, abolindo os mecanismos que o regulam.
Trump poderá ser um monstro narcísico e arrogante, um sexista impenitente, uma criatura vaidosa e susceptível que convive mal com a liberdade de expressão e opiniões contrárias à sua, um milionário que colocará sempre os interesses do seu império empresarial acima do bem comum do povo americano, um espírito autocrático com atitudes de criança mimada, um mentiroso compulsivo, um campeão da fanfarronice e um ego caprichoso e instável, sem maturidade emocional para ser presidente de uma república das bananas, quanto mais da nação mais poderosa do mundo – mas dificilmente encaixa na definição de fascista. Não é por isso que é menos perigoso.
E quando os fascistas não são afinal fascistas?
É velha mas mantém-se acesa a polémica sobre se o Estado Novo português foi fascista. O já citado Michael Mann entende que não: admite que a ideologia fascista teve alguma influência sobre Salazar (como sobre Pilsudski na Polónia e Primo de Rivera em Espanha), cultivando o partido único, mas este “era controlado de cima, e a sua função era domesticar, e não excitar as massas”. Mann inclui o Estado Novo naquilo a que chama regimes “fascistas entre aspas”, que acabaram, por vezes tardiamente, por incorporar influências da organização e ideologia fascistas. Porém, estas “apropriações eram mais de estatismo ‘de cima’ do que de paramilitarismo ‘de baixo’” e “o Exército era o baluarte do regime, conservando em grande parte o seu monopólio de poder militar, e entregando muito pouco ao paramilitarismo”.
Foi já com o Estado Novo consolidado, em meados da década de 1930, que foram criadas duas organizações paramilitares de inspiração fascista, a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa, mas que Salazar teve o cuidado de manter com rédea muito curta e financiamento raquítico e que desempenharam sobretudo funções coreográficas, pois Salazar tinha horror à turbulência revolucionária das massas – afinal, a sua maior aspiração era “fazer Portugal viver habitualmente”…
Quer isto dizer que não houve fascistas em Portugal? Houve, mas quem se encaixa nos critérios definidos por Mann foram os nacional-sindicalistas de Rolão Preto, que o Estado Novo tratou de reprimir, pois via o seu radicalismo como uma fonte de problemas.
Filipe Ribeiro de Menezes, em Salazar: Uma biografia política (2009, D. Quixote) apontou os seguintes motivos para não equiparar o Estado Novo a fascismo: “ausência de uma mobilização de massas, a natureza moderada do nacionalismo português, a selecção cuidadosa e, em última análise, apolítica, da elite restrita que liderava o país, a inexistência de um movimento forte da classe trabalhadora e a rejeição da violência como meio de transformação da sociedade. Incluir Salazar, com as suas origens, trajectória, fé e mentalidade na grande ‘família’ fascista equivale, à primeira vista, a esticar o conceito de fascismo a tal ponto que ele perde significado”. E prossegue: “Salazar não tomara o poder e, publicamente, não mostrava especial prazer em detê-lo; não existia nenhum partido forte por trás do líder, forjado em tempo de oposição e possuindo a sua própria história e mártires; não havia nenhuma tentativa de atrair as massas, de comunicar directamente com elas, como Hitler fazia em Nuremberga ou Mussolini fazia da varanda do Palazzo Venezia”. Menezes menciona que alguns autores, como Enzo Colotti, têm incluído o Estado Novo nos fascismos, mas “tal interpretação tem, contudo, permanecido minoritária”.

O Partido da Cruz Frechada, que liderou um sanguinário “governo de unidade nacional” na Hungria entre Outubro de 1944 e Março de 1945, é frequentemente negligenciado quando se faz a contabilidade dos fascistas. Na imagem, vítimas de um massacre perpetrado pelas milícias da Cruz Frechada no pátio de uma sinagoga em Budapeste, Janeiro-Fevereiro de 1945
Menezes não nega as “tendências indubitavelmente totalitárias [do Estado Novo] no que diz respeito à intenção assumida de alterar a mentalidade do povo”, mas defende que, perante o fracasso na imposição dessa mentalidade, Salazar optou, no final da década de 1930, por descartar algumas das suas concepções ideológicas, adoptando o “pragmatismo cínico que o nortearia até ao fim da vida”.
Há quem entenda que negar ao Estado Novo a classificação de “fascista”, como Menezes faz, equivale a revisionismo histórico e branqueamento do passado. Não é, trata-se apenas de rigor intelectual e de usar as palavras correctas. Não é por se concluir que não foi, do ponto de vista formal, fascista, que os muito pecados do Estado Novo se tornam menos graves ou censuráveis.
[Uma das cenas cruciais de Palombella Rossa, de (e com) Nanni Moretti (um cineasta de assumidas convicções esquerdistas), que nos lembra que “Le parole sono importanti!”]
Seria sensato, a bem da clareza de comunicação, reservar o uso de “fascista” e “nazi”, para os casos em que a sua aplicação se justifica do ponto de vista histórico e ideológico e arranjar um repertório de insultos para apostrofar criaturas que julgamos desprezíveis ou detestáveis. Talvez a leitura de As Aventuras de Tintin e, em particular, do vociferante capitão Haddock, pudesse ajudar a enriquecer alguns vocabulários aflitivamente curtos e simplistas.
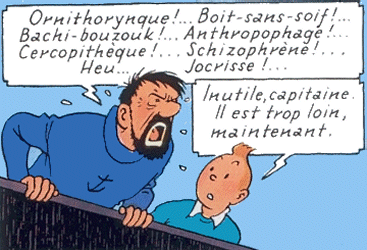
Haddock e Tintin


















