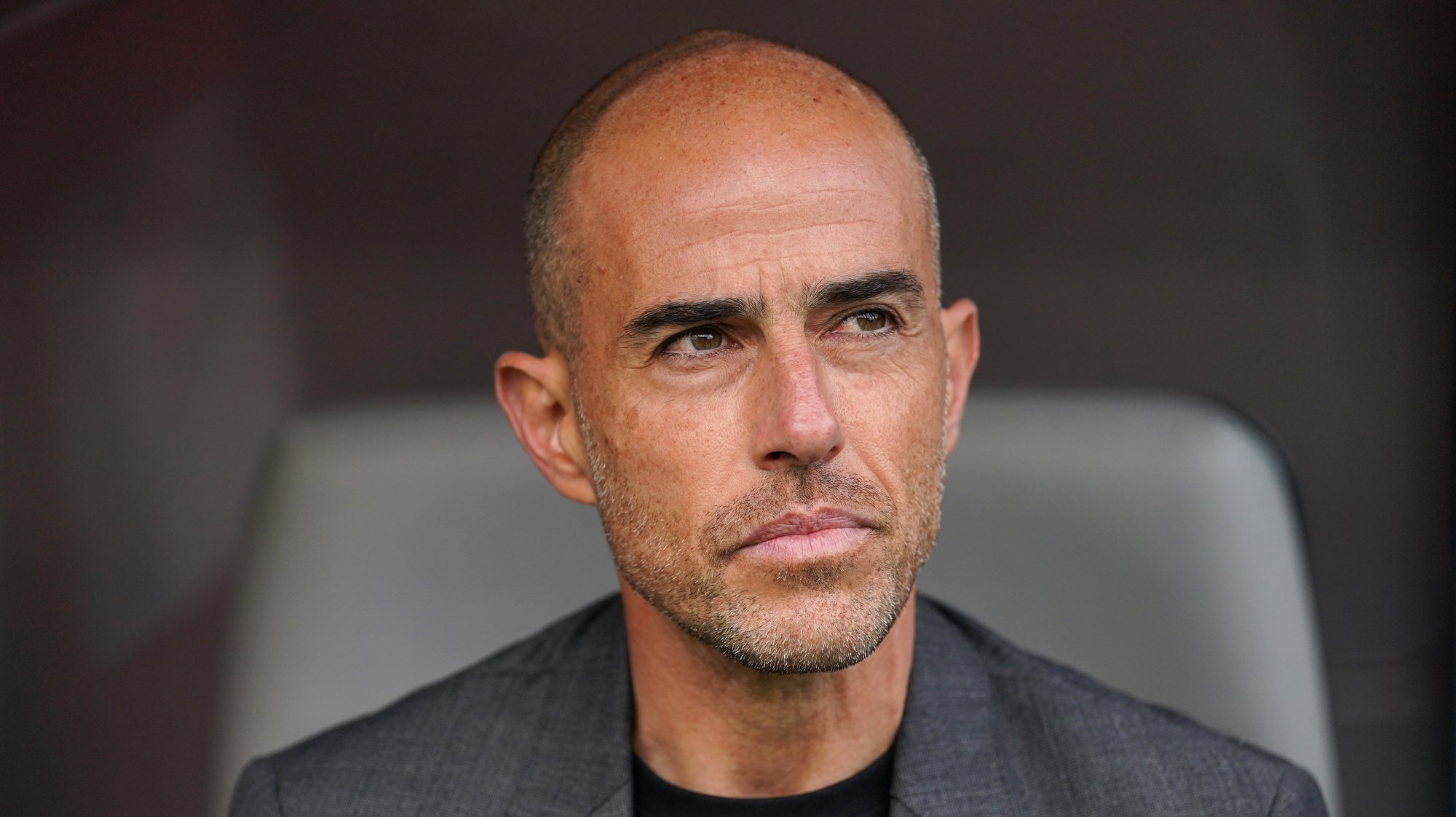As grandes epidemias sempre se reflectiram na ordem interna e na ordem global: a peste de Atenas matou Péricles logo no princípio da guerra do Peloponeso. Essa morte e o desaparecimento do grande líder ateniense pode ter influenciado e muito o destino da guerra, que acabou com a derrota de Atenas e da sua hegemonia.
Também as sucessivas pestes do Império Romano, quer no tempo de Marco Aurélio, quer mais tarde, no século III, terão contribuído para um enfraquecimento do povo e dos soldados, numa época em que os bárbaros já ameaçavam o Império; o mesmo se passou com a Peste de Justiniano em relação a Bizâncio e à Pérsia dos Sassânidas, cujo enfraquecimento vai ajudar os califas sucessores de Maomé a conquistar boa parte destes dois impérios em decadência demográfica e económica causada pelas pragas do século VI, mas cujas recorrências se prolongam até ao século VIII.
E a Peste Negra no século XIV, além de acelerar a crise política e económica da ordem feudal com o aumento de salários e o progresso na condição dos servos na Europa Ocidental, veio ajudar à concentração do poder real e à formação dos Estados soberanos do fim da Idade Média e do início do Renascimento.
As epidemias enfraqueceram muito as Cidades Estado italianas – Veneza é um exemplo por ser porta de entrada do Médio Oriente e, através dele, do Extremo Oriente, de onde vinham as sucessivas vagas pestíferas e pandémicas.
Os Exércitos de Napoleão – como a Grande Armée que invadiu a Rússia – tiveram dezenas de milhar de mortos causados pelo tifo; e a pneumónica ou gripe espanhola terá contribuído para baixar muito a intensidade da ofensiva alemã na Primavera de 1918.
E agora, a Covid-19 e a paralisação da economia que arrastou, como vai actuar sobre a ordem internacional? Uma ordem que imediatamente antes, como aqui escrevemos, abandonara o dualismo da Guerra Fria há trinta anos, para passar a uma hegemonia americana que se ia diluindo à medida que outras potências – como os gigantes demográficos chinês e indiano – se afirmavam na economia internacional, ou que a Rússia, usando o seu poder militar e recursos energéticos com subtil capacidade, retomava um papel importante na cena internacional.
Mas não só: a Turquia de Erdogan tornava-se um protagonista e, mesmo dividida, a União Europeia tinha o seu lugar.
Do ponto de vista ideológico, o nacionalismo autoritário e o capitalismo de direcção central da China sofria uma progressiva mudança: de uma direcção colegial – a da Comissão Executiva Permanente do Partido Comunista da China – para uma direcção mais pessoalizada de Xi Jinping. Este, de primus inter pares entre os seus colegas da Comissão Executiva Permanente, aproximava-se, pelo menos e para já, de um líder mais igual que os outros. Ao mesmo tempo, crescia o poder chinês a partir de uma expansão económica mundial começada há vinte anos, usando os superavits das exportações como “fábrica do mundo”, e estendia a sua influência por uma vastíssima rede de interesses pela Europa, África e América Latina.
Parte desta expansão, inicialmente económica é projecção de um nacionalismo defensivo de um velho Estado vencido e humilhado pelos “bárbaros” europeus e pelos vizinhos japoneses, parece estar a transformar-se, sob a pressão das circunstâncias e das oportunidades, num nacionalismo, se não mais agressivo, pelo menos mais expansionista. Nesse aspecto, com o horror da Geopolítica ao vácuo, o isolacionismo norte-americano da Administração Trump pode estar a contribuir para esta expansão.
A pandemia, nesta medida, é ambígua em termos dos seus resultados. A origem é, indubitavelmente, chinesa, de Wuhan, não sabemos se resultado de negligência com os mercados promíscuos de abates de animais ou por fugas e culpas de um vírus em estado experimental. Aos olhos do resto do mundo, mesmo com a prudência imposta pelos interesses e conveniências diplomáticos, ficou geograficamente estabelecida a origem do mal.
Se se avaliar pelos resultados – e em tal insiste a “linha dura” de interpretação, poderia até falar-se em “intencionalidade”: os grandes países e economias ocidentais de patas para o ar, os Estados Unidos a passarem de uma situação económica ímpar em termos de capitalização das Bolsas, de emprego e de crescimento económico, para uma situação próxima do desastre da Grande Depressão, agravada por mais de cem mil mortos. Ainda por cima com uma comunidade académica e mediática de tal modo anti-Trump, que atribui a este toda a desgraça da pandemia e da economia.
Pessoalmente não subscrevo tal teoria; mas reconheça-se que, para além da morte e desolação na Europa (onde ninguém se lembra de culpar os governos da Espanha e da Itália pelos mortos da Covid-19, o que é feito para os Estados Unidos e o Brasil), há modos e modelos de ordem internacional que vão ser postos em causa. Como a globalização e o conceito de mundo sem fronteiras: a defesa, como desde os mais remotos tempos, é o isolamento – sãos/doentes, país/ exterior. Shengen entra em quarentena, mas os circuitos de produção e distribuição do mundo global vão ser, todos eles, afectados. Ninguém, durante muitos anos, vai querer ter uma rede de fornecedores industriais que envolva, como hoje acontece, dez ou vinte países; como ninguém vai gostar que a comida que come e os remédios que toma venham de um lugar em que não tenha confiança.
O isolamento, o confinamento, o fecho das fronteiras com eficácia para parar ou diminuir a incidência da peste é, contudo, fatal para a economia industrial e agrícola. A produção de coisas não se pode fazer sem o empenho directo das pessoas, não em teletrabalho.
Neste sentido, a globalização – a supremacia dos mercados sobre os Estados – vai sofrer muito com a Covid-19. Mesmo quando a pandemia tiver abrandado ou mesmo passado, as redes complexas de produção de um artigo final – um automóvel, por exemplo – que se interrompem se um país de origem de um dos componentes se fechar, ou a importação de bens alimentares ou medicamentos de mercados “exóticos”, vão sofrer a desconfiança dos consumidores.
Mais, os países vão procurar recuperar alguma agricultura, alguma indústria, ou pelo menos refazer as suas redes de abastecimento com áreas próximas, com as quais haja identidade cultural e confiança política. Não quererão, depois daquilo pelo que passaram – mortos por falta de ventiladores, infectados por falta de máscaras – confiar a outros distantes bens e produtos essenciais. Como vão querer ter garantias de segurança na cadeia alimentar.
E para termos tudo isto, não se importarão de pagar mais. Estas políticas vão ser, no espaço democrático euroamericano, objecto de debates políticos intensos entre identitários nacionalistas e cosmopolitas globalizantes, mas os últimos, que tiveram a hegemonia (e ainda têm) nos negócios e nos media, vão ter dificuldade em mantê-la, depois de tudo o que aconteceu e acontecerá no curso dos próximos anos. Até porque os governos, mesmo os mais liberais ideologicamente, têm de acudir à economia e, como em todas as épocas de crise, seja qual for o seu sentido ideológico, vão ter que assumir determinadas linhas de autoritarismo planificador e intervir, com grandes recursos financeiros, para salvar o que puder ser salvo das economias nacionais, dos empregos e acudir necessidades essenciais dos cidadãos.
Todas as situações excepcionais pedem soluções excepcionais e os Romanos, o primeiro povo na História que manteve um império mundial que durou séculos, tinham na constituição da República para situações de excepção – guerra, sedição grave, catástrofes naturais – a ditadura comissarial em que, durante seis meses, era congelada a normalidade republicana e se procedia de modo excepcional.
No final, o “ditador” prestava contas às instituições legítimas da República. Esta era a “ditadura antiga”, uma solução temporária fiscalizável, que tem pouco a ver com a ditadura moderna ou contemporânea, que é geralmente um poder arbitrário pessoal nascido de um golpe militar ou de uma revolução, e que muitas vezes se eterniza.
Curiosamente, as pandemias levam os governos a actuar mais ou menos da mesma forma – impondo restrições a certos direitos e liberdades individuais. Em Portugal, organizações como a CGTP e os manifestantes Antifas parecem estar isentos destas obrigações, podendo infectar-se e infectar o resto da população para manifestar, uns o seu júbilo no Primeiro de Maio, outros a sua repulsa pelo “racismo”, por Trump e pelos polícias em geral.
Passamos à ordem internacional pós-pandemia e aos seus principais protagonistas que são: numa primeira linha, os Estados Unidos, a República Popular da China e (apesar de tudo)) a União Europeia, sob a batuta franco-alemã. Numa segunda linha, a Rússia, a Índia, o Japão, o Brasil e ainda poderes mais ou menos importantes como o Reino Unido ou a Turquia.
A competição EUA-China está para durar; até porque das poucas coisas em que republicanos e democratas na América estão de acordo é em fazer frente ao challenger chinês. Porque em campanha eleitoral, numa situação de morte de mais de 110 mil americanos causada por um vírus que, por azar, negligência, culpa, não importa, veio da China, nenhum candidato ou partido correrá o risco, perante a opinião pública e o corpo eleitoral, de se mostrar débil nessa responsabilização.
Há também a discussão se, de facto, na RPC, se está a dar um fenómeno de concentração do poder pessoal de Xi Jinping. E este, perante as tensões regionais no Mar da China, na fronteira com a Índia, a agitação em Hong Kong, da explicação da pandemia, não pode correr o risco de parecer mais débil ou menos em controle. E o nacionalismo chinês, que foi até há pouco essencialmente defensivo e até compreensível pode pensar em aproveitar a divisão política profunda da sociedade americana e o seu temporal afastamento de cena, para conquistar terreno internacionalmente, sem falar das próprias tensões transatlânticas.
Donald Trump, numa lógica isolacionista e de acordo com uma filosofia e uma linguagem que dispensam as ambiguidades diplomáticas, não só, como os seus antecessores, tem uma real avaliação da inoperância das grandes organizações multilaterais e da orientação ideológica de algumas das suas agências, mas di-lo e age em conformidade. E, em algumas situações, deixou terreno aberto ao challenger chinês que, pelo menos até agora, bem abonado com os superavits de fábrica do mundo (em que a globalização o transformou), foi ocupando terreno com iniciativas que lhe deram grande importância geoeconómica.
A Europa aqui está dividida: o Reino Unido e Boris Johnson mantêm a “special relation” com Washington; mas no Continente e na União Europeia, se por um lado persiste o peso da herança cristã e do culto das liberdades – que leva à desconfiança em relação a um regime de Partido Único – por outro, a quase paranóia anti-Trump instalada pela comunidade mediática, num vasto arco que vai das respeitáveis bíblias do business como o Financial Times e o Economist, até aos panfletos ultra-esquerdistas e aos noticiários televisivos domésticos, levam a dúvidas sobre qual será a escolha final.
Por tudo isto, vai ser um tempo cheio de incertezas e de riscos: o modo como os líderes e regimes lidarem com a pandemia, com a recuperação das economias nacionais, com a negociação de apoios, defendendo a independência do país vai ditar a sua sorte. O modo como souberem combinar firmeza, compaixão, Estado, sociedade civil, vai ser também importante.
A sociedade internacional vai ter uns tempos largos de geometria variável, de alianças fragmentadas, vão quebrar-se certos laços e redes e refazer-se outros. Vai ser uma “era de incerteza”, em resumo; mas os fixismos ideológicos, as obsessões programáticas, os preconceitos maniqueístas, toda uma gramática ideologicamente correcta vai desaparecer perante a realidade e provas duras, com as quais os povos, as famílias, as pessoas, vão ter de aprender a viver e a sobreviver.
E a ordem internacional, o seu espírito e os seus valores, a hierarquia dos Estados protagonistas irá renascer depois desse período – que esperemos seja curto – de incerteza e de alguma desordem. Costuma ser assim na História dos homens e das suas comunidades, e se há coisa que não mudou desde a peste de Atenas até hoje, foi a natureza humana.