«Na história dos povos, como na história dos grupos significativos, como na história dos indivíduos, surgem, por vezes, momentos em que se põe o dilema radical: ou renascer ou morrer, ou conversão a uma outra maneira de ser e uma maneira de se ser outro ou desaparecimento na necrose. Portugal chegou a um desses momentos». Poucos anos depois do 25 de Abril de 1974, o Padre Manuel Antunes expressava nestas linhas as esperanças e os receios da nova fase histórica.
O termo “conversão” pode não parecer estranho, sendo utilizado por um jesuíta, embora adquira um sentido particular num contexto em que o país se orientava numa direção ainda desconhecida. Se a noção de “conversão” transborda o âmbito religioso, sendo já utilizada pelos antigos filósofos no sentido de «viragem», de «retorno» à direção de uma origem, de «rutura» abrupta entre uma vida e outra, bem como de um «voltar-se sobre si mesmo», uma noção histórica de conversão encontra-se facilmente em Maquiavel, grande leitor dos Antigos, quando, nos seus Discursos (III, 1), recomenda às Repúblicas que se renovem, reconduzindo-se «aos seus próprios princípios». E que esta seja a preocupação apontada é ainda demonstrado pelas interrogações que Antunes pode finalmente colocar aos seus concidadãos democráticos, como antes lhe teria sido impossível fazer: «Que quer o País? Que quer o Povo português? Que queremos nós?», sublinhando, desta forma, a ligação incontornável entre os valores de uma conversão histórico-política, já codificada na Constituição de 1976, e a sua «interiorização» individual.

Padre Manuel Antunes
Se a “conversão” remete para uma crise, ela aponta, no entanto, também para uma redescoberta. «País inviável, que sempre se viabilizou», como o definiu José Eduardo Franco, Portugal é, nesse sentido, um caso quase paradigmático de conversões históricas, tendo elevado as suas crises a fio condutor da sua própria autorrepresentação cultural, a partir, pelo menos, do desaparecimento do rei Dom Sebastião na batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Como todos os messianismos, o «sebastianismo» consiste na formulação da esperança num «retorno» futuro, na espera coletivamente interiorizada de que, do nevoeiro da história que o engoliu, como recorda Pessoa em Mensagem, possa voltar um dia o antigo rei, reconduzindo o país à sua essência perdida.
O sentido histórico que o “sebastianismo” constrói está, assim, orientado diretamente para o futuro: a história não é um arquivo, objeto de uma investigação autista, nem um lugar onde procurar os vestígios recônditos que, de forma insuspeita, ainda se manifestam no presente. Se acaso, esta atitude histórica procura, nas ações passadas e presentes, a trama incerta de uma história futura: contudo, nem pelo voluntarismo de uma neutralidade epistemológica, nem por um olhar isento de comprometimento.
Cuida-se do presente, tendo em vista um evento ou uma condição cuja espectralidade inexplorada, embora desejada, permite ao próprio presente adquirir um rosto duplo: se o passado é esquecido, é no futuro que voltará a se revelar. É uma história de arúspices: “magistra”, sim, mas das vidas que o presente carrega no seu ventre. Atitude histórica e religião civil, o “sebastianismo” ainda assume formas secularizadas, depois do Grande Terramoto de 1755 e das autoritárias Luzes do Marquês de Pombal. Mas não morre secularizando-se: torna-se «ideologia» de um país em crise, que, porém, ao contrário de outros países, se habituou a gerir as suas crises no plano da sua identidade.
Este caráter temporalmente aberto da construção político-ideal portuguesa torna-se o meio-termo no qual se atenuam as tensões e as dinâmicas sociais suscitadas pela própria forma como a sociedade portuguesa se constitui, reunindo nas suas elites e no seu povo populações de diferentes proveniências já desde a Idade Média e a época dos Descobrimentos. Na espera de um tempo em que «tudo se resolve», essa temporalidade vai apaziguando os conflitos últimos entre as elites e suavizando as tensões populares: afinal, os «brandos costumes», com que as vertentes conservadoras olham para o País, também são filhos sebastianistas, possíveis apenas enquanto a solução de uma crise, com o seu peso de angústia, é continuamente deslocada para o futuro.
É no «entretanto» de uma origem inalcançável e de uma promessa ainda não concretizada que Portugal se define. Nas suas diversas vertentes, a história do “sebastianismo” tem o comum denominador da manutenção de uma utopia originária: talvez não haja testemunho mais adequado da «lei» histórica com que Maquiavel defende a necessidade de os Estados se voltarem para o seu próprio princípio, o que a sociedade portuguesa fez reconhecendo a si própria uma autonomia e uma identidade ao longo dos séculos através dos “sebastianismos”.
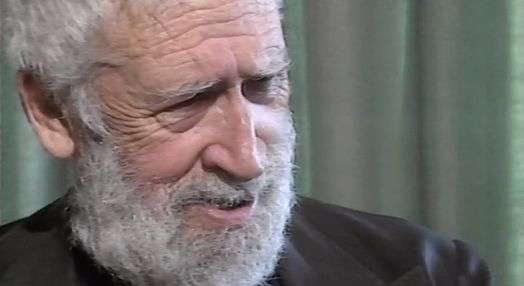
Agostinho da Silva
Nesta perspectiva, Agostinho da Silva reconsiderava a própria noção de decadência: sem ter atingido «o ponto mais alto do seu desenvolvimento», a «decadência» de Portugal seria assim fruto envenenado de influências culturais estrangeiras, que teriam lentamente sufocado o seu princípio. Óbvio, então, que enquanto «Portugal, para os verdadeiros portugueses, se tornava um país inabitável», o Padre António Vieira tentasse o caminho do Brasil para recriar as condições de um Portugal ideal, com a construção de um Quinto Império político-religioso. Acabada na fogueira a tentativa de Savonarola de parar a decadência de Florença universalizando-a, o Padre António Vieira arriscava-se a uma empreitada semelhante, mas em um terreno ainda virgem, como escreve ainda Agostinho da Silva: «Dizer-se Portugal é, para Vieira, dizer-se não os graus de longitude, a latitude que ficam entre tal e tal ponto da carta, mas o Reino da irmandade, de compreensão, de cooperação…».
Mais uma conversão, mais uma manutenção utópica, que Vieira defende sem rodeios: «Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando; pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor senão justiça». Ainda na utopia político-poética do Quinto Império de Pessoa, parece encontrar-se resposta à frustração vivida pela Geração de Setenta: uma utopia, porém, que Eduardo Lourenço escrevia estar bem longe dos «vãos sacrifícios» em que o Estado Novo mergulhou uma inteira geração.
A perda das colónias e a revolução traziam para Portugal, mais uma vez, a necessidade de reescrever-se, de «existirmos e nos vermos tais como somos». Contudo, a esperança da primavera portuguesa cedia logo à imagem de Portugal «doente de Europa»: daí a necessidade de um novo patriotismo utópico, por Lourenço: «Para quando a nova viagem para esse outro desconhecido que somos nós mesmos e Portugal connosco?».
Se a manutenção da ideia de Portugal corresponde à manutenção da sua utopia messiânica, esta traz consigo os dois riscos de um abandono à passividade e à inércia, e da procura de «guias providenciais», tão semelhantes aos «profetas» que Max Weber via como únicas alternativas à «gaiola de aço» da burocracia e do mercado. Contudo, o código da utopia portuguesa fala também da longa história de uma «espiritualidade política», em que o questionamento de uma identidade nacional se liga a um anseio de transformação.
É legítimo duvidar, com Maquiavel, que esta manutenção possa prescindir de uma sociedade e dos seus conflitos: certo é que as periódicas conversões de Portugal aos seus princípios utópicos atravessaram a sua existência. E, num mundo do qual a esperança parece banida, não seria pouco que Portugal voltasse a colocar, sem trégua, os seus dilemas radicais, abrindo-se novamente a uma história do futuro à qual pertence desde sempre.













