Ao preparar a bagagem para a sua devota excursão n’ A Relíquia, Teodorico Raposo decide levar um Guia do Oriente, vários pares de ceroulas, um muito elogiado capacete de cortiça, óleo de linhaça (“para o caso d’um contratempo intestinal n’esses descampados bíblicos”) e um providencial carregamento de champanhe francês. Quando finalmente encontram o troféu que procuram, Teodorico e o seu douto companheiro de viagem, Topsius, celebram em conformidade; um bebe “à Sciência!”, outro “à Religião!”: “e largamente a espuma de Moet et Chandon regou a Terra de Canaan”.
Quase cento e trinta anos depois de Eça, é reconfortante descobrir que nova intersecção ficcional entre a Terra Santa e a prosa lusa proporcionou a Canaan uma segunda oportunidade para ser regada com outro líquido recreativo, tão diferente dos habituais petróleo e sangue. A primeira informação que recebemos sobre a protagonista de Pai Nosso é que “ela transporta o gin na bagagem”; e, ao longo das 476 páginas seguintes, o gin – em copo ou em frasco, em play ou em rewind – é tantas vezes referido que se emancipa da mera condição de adereço estilizado: torna-se presença, personagem, companhia, um amigo. Quando, já à beira do fim, a mesma protagonista pergunta (acerca de um comprimido ex machina) “qual será o sabor com gin?”, o leitor reage com um sobressalto de indignação, como se alguém tivesse sugerido um acto de canibalismo.
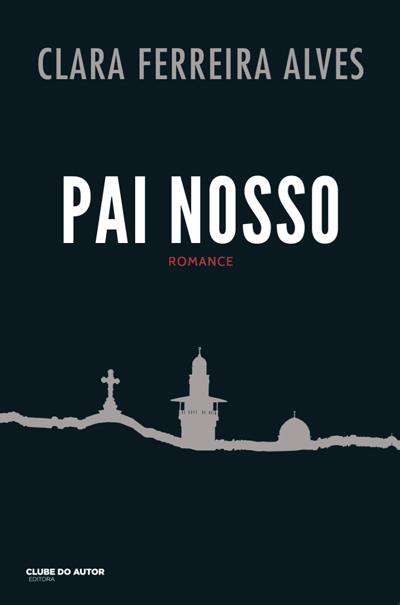
O livro é editado pelo Clube do Autor e custa 20 euros
A protagonista (no sentido em que partilha mais tempo de palco com o gin do que qualquer outro membro do elenco) é Maria, uma veterana fotógrafa de guerra com um currículo internacional e um passado ominoso, também conhecida como “Fantasma”, pela sua especialidade em assombrar dois tipos de cenários: locais de atentados terroristas e bares de hotel. É a um destes últimos, o Al-Rashid, que chega a narradora, uma investigadora de Estudos Islâmicos radicada em Hull, que ali veio de propósito para receber uma educação no terreno sobre “a diferença entre teoria e prática”, e para contar a nebulosa história de Maria, figura central de uma calamidade que levou o terrorismo global a Lisboa, mas cujos pormenores só são revelados nas últimas páginas.
O Al-Rashid fica em Bagdade, e é um desses habitats de guerra que os correspondentes estrangeiros transformam periodicamente em “lendários” cativeiros, na linha do “lendário” Commodore de Beirute, do “lendário” Colony de Jerusalém (por onde o romance também passa) e do “lendário” Continental de Saigão: não-lugares onde o gin é copiosamente consumido, onde se comparam cicatrizes e patranhas sobre “despesas”, onde sábios editoriais são improvisados na linguagem de taxista cínico, e onde lúgubres novidades (“o ISIS está a quilómetros”) são recebidas com o apropriado distanciamento (“o álcool veio em rodada”).
[Veja aqui as imagens dos “lendários” hotéis que serviram de cativeiro a correspondentes estrangeiros]

Apesar da distância geográfica, o Continental talvez seja o mais útil ponto de referência, uma vez que se Pai Nosso tem uma figura tutelar, ela é claramente Graham Greene, santo padroeiro de todos os cínicos exilados com um copo na mão e um passado para confessar. Na sua primeira conversa com o “americano tranquilo” do romance com o mesmo nome, Fowler vê naquele ingénuo idealismo um salutar contraponto ao “cinismo imaturo” dos jornalistas. O defeito, crucialmente, está no adjectivo e não no substantivo; o cinismo pode ser uma pose razoável, mas é preciso conquistar o direito a exibi-lo.
Este parece ser o princípio operativo do livro, que dedica várias passagens a admoestar a fauna que o preenche: os “jornalistas-notícia”, praticando o seu “jornalismo de poltrona”, “as moscas de bar de hotel”, ocupadas “a discutir bazófias”, os “imitadores de Hemingway, narcisos, bêbados, mulherengos”. É nestas reiterações que o leitor sente o primeiro tremor de preocupação, pois muitas delas surgem na voz da protagonista e é difícil perceber até que ponto ela sabe estar a criticar uma ecologia da qual é parte integrante. Um jornalista francês, por exemplo, é alvo de lacónica chacota pelo seu hábito de enumerar as “chacinas, revoluções, ditaduras e golpes” que testemunhou, algo que é, essencialmente, a base do longo monólogo de Maria. Em O Americano Tranquilo Greene concede a Fowler o direito aos seus equívocos, às suas ilusões, às narrativas complacentes que uma pessoa constrói sobre si própria. Mas a estrutura de Pai Nosso nunca permite a variedade de perspectiva e a distância irónica suficientes para percebermos se o livro vê mais do que a sua miópica porta-voz.

▲ Se "Pai Nosso" tem uma figura tutelar, ela é claramente Graham Greene, santo padroeiro de todos os cínicos exilados com um copo na mão e um passado para confessar
Getty Images
Tudo isto reflecte um problema técnico mais amplo, pois a superfície verbal do texto nunca ganha densidade suficiente para permitir estas distinções cruciais. A primeira tarefa de um ficcionista é criar uma voz; a segunda é descobrir uma maneira de com ela interpretar e retransmitir as vozes de terceiros. O minimalismo será sempre um gosto adquirido, mas as primeiras páginas de Pai Nosso não fazem soar (grandes) alarmes. Nota-se, pelo menos, uma deliberada consistência de tom, e uma fluência vigilante que evita quase todos os azares aliterativos (frases como “um rei que abandona a nação e foge de calças na mão dos exércitos de Napoleão”, ou “quem cresceu numa cela a decorar o Corão numa madrassa do Paquistão não precisa de televisão” são a excepção e não a regra). E aquele staccato radical poderia ter sido uma forma eficaz e engenhosa de traduzir a linguagem do trauma, evocando aos soluços um passado doloroso. Mas o efeito é fugaz, cansa depressa, e cai por terra quando percebemos que o registo não é exclusivo da narradora, e que todas as personagens falam da mesma maneira, como se estivessem a ensaiar um telegrama em voz alta.
A fórmula mais comum é a enumeração 3 + 1 em rajada fulminante: “Em Berlim, em Paris, em Istambul. Em Nova Iorque.” “Carne ensanguentada, ferros torcidos, metais derretidos. Chanatas cambadas.” “Secretários de Estado, ministros, chanceleres. Presidentes.” “Tudo entretido com Saddam, os Scuds, Hussein. Arafat”. “O cabeleireiro, a manicura, a pedicura. A missa.” “Para comer, beber, defecar. Procriar”. O efeito cumulativo é o de que estamos na presença de transplantes directos do bloco de notas, que nunca chegaram a ser trabalhados pela imaginação.
Temos também o aforismo pífio, que vai desde o sub-Baudrillardismo (“o Médio Oriente não existe”, “Beirute não existe”, “a Palestina nunca existiu”, “a realidade não existe”), à banalidade mais genérica (“os mortos são uma paisagem virtual”, “toda a política é uma arte do adultério”, “todos os homens são cometas”, “Deus foi a pior invenção do homem”, “somos todos fantasmas”, “o deserto enlouquece”), passando pelo francamente desconcertante (“um político é como um saca-rolhas, convém ter um por perto”). Isto não é a linguagem da ficção, ou sequer da crónica, mas do bitaite televisivo – exigindo apenas a atenção sonolenta e provisória de um espectador de circunstância.
E depois há a desert storm de anglicismos: o livro está recheado de do-gooders, de old boys, de dealers, de minders, de war junkies; há quem caia em honey traps, quem veja a big picture, quem tenha a sua finest hour, quem nunca experimente um dull moment; há quem beba stiff drinks e quem coma corned beef e quem transporte kill pills; há checkpoints, drugstores, roadmaps; há quem ache que money rules, ou que life is a bitch, ou que the west is the best, ou que all’s well that ends well; há pessoas que falam com o boyfriend e sirenes que dizem go to your shelters; há quem morra e deixe para trás os next of kin.
O apelo do inglês é compreensível. Não é fácil criar na língua portuguesa a voz que a autora evidentemente deseja: uma voz simultaneamente coloquial e erudita, cheia de sabedoria histórica e geopolítica, mas com igual capacidade para a esperteza instantânea, para a laracha, para o trocadilho. O esforço é admirável, mas os resultados são previsivelmente desiguais. Quando tudo aspira à condição de aforismo, e as modulações de tom são acidentais, corre-se o risco de frases como “o ISIS é uma criação pós-moderna” e “os casamentos são como os kebabs” coexistirem no mesmo parágrafo.
Incapaz de criar as suas próprias ressonâncias, o estilo acaba por ir procurá-las nas alusivas campainhas culturais que rematam fatalmente dezenas de descrições: “soletra as palavras como uma grande dama numa série com aristocratas e seus criados. Brideshead.” “O poder dela era o da elegância. Grace Kelly.” “O khamsin foi convocado para a nossa primeira noite. O monte dos vendavais.” “Os ingleses têm umas contas a ajustar no Afeganistão. Eu sei. Kipling.” “Um fato de bom corte, Saville Row. Nunca o vi tão elegante. My name is Bond, James Bond.”
O livro tem esporádicos bons momentos. As páginas que evocam uma infância em Benfica e Campolide são competentes e há um excelente apontamento de pura reportagem sobre uma carga policial em Istambul. Mas chegam numa altura em que a prosa já dissolveu a tolerância para os apreciar. E nos obrigou a viajar pelo planeta na companhia de quem o vai submetendo a estas ternas vulgarizações etnográficas: “os americanos são como crianças”, “os beduínos são hospitaleiros”, “os judeus não gostam de servir ninguém”, “não há charutos em Gaza”, “há sempre crianças nas casas dos palestinianos”, “as prostitutas de Cabul usam burqa”, “Jerusalém é o umbigo do mundo”, “Nova Iorque é o umbigo do mundo”.

▲ Nova Iorque é "o umbigo do mundo". E parece que Jerusalém também
Getty Images
E qual é o umbigo do livro, exactamente? Se existe um tema central, este será encapsulado num dos dois refrãos repetidos a intervalos regulares: “não alimente os pombos” e “é preciso prestar atenção a todas as coisas quando acontecem pela primeira vez”. Devidamente descodificados, ambos se referem à facilidade com que tanto os cínicos veteranos como os americanos tranquilos transportam as suas ilusões, as suas distorções, a sua bagagem, e a sua cegueira selectiva para ecossistemas que desconhecem, com consequências imprevisíveis e quase sempre trágicas. “As verdades têm ângulos, têm arestas, reflectem a luz como um cristal irregular”. É uma apologia da complexidade, da incerteza, e da imersão prolongada – em oposição ao turismo fácil das certezas abstractas.
O que desconcerta não é a mensagem, mas o facto de a voz que a transmite nunca dar qualquer indicação de aplicar a si mesma essa exigente doutrina. Uma voz que tão facilmente detecta o narcisismo de terceiros e que parece incapaz de assimilar o mundo sem o indexar a referências puramente pessoais. As guerras dividem-se entre “a minha melhor guerra” e “a minha pior guerra”; Nova Iorque é “a minha cidade”; os tuaregues são “os meus tuaregues”; um teatro em Israel faz lembrar um cinema em Campo de Ourique, o conflito no Kosovo faz lembrar a Damaia e a Brandoa, um velho judeu ortodoxo faz lembrar um velho alentejano, as multidões em Meca fazem lembrar as multidões em Fátima. O ponto alto é quando um breve périplo pelos antigos campos de concentração promove uma estonteante analogia entre Birkenau e o túnel do Rossio.
Maria vai “confessando” o seu passado como uma série de imagens congeladas, mas essas imagens não cumprem qualquer função artística, pois não evocam nem preservam nada a não ser uma certidão de presença. Como fotografias de férias, servem apenas para a protagonista nos informar por onde passou. Não são retratos, nem paisagem: são selfies.
E o livro parece muito mais interessado em reiterar a experiência e clarividência da protagonista (que julga perceber antes dos outros tudo o que é relevante) e em validar as suas certezas equivocadas do que em temperá-las com a complexidade que prescreve para terceiros. A mesma protagonista que se define, sem um traço de ironia, como “uma especialista em terrorismo” porque “leu muitos livros” e visitou muitos lugares; a mesma protagonista capaz de afirmar a sua infalibilidade em detectar potenciais terroristas (“Hoje conheço-os à légua. Ponham os suspeitos numa fila para identificação como fazem nas esquadras, e aponto o assassino. Ganhei calo.”) quando a história que conta a refuta por completo.
Disputas territoriais históricas, antigas ou recentes, degeneram quase sempre nos mesmos atavismos que definem relacionamentos pessoais tumultuosos ou escaramuças profissionais: orgulho, humilhação, posse, independência. A melhor comédia involuntária do livro é fornecida pelos momentos em que Maria se mostra mais nervosamente territorial, envolvendo-se em duelos de credenciais, disputas de legitimidade, comparações de carimbos nos passaportes: “Eu saio do hotel mais do que ele e passo muito tempo com os palestinianos. Isso enerva-o”, “há palestinianos e palestinianos e parece-me que passei mais tempo com eles do que tu”, etc.
Aqui está alguém, conclui-se, que acredita ter conquistado o seu cinismo, que acredita ter mais direito que os outros a ocupar aquele território e a proclamar o valor intrínseco de lá estar, e que se recusa a abandonar o seu colonato, mesmo que isso implique a morte. Nesse aspecto, pelo menos, Pai Nosso é uma metáfora perfeita, ainda que inadvertida, para o tema intemporal que tentou explorar.




















