Índice
Índice
Em 2002, Mohamedou Ould Slahi foi enviado para a prisão norte-americano de Guantánamo, suspeito de ser um dos homens que planeara os atentados de 11 de setembro. Esteve 14 anos à espera de uma acusação formal: mesmo perante a falta de provas que levou o juíz federal a ordenar a sua libertação em 2010, o governo dos Estados Unidos não aceitou a decisão. Durante todo esse tempo diz que foi vítima de torturas “repetidas, violentas e sinistras”. Este ano foi finalmente libertado.
Nascido na Mauritânia em 1970, Mohamedou viajou pela primeira vez para a Europa quando ganhou uma bolsa para estudar na Alemanha, onde trabalhou durante vários anos como engenheiro. Voltou a casa em 2000 e, no ano seguinte, foi detido e enviado para a Jordânia, depois para o Afeganistão e por fim para Cuba. Foi em Guantánamo que começou a escrever sobre o mundo dentro da prisão mais polémica do mundo (e que Obama prometeu fechar quando chegou à Casa Branca).
Entretanto, o ativista e escritor norte-americano Larry Siems teve acesso ao manuscrito do seu diário e preparou-o para ser publicado. Não antes de passar por uma batalha judicial de seis anos com a justiça dos EUA que acabou numa censura de mais de 2.500 linhas pelo governo americano. Por razões de segurança interna, os EUA não quiseram publicados nomes e dados confidenciais.
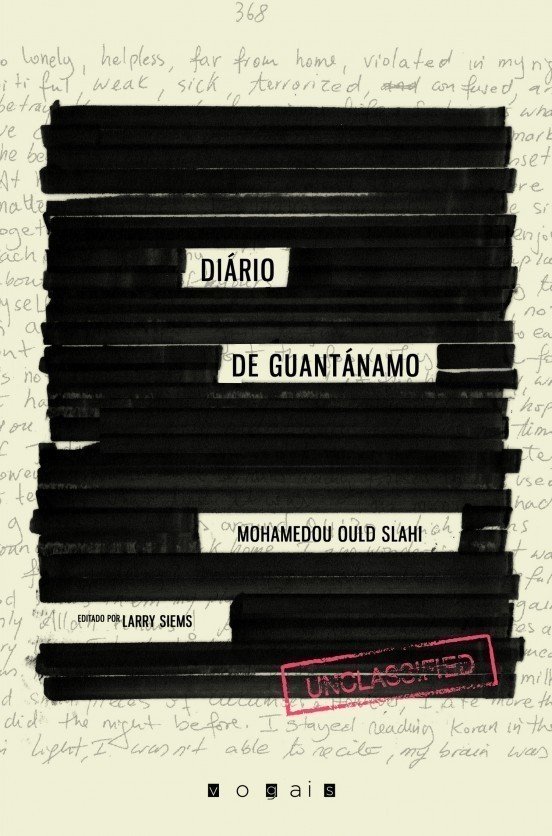
Para assinalar a libertação do “prisioneiro mais famoso de Guantánamo” e do seu regresso a casa sem qualquer acusação formal pelos Estados Unidos, chegou agora às livrarias portuguesas “Diário de Guantánamo”. O Observador publica os dois primeiros capítulos da obra publicada pela editora Vogais e à venda por 20,99 euros. Toda a informação censurada pelos EUA está assinalada neste texto com “XXXXX”.
Jordânia–Afeganistão–GTMO
XXXXXXXXX, XX de julho de 2002, 22h00.
A música desligou‐se. As conversas dos guardas dissiparam‐se. A carrinha foi esvaziada.
Senti que fiquei sozinho na carrinha.
A espera não foi muita. Senti a presença de pessoas novas, uma equipa silenciosa. Não me lembro de uma única palavra durante todo o transporte que se seguiu.
Alguém estava a desatar‐me as correntes dos pulsos. Desatou a primeira mão, e outro tipo agarrou essa mão e dobrou‐a, enquanto uma terceira pessoa punha as novas algemas, mais firmes e pesadas. Agora tinha as mãos agrilhoadas à minha frente.
Alguém começou a rasgar‐me as roupas com algo parecido com uma tesoura. Pensei: Que raio se passa? Comecei a sentir‐me preocupado com a viagem que nunca quis nem iniciei. Havia alguém a decidir tudo por mim; eu tinha todas as preocupações do mundo menos ter de tomar uma decisão. Passaram‐me velozmente muitos pensamentos pela cabeça.
Despiram‐me completamente. Foi humilhante, mas a venda ajudou‐me a evitar o mau aspeto do meu corpo nu. Durante todo o procedimento, a única prece de que me lembrei foi a oração da crise, Ya hayyu! Ya kayyum!, e murmurei‐a o tempo inteiro. Sempre que me via numa situação parecida, esquecia‐me de todas as preces, exceto a oração da crise, que aprendi com a vida do nosso Profeta, que a Paz esteja com ele.
Um dos da equipa pôs uma fralda à volta das minhas partes íntimas. Só nessa altura é que fiquei com a certeza absoluta de que o avião se destinava aos EUA. Agora começava a convencer‐me de que «tudo vai ficar bem». A minha única preocupação era a minha família ver‐me na televisão numa situação tão degradante. Eu estava tão escanzelado. Sempre o fora, mas nunca assim tão magro: as minhas roupas de rua tinham cado tão largas que eu parecia um gato pequeno num saco grande.
Quando a equipa dos EUA acabou de me vestir as roupas que tinham feito à minha medida, um tipo tirou‐me a venda por instantes. Não consegui ver grande coisa, porque ele me apontou uma lanterna aos olhos. Ele estava tapado dos pés à cabeça com um uniforme negro. Abriu a boca e pôs a língua de fora, gesticulando para que eu o imitasse, uma espécie de teste Ahh que fiz sem resistência. Vi parte do seu braço muito pálido com pelos loiros, o que cimentou a minha teoria de estar nas mãos do Uncle Sam.
A venda foi puxada para baixo. Durante todo aquele tempo escutei o ruído alto de motores de avião; tenho a forte convicção de que uns aviões estavam a aterrar e outros a descolar. Senti o meu avião «especial» a aproximar‐se, ou a carrinha a aproximar‐se do avião, já não me lembro. Mas lembro‐me que, quando a escolta me agarrou e tirou da carrinha, não havia espaço entre a carrinha e as escadas do avião. Eu estava tão exausto, indisposto e cansado que não conseguia andar, o que levou a escolta a puxar‐me escadas acima como se eu fosse um cadáver.
Dentro do avião fazia muito frio. Fui deixado num sofá e os guardas prenderam‐me, muito provavelmente ao chão. Senti‐me tapado por um cobertor; apesar de ser muito no, reconfortou‐me.

Descontraí e entreguei‐me aos meus sonhos. Estava a pensar nos vários membros da minha família que não voltaria a ver. Quão tristes cariam eles! Chorei sem barulho nem lágrimas; por algum motivo, eu tinha dado todas as minhas lágrimas ao início da expedição, que foi como a fronteira entre a morte e a vida. Gostaria de ter sido melhor para as pessoas. Gostaria de ter sido melhor para a minha família. Arrependi‐me de todos os erros que cometi na minha vida, para com Deus, para com a minha família, para com toda a gente!
Estava a pensar na vida numa prisão americana. Estava a pensar nos documentários que tinha visto sobre as suas prisões e na dureza com que tratavam os seus prisioneiros. Desejei ser cego ou ter outra de ciência, para que me pusessem em isolamento e me dessem alguma proteção e um tipo de tratamento mais humano. Eu pensava: Como será que vai ser a primeira audiência com o juiz? Terei hipóteses de receber um julgamento justo num país tão cheio de ódio pelos muçulmanos? Estarei realmente já condenando, mesmo antes de ter a possibilidade de me defender a mim próprio?
Afoguei estes pensamentos dolorosos no calor do cobertor. De vez em quando, a dor da vontade de urinar incomodava‐me. A fralda não funcionava comigo: eu não conseguia convencer o meu cérebro a dar o sinal à minha bexiga. Quanto mais tentava, mais determinado ficava o meu cérebro. O guarda ao meu lado estava sempre a pôr‐me tampas de garrafas de água na boca, o que piorava a minha situação. Não havia modo de recusar: ou engoles, ou te asfixias. Estar deitado de lado estava a dar cabo de mim como não dá para imaginar, mas todas as tentativas de mudar de posição fracassavam, pois uma mão forte voltava a pôr‐me na mesma posição.
Dava para perceber que o avião era um jato grande, o que me fez acreditar que o voo se dirigia para os EUA. Mas, ao fim de cerca de cinco horas, o avião começou a perder altitude e aterrou suavemente na pista. Compreendi que os EUA ficavam um pouco mais longe do que isso. Onde estamos? Em Ramstein, na Alemanha? Sim! E em Ramstein há um aeroporto militar dos EUA para aviões em trânsito de e para o Médio Oriente; iríamos parar aqui para abastecer.
Contudo, assim que o avião aterrou, os guardas começaram a trocar as correntes de metal por outras, de plástico, que me feriram os tornozelos na curta caminhada até ao helicóptero.
Quando o sol me atingiu, a questão voltou a surgir: onde estou eu? Sim, é a Alemanha: era julho e o sol levanta‐se cedo. Mas porquê a Alemanha? Eu não tinha cometido quaisquer crimes na Alemanha! Que tipo de merda arranjaram eles contra mim? E, todavia, o sistema jurídico alemão era de longe uma opção melhor para mim. Além disso, o sistema alemão é algo transparente, e não há penas de 200 ou 300 anos. Eu tinha pouco com que me preocupar: um juiz alemão irá ver-me e mostrar‐me aquilo de que governo me acusa e depois serei enviado para uma prisão temporária até que o meu caso esteja decidido. Não me sujeitarão a tortura e não terei de ver os rostos maldosos dos interrogadores.
Ao fim de cerca de dez minutos, o helicóptero aterrou, e eu fui levado para uma carrinha, com um guarda de cada lado. O condutor e o seu vizinho estavam a falar numa língua que eu nunca tinha ouvido antes. Pensei: Que raio estão eles a falar, talvez filipino? Pensei nas Filipinas, porque estou ao corrente da grande presença militar dos EUA aí. Oh!, sim, são as Filipinas: eles conspiraram com os EUA e arranjaram alguma merda contra mim. Como seriam as perguntas do juiz deles? Por esta altura, no entanto, só queria chegar e fazer xixi, depois disso podem fazer o que quiserem. Por favor, deixem‐me chegar!, pensei eu, Depois disso podem matar‐me!
Os guardas tiraram‐me da carrinha ao fim de um percurso de cinco minutos, e eu senti que me tinham posto numa espécie de átrio. Eles forçaram‐me a ajoelhar e a baixar a cabeça: deveria ficar nesta posição até que eles me agarrassem. Eles gritaram: «Não te mexas.» Antes de me preocupar com qualquer outra coisa, despejei a urina mais extraordinária desde que nascera. O alívio foi tanto que senti que tinha sido libertado e enviado de volta para casa. De repente, as minhas preocupações dissolveram‐se e sorri interiormente. Ninguém reparou no que fiz.
Cerca de um quarto de hora depois, alguns guardas puxaram-me e levaram-me a reboque para uma sala onde eles, obviamente, tinham «processado» vários detidos. Uma vez na sala, os guardas tiraram‐me a venda da cabeça. Oh!, as minhas orelhas doíam‐me tanto, e o mesmo em relação à minha cabeça; na verdade, todo o meu corpo conspirava contra mim. Mal me mantinha de pé. Os guardas começaram a tirar‐me as roupas, e pouco depois ali estava eu tão nu como quando a minha mãe me deu à luz. Pela primeira vez, estava diante de soldados americanos; não na TV, isto era a sério. Tive a reação mais comum, tapar as minhas partes íntimas com as mãos. Também comecei a recitar baixinho a oração da crise: Ya hayyu! Ya kayyum! Ninguém me impediu de rezar; todavia, um dos polícias militares encarava‐me com os olhos cheios de ódio. Mais tarde, ordenou‐me que parasse de olhar em volta da sala.
Um XXXXX médico fez‐me um exame médico rápido, após o qual fui enrolado em panos afegãos. Sim, panos afegãos nas Filipinas! É claro que eu estava acorrentado, com as mãos e os pés atados à minha cintura. Nas mãos, ainda por cima, puseram‐me mitenes. Agora estou pronto para a ação! Que ação? Não faço ideia!
A equipa de escolta puxou‐me, vendado, para uma sala de interrogatório vizinha. Assim que entrei na sala, várias pessoas começaram a gritar e a atirar coisas contra a parede. Na confusão, consegui distinguir as seguintes perguntas:
«Onde está Mullah Omar?»
«Onde está Usama Bin Laden?»
«Onde está Jalaluddin Haqqani?»
Pela minha cabeça passou uma análise muito rápida: os indivíduos naquelas perguntas estavam à frente de um país e agora são um bando de fugitivos! Aos interrogadores, escaparam várias coisas. Primeiro, tinham acabado de me dar as últimas notícias: o Afeganistão está tomado, mas as pessoas de mais alto nível não foram capturadas. Segundo, entreguei-me no momento em que a guerra contra o terrorismo começou, e desde então que tenho estado numa prisão jordana, literalmente sem contacto com o resto do mundo. Portanto, como é que eu haveria de saber da tomada do Afeganistão pelos EUA, e além disso acerca da fuga dos seus líderes? Já para não falar do local onde se encontram agora.

Respondi humildemente:
«Não sei!»
«És um mentiroso!», gritou um deles num árabe defeituoso.
«Não, não estou a mentir, fui capturado assim e assim, e só sei de Abu Hafs», disse eu, num resumo rápido da minha história.
«Devíamos interrogar estes cabrões como os israelitas os interrogam!»
«Como fazem eles?»
«Despem‐nos e interrogam‐nos!»
«Talvez devêssemos!», sugeriu outro. Ainda havia cadeiras pelos ares, a atingir as paredes e o chão. Eu sabia que era uma demonstração de força, o suscitar de medo e ansiedade. Segui a maré e até tremi mais do que o necessário. Eu não acreditava que os americanos torturassem, embora sempre o tivesse considerado uma possibilidade remota.
«Vou interrogar‐te mais tarde», disse um deles, e o intérprete dos EUA repetiu‐o em árabe.
«Levem‐no para o hotel», sugeriu o interrogador. O intérprete não traduziu isto.
Assim terminou o primeiro interrogatório. Antes de a escolta me ter agarrado, no meu medo aterrorizado, tentei criar uma relação com o intérprete.
«Onde aprendeste árabe tão bem?», perguntei.
«Nos Estados Unidos!», respondeu ele, parecendo lisonjeado. Na verdade, ele não falava bom árabe; eu estava apenas a tentar fazer amigos.
A equipa de escolta levou‐me dali.
«Tu falas inglês», disse um deles com um forte sotaque asiático.
«Um pouco», respondi. Ele riu‐se, e o seu colega também. Senti‐me um ser humano a ter uma conversa informal. Disse a mim próprio: Repara em quão afáveis são os americanos; vão pôr‐te num hotel, interrogar-te durante uns dois dias e depois mandar‐te‐ão de avião para casa em segu‐ rança. Não há motivos para preocupação. Os EUA querem apenas veri car tudo. Por amor de Deus, estás numa base nas Filipinas; apesar de ser um sítio a roçar o ilegal, é apenas temporário. O facto de um dos guardas soar asiático fortaleceu a minha teoria errada de estar nas Filipinas.
Depressa cheguei, não a um hotel, mas a uma cela de madeira sem retrete ou lavatório. Pela mobília modesta — um colchão fino e gasto e um cobertor velho —, via-se que já alguém lá tinha estado. Fiquei mais ou menos feliz por ter deixado a Jordânia, um sítio cheio de incerteza, mas preocupavam‐me as preces que não poderia fazer, e queria saber quantas preces tinha perdido na viagem. A guardar a cela estava um(a) XXXXX branco/a e magro/a, algo que me trouxe mais alívio: durante os oito meses anteriores, eu tinha lidado apenas com homens grandes e musculados. Perguntei as horas a XXXXX, e XXXXX disse‐me que eram aproximadamente 11h00, se bem me lembro. Eu tinha mais uma pergunta.
«Que dia é hoje?»
«Não sei, aqui todos os dias são iguais», respondeu XXXXX. Percebi que estava a perguntar de mais; nem sequer deveria dizer‐me as horas, como mais tarde fiquei a saber.
Descobri um Corão cuidadosamente colocado por cima de algumas garrafas de água. Compreendi que não estava só na prisão, que certamente não era um hotel.
Afinal, eu fora posto na cela errada. Subitamente, vi os pés curtidos de um preso cujo rosto não consegui ver, por estar tapado com um saco preto. Os sacos pretos, depressa constatei, eram postos nas cabeças de todos para os vendar e os tornar irreconhecíveis, incluindo o escritor. Para ser franco, eu não queria ver a cara do preso, não fosse ele estar com dores ou a sofrer, porque detesto ver pessoas em sofrimento; deixa‐me doido. Nunca me esquecerei dos gemidos e dos gritos dos pobres detidos na Jordânia enquanto lhes infligiam torturas. Lembro‐me de tapar os ouvidos para não ouvir os seus gritos, mas, por mais que tentasse, ainda conseguia escutar o seu sofrimento. Era horrível, ainda pior do que a tortura.
O guarda XXXXX à minha porta parou a equipa de escolta e organizou a minha transferência para outra cela. Era igual àquela em que estava, mas na parede em frente. Naquela divisão havia uma garrafa de água pela metade, cujo rótulo estava escrito em russo; desejei ter aprendido russo. Disse para mim mesmo: Uma base militar nas Filipinas com garrafas da Rússia? Os EUA não precisam de fornecimentos da Rússia, e além disso geograficamente não faz qualquer sentido. Onde é que estou? Talvez numa antiga república russa, como o Tajiquistão? A única coisa que sei é que não sei!
A cela não tinha instalações para eu tratar das minhas necessidades naturais. Lavar‐me para rezar era impossível e proibido. Não havia quaisquer pistas quanto à kibla, a direção de Meca. Fiz o que pude.
O vizinho da cela ao lado estava mentalmente doente; ele gritava numa língua com a qual eu não estava familiarizado. Mais tarde, soube que se tratava de um líder talibã.
Horas depois nesse mesmo dia, 20 de julho de 2002, os guardas foram buscar‐me para trabalho policial de rotina: impressões digitais, altura, peso, etc. Ofereceram‐me XXXXX como intérprete. Era óbvio que o árabe não era a primeira língua de XXXXX. XXXXX ensinou‐me as regras: nada de falar ou rezar em voz alta, nada de me lavar para as preces, e uma série de outros nãos nesse sentido. O guarda perguntou‐me se eu queria ir à casa de banho. Pensei que ele estivesse a referir‐se a um local onde pudesse tomar um duche; «Sim», disse eu. A casa de banho era um barril cheio de detritos humanos. Era a casa de banho mais repugnante que alguma vez tinha visto. Os guardas tinham de nos vigiar enquanto tratávamos dos nossos assuntos. Eu não conseguia comer — na Jordânia, a comida era, de longe, muito melhor do que as MRE que recebi em Bagram —, e portanto não tinha vontade de ir à casa de banho. Para fazer xixi, usava as garrafas de água vazias na minha cela. A situação higiénica não era propriamente perfeita; por vezes, quando a garrafa cava cheia, eu continuava no chão, garantindo que não escorria até à porta.
Durante as noites seguintes, em isolamento, fiquei com um guarda engraçado que estava a tentar converter‐me ao cristianismo. Gostei das conversas, embora o meu inglês fosse muito básico. O meu interlocutor era jovem, religioso e enérgico. Ele gostava de Bush («o verdadeiro líder religioso», segundo ele); detestava Bill Clinton («o Infiel»). Amava o dólar e odiava o euro. Ele tinha o seu exemplar da Bíblia constantemente consigo e, sempre que a oportunidade surgia, lia-me histórias, a maioria das quais tiradas do Velho Testamento. Eu não teria sido capaz de o compreender se não tivesse lido a Bíblia em árabe várias vezes, já para não falar das versões das histórias que não são muito diferentes das do Corão. Tinha‐a estudado na prisão jordana; pedi um exemplar e eles disponibilizaram‐me outro. Foi muito útil para compreender as sociedades ocidentais, apesar de muitas delas negarem a influência das escrituras religiosas.
Perguntei‐lhe quanto à minha situação. «Tu não és criminoso, porque eles põem os criminosos no outro lado», disse‐me, gesticulando com a sua mão. Pensei nesses «criminosos» e imaginei um bando de muçulmanos jovens, e qual seria a sua situação. Senti pena. Mais tarde, afinal, eu seria transferido para junto desses «criminosos», e tornar‐me‐ia um «criminoso de alta prioridade». Senti‐me como que envergonhado quando o mesmo guarda me viu mais tarde com os «criminosos», depois de ele me ter dito que eu seria libertado, no máximo, dali a três dias. Ele agiu com naturalidade, mas já não tinha a mesma liberdade para falar comigo sobre religião ali, devido aos seus vários colegas. Os outros detidos disseram‐me que ele também não era mau para com eles.
Na segunda ou na terceira noite, XXXXX tirou‐me da cela pelas próprias mãos e conduziu‐me até um interrogatório, em cuja sala o/a mesmo/a XXXXX árabe já se encontrava. XXXXX. Dava para ver que ele era o homem certo para aquela missão: era o tipo de pessoa que não se importava de fazer o trabalho sujo. Os presos em Bagram costumavam chamar‐lhe XXXXX; dizia‐se que ele era responsável por torturar até indivíduos inocentes que o governo tinha libertado.
XXXXX não precisava de me algemar, pois eu estava agrilhoado 24 horas por dia. Eu dormia, comia e ia à casa de banho enquanto estava completamente algemado, das mãos aos pés. XXXXX abriu um arquivo que tinha na mão XXXXX e começou, através do/a intérprete. XXXXX estava a fazer‐me perguntas genéricas sobre a minha vida e o meu passado. Quando me perguntou «Que línguas falas?», não acreditou em mim; riu‐se, juntamente com o intérprete, dizendo: «Haha, falas alemão? Espera, vamos confirmar.»
Subitamente, XXXXX a sala XXXXX. Não havia dúvidas, ele era XXXXX.
«Ja Whol», respondi eu. XXXXX não era XXXXX, mas o seu alemão era bastante aceitável, visto ter passado XXXXX. Ele confirmou ao seu colega que o meu alemão era «XXXXX.
Olharam ambos para mim com algum respeito depois disso, embora o respeito não fosse su ciente para me poupar à ira de XXXXX. XXXXX perguntou‐me onde tinha aprendido a falar alemão, e disse‐me que me interrogaria novamente mais tarde.
XXXXX, «Wahrheit macht frei, a verdade liberta‐te.»
Quando o ouvi dizê‐lo, percebi que a verdade não me libertaria, porque o «Arbeit» não tinha libertado os judeus. A máquina de propaganda de Hitler costumava incitar os presos judeus com o slogan «Arbeit macht frei», o trabalho liberta. Mas o trabalho não libertou ninguém.
XXXXX fez uma nota no seu caderninho e deixou a sala. XXXXX mandou‐me de volta para o meu quarto e pediu desculpa XXXXX.
«Desculpa ter‐te mantido acordado/a durante tanto tempo.»
«Não há problema!», respondeu XXXXX.

Depois de vários dias em isolamento, fui transferido para junto da população geral, mas só podia olhar para eles, pois fora posto no estreito corredor de arame farpado entre as celas. Porém, era como se estivesse fora da prisão, e eu chorei e agradeci a Deus. Ao fim de oito meses de isolamento total, vi outros detidos mais ou menos na mesma situação. Os presos «maus» como eu estavam acorrentados 24 horas por dia, e eram postos no corredor, onde todos os guardas e presos que passavam os pisavam. O sítio era tão estreito que o arame farpado me picou continuamente ao longo dos dez dias seguintes. Vi XXXXX a ser alimentado à força; estava numa greve de fome de 45 dias. Os guardas gritavam com ele, e ele estava a fazer saltitar um pedaço de pão entre as suas mãos. Todos os presos tinham um aspeto muito desgastado, como se tivessem sido enterrados e depois ressuscitado ao fim de vários dias, mas XXXXX era uma coisa totalmente diferente: ele era ossos sem carne. Lembrava‐me as fotografias que se veem nos documentários sobre os prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. Os detidos não estavam autorizados a falar uns com os outros. O castigo de conversar era pendurar o preso pelas mãos com os pés a mal tocarem no chão. Vi um preso afegão que desmaiou umas duas vezes enquanto estava pendurado pelas mãos. Os médicos «trataram dele» e voltaram a pendurá‐lo. Outros detidos tinham mais sorte: eram pendurados durante um período e depois libertados. A maioria dos presos tentava falar enquanto estava preso pelas mãos, o que levava os guardas a duplicarem o castigo. Havia um tipo afegão muito velho que, alegadamente, tinha sido preso por entregar o seu filho. O tipo estava mentalmente doente; ele não conseguia parar de falar porque não sabia onde estava, nem porquê. Não creio que ele compreendesse o seu ambiente, mas os guardas, cumpridores, continuavam a pendurá‐lo. Metia dó.
Um dia, um dos guardas empurrou‐o e ele caiu de cara no chão, a chorar como um bebé.
Fomos postos em cerca de seis ou sete celas de arame farpado a que foram dados nomes de operações realizadas contra os EUA: Nairobi, U.S.S. Cole, Dar‐Es‐Salaam, e assim por diante. Em cada uma das celas havia um preso chamado English que, benevolamente, servia de intérprete para traduzir as ordens dos seus codetidos. O nosso English era um cavalheiro do Sudão chamado XXXXX. O seu inglês era muito básico, e por isso perguntou‐me secretamente se eu falava inglês. «Não», respondi, mas eu era um Shakespeare em comparação com ele. Os meus irmãos acharam que eu estava a negar-lhes os meus serviços, mas eu só não sabia quão má era a situação.
Agora estava sentado diante de um monte de cidadãos dos EUA totalmente medianos. A minha primeira impressão, quando os vi a mastigar sem parar, foi: Que se passa com estes tipos? Têm de comer assim tanto? Os guardas, na sua maioria, eram altos e tinham excesso de peso. Alguns deles eram amigáveis, e outros eram muito hostis. Sempre que me apercebia de que um guarda era mau, fingia não compreender inglês. Lembro‐me de um cowboy ter vindo ter comigo com uma expressão feia no semblante:
«Falas inglês?», perguntou.
«Não inglês», respondi.
«Não gostamos que fales inglês. Queremos que morras lentamente», disse ele.
«Não inglês», respondia‐lhe eu de todas as vezes. Eu não queria dar‐lhe a satisfação de saber que a sua mensagem tinha chegado até mim. As pessoas com ódio têm sempre algo a descarregar, mas eu não estava pronto para ser o seu caixote do lixo.
A oração em grupos não era permitida. Todos rezavam sozinhos, e eu fazia o mesmo. Os presos não tinham quaisquer pistas quanto à hora das preces. Limitávamo‐nos a imitar: quando um dos detidos começava a rezar, presumíamos que estava na hora e fazíamos o mesmo. O Corão estava disponível para os presos que pedissem um. Não me lembro de ter pedido, pois o manuseamento por parte dos guardas era desrespeitoso; eles atiravam‐no uns aos outros como se fosse uma garrafa de água, na altura de passarem o livro sagrado. Eu não queria ser um motivo para a humilhação da palavra de Deus. Além disso, graças a Deus, sei o Corão de cor. Tanto quanto me lembro, um dos detidos passou-me secretamente um exemplar que ninguém estava a usar na cela.
Ao fim de alguns dias, XXXXX chamou‐me para interrogatório. XXXXX funcionou como intérprete.
«Conta-me a tua história», pediu XXXXX.
«O meu nome é [Mohamedou], formei‐me em 1988, recebi uma bolsa de estudo para a Alemanha…», respondi eu com fastidiosos pormenores, nenhum dos quais pareceu interessar ou impressionar XXXXX. Ele ficou farto e começou a bocejar. Eu sabia exatamente o que ele queria ouvir, mas não podia ajudá‐lo.
Ele interrompeu‐me.
«O meu país valoriza muito a verdade. Agora vou fazer‐te algumas perguntas, e, se responderes honestamente, serás libertado e enviado em segurança para junto da tua família. Se não o fizeres, continuarás preso indefinidamente. Uma pequena nota na minha agenda é suficiente para destruir a tua vida. De que organizações terroristas fazes parte?»
«Nenhuma», respondi.
«Tu não és um homem, e não mereces respeito. Ajoelha‐te, cruza as mãos e põe‐nas atrás do pescoço.»
Obedeci às regras, e ele pôs um saco por cima da minha cabeça. Doíam‐me muito as costas ultimamente, e essa posição era muito dolorosa; XXXXX estava a aproveitar o meu problema ciático. XXXXX trouxe dois projetores e ajustou‐os à minha cara. Eu não conseguia ver, mas o calor tomou conta de mim e comecei a transpirar. «Vais ser enviado para instalações norte‐americanas, onde passarás o resto da tua vida», ameaçou ele.
Eu tinha idade suficiente para saber que ele era um desgraçado mentiroso e um homem sem honra, mas era ele que mandava, portanto tive de ouvir as merdas dele uma e outra vez. Eu só queria que as agências começassem a contratar pessoas espertas. Será que ele achava realmente que alguém acreditaria nos disparates que ele dizia? Alguém ali tinha de ser estúpido: seria ele, ou será que ele acharia que eu o era? Tê‐lo‐ia respeitado mais, se ele me tivesse dito: «Olha, se não me disseres o que eu quero ouvir, vou torturar‐te.»
Fosse como fosse, respondi:
«É claro que vou dizer a verdade!»
«De que organizações terroristas fazes parte?»
«De nenhuma!», repliquei. Ele voltou a pôr‐me o saco na cabeça e começou um longo discurso de humilhação, insultos, mentiras e ameaças. Na realidade, não me lembro de tudo, nem estou preparado para remexer na minha memória em busca dessas tretas. Eu estava muito cansado e dorido, e tentei sentar‐me, mas ele forçou-me a ficar na mesma posição.
Chorei de dores. Sim, um homem da minha idade chorou em silêncio. Eu simplesmente não suportava o sofrimento.
XXXXX, ao fim de umas horas, enviou‐me de novo para a minha cela, prometendo‐me mais tortura. «Isto foi só o início», como ele disse. Aterrorizado e esgotado, fui devolvido à minha cela. Rezei a Alá para que me poupasse a ele. Vivi os dias que se seguiram em pânico: sempre que XXXXX passava pela nossa cela, eu desviava o olhar, evitando vê‐lo para que ele não me visse, tal como uma avestruz. XXXXX vistoriava toda a gente, de dia e de noite, e dava aos guardas a receita para cada recluso. Vi‐o torturar outro detido. Não quero relatar o que ouvi sobre ele; quero apenas falar do que vi com os meus olhos. Era um adolescente afegão, eu diria que com 16 ou 17 anos. XXXXX fê‐lo ficar de pé durante cerca de três dias, sem dormir. Senti tanta pena dele. Sempre que ele caía, os guardas aproximavam‐se dele, gritando «não há descanso para os terroristas», e faziam com que se levantasse novamente. Lembro‐me de adormecer e de acordar e de ele lá estar, como uma árvore.
Sempre que via XXXXX por perto, o meu coração começava a bater com força, e ele estava muitas vezes por perto. Um dia ele mandou‐me um intérprete XXXXX para me transmitir uma mensagem.
«XXXXX vai dar cabo de ti.»
Não reagi, mas, por dentro, disse: Que Alá te impeça! Na verdade, ele não deu cabo de nada; em vez disso XXXXX levou‐me para interrogatório. Era um tipo simpático; talvez sentisse que conseguia relacionar‐se comigo devido à língua. E porque não? Até alguns guardas costumavam vir ter comigo para praticar, depois de descobrirem que eu sabia alemão.
Em todo o caso, ele contou‐me uma longa história. «Eu não sou como XXXXX. Ele é novo e temperamental. Eu não uso métodos desumanos; tenho os meus próprios métodos. Quero dizer‐te algo sobre a história americana, e sobre toda a guerra contra o terrorismo.»
XXXXX era franco e esclarecedor. Começou com a história americana e com os puritanos, que puniam até os inocentes afogando-os, e acabou com a guerra contra o terrorismo.
«Não há presos inocentes nesta campanha: ou cooperas connosco, e eu consigo‐te a melhor saída, ou vamos enviar‐te para Cuba.»
«O quê? Cuba?», exclamei. «Eu nem sequer falo espanhol, e vocês odeiam Cuba.»
«Sim, mas temos um território americano em Guantánamo», disse ele, e falou‐me sobre Teddy Roosevelt e coisas assim. Eu sabia que iria ser enviado para ainda mais longe de casa, o que odiava.
«Porque haveriam de me enviar para Cuba?»
«Temos outras opções, como o Egito e a Argélia, mas só enviamos para lá as pessoas muito más. Detesto enviar pessoas para lá, pois passarão por torturas dolorosas.»
«Enviem‐me apenas para o Egito.»
«Sem dúvida, não queres isso. Em Cuba eles tratam os detidos de forma humana, e eles têm dois imãs. O campo é gerido pelo DOJ, não pelo Exército.»
«Mas eu não fiz nada contra o vosso país.»
«Se não tiveres feito, lamento. Pensa nisto como se tivesses cancro!»
«Vou ser julgado em tribunal?»
«Não num futuro próximo. Talvez daqui a três anos ou assim, quando a minha gente se esquecer do 11 de Setembro.» XXXXX falou‐me depois da sua vida pessoal, mas não quero escrever isso aqui.

Tive mais algumas sessões com XXXXX a seguir a essa. Fez-me algumas perguntas e tentou enganar‐me, dizendo coisas como «Ele diz que te conhece!», relativamente a pessoas de quem nunca ouvi falar. Levou os meus endereços de e‐mail e as minhas palavras‐passe. Também perguntou a XXXXX quem tinha estado presente em Bagram para me interrogar, mas eles recusaram, dizendo que a lei XXXXX proíbe a interrogação de estrangeiros fora do país. Passou o tempo todo a tentar convencer‐me a cooperar para me poupar a viagem até Cuba. Para ser franco, eu preferia ir para Cuba do que ficar em Bagram.
«Assim seja», disse‐lhe eu. «Não creio que possa mudar nada.» De certo modo, gostava de XXXXX. Não me interpretem mal, ele era um interrogador ardiloso, mas ao menos falava comigo de acordo com o meu nível de intelecto. Pedi a XXXXX que me pusesse dentro da cela com o resto da população, e mostrei‐lhe as lesões com que cara devido ao arame farpado. XXXXX aprovou: em Bagram, os interrogadores podiam fazer o que quisessem connosco; eles tinham controlo geral, e os polícias militares estavam às suas ordens. Por vezes, XXXXX dava‐me uma bebida, o que eu apreciava, especialmente com o tipo de alimentação que recebia, com MRE frias e pão seco em todas as refeições. Em segredo, eu passava as minhas refeições a outros reclusos.
Uma noite, XXXXX apresentou‐me a dois interrogadores militares que me fizeram perguntas sobre o Plano do Milénio. Falavam um árabe de ciente e eram muito hostis para comigo; não me deixaram sentar e ameaçaram‐me com todo o tipo de coisas. Mas XXXXX odiava‐os e disse‐me em XXXXX: «Se quiseres cooperar, fá‐lo comigo. Estes tipos dos serviços secretos militares não valem nada.» Senti‐me a ser leiloado à agência que oferecesse mais por mim!
Na área comum, quebrávamos sempre as regras e falávamos com os nossos vizinhos. Eu tinha três vizinhos diretos. Um era um adolescente afegão que tinha sido raptado enquanto se encaminhava para os Emirados; ele costumava trabalhar lá, motivo pelo qual falava árabe com um sotaque do Golfo. Era muito engraçado, e fazia‐me rir; ao longo dos últimos nove meses, quase me tinha esquecido de como rir. Ele estava a passar férias com a sua família no Afeganistão e foi ao Irão; daí dirigiu‐se para os Emirados num barco, mas este foi desviado pelos EUA, e os passageiros foram presos.
O meu segundo vizinho era um tipo mauritano de 23 anos que nasceu na Nigéria e se mudou para a Arábia Saudita. Nunca tinha estado na Mauritânia, nem falava o dialeto mauritano; se ele não se tivesse apresentado, diria que ele era saudita.
O meu terceiro vizinho era um palestiniano da Jordânia chamado XXXXX. Foi capturado e torturado por um líder tribal afegão durante cerca de sete meses. O seu raptor queria dinheiro da família de XXXXX, caso contrário entregá‐lo‐ia aos americanos, embora esta última opção fosse a menos promissora, pois os EUA estavam a pagar apenas 5000 dólares por cabeça, a menos que fosse uma grande cabeça. O bandido tratou de tudo com a família de XXXXX quanto ao resgate, mas XXXXX conseguiu fugir do cativeiro em Cabul. Conseguiu chegar a Jalalabad, onde facilmente destoou como árabe mujahid e foi capturado e vendido aos americanos. Eu disse a XXXXX que tinha estado na Jordânia e pareceu bem informado sobre os seus serviços secretos. Ele conhecia todos os interrogadores que tinham lidado comigo, já que o próprio XXXXX tinha passado 50 dias na mesma prisão em que eu estivera. Quando falávamos, tapávamos as nossas cabeças para que os guardas pensassem que estávamos a dormir, e falávamos até ficarmos cansados. Os meus vizinhos disseram-me que estávamos em Bagram, no Afeganistão, e eu informei‐os de que seríamos transferidos para Cuba. Mas eles não acreditaram em mim.
Por volta das 10 da manhã, em XXXXX de agosto de 2002, uma unidade militar, alguns deles armados com armas, apareceu vinda do nada. De cima, os polícias militares armados apontavam‐nos as armas, e os outros gritavam ao mesmo tempo: «D’pé, d’pé…» Fiquei muito assustado. Embora eu esperasse ser transferido para Cuba algures nesse dia, nunca tinha visto este tipo de espetáculo.
Levantámo‐nos. Os guardas não paravam de nos dar ordens. «Nada de falar… Não te mexas… Eu mato‐te, caralho… Estou a falar a sério!» Detestei quando XXXXX, da Palestina, pediu para ir à casa de banho e os guardas recusaram. «Não te mexas.» Eu pensei: Será que não consegues aguentar até que a situação acabe? Mas o problema com XXXXX era que ele tinha disenteria e não conseguia aguentar; XXXXX tinha sido sujeito a tortura e a malnutrição em Cabul durante a sua detenção por parte do líder tribal da Aliança do Norte. XXXXX disse‐me que teria de ir à casa de banho fosse como fosse, coisa que fez, ignorando os guardas que gritavam. Esperei a todo o instante que uma bala saísse disparada na sua direção, mas isso não aconteceu. A casa de banho dentro das nossas celas partilhadas também era um barril aberto, que os detidos sob castigo limpavam todos os dias em todas as celas. Era muito nojento e cheirava muito mal. Vindo eu de um país do Terceiro Mundo, vi muitas casas de banho sujas, mas nenhuma delas podia rivalizar com as de Bagram.

Comecei a tremer de medo. Um dos PM aproximou‐se do portão da nossa cela e começou a chamar os nomes, ou melhor, os números dos que iam ser transferidos. Todos os números chamados na minha cela eram árabes, o que era um mau sinal. Os irmãos não acreditaram em mim quando lhes disse que iríamos ser transferidos para Cuba. Mas agora sentia‐me confirmado, e olhámos uns para os outros sorrindo. Vários guardas vieram até ao portão com um monte de correntes, sacos e outros materiais. Começaram a chamar‐nos um a um, pedindo a cada recluso que se aproximasse do portão, onde fomos acorrentados.
«XXXXX», gritou um dos guardas. Avancei para o portão como uma ovelha a ser conduzida ao matadouro. No portão, um guarda gritou «Vira‐te!», coisa que fiz, e «Ambas as mãos atrás das costas!»
Quando deslizei a mão pelo buraco atrás das minhas costas, um dos guardas agarrou‐me o polegar e dobrou‐me o pulso. «Se te mexeres, parto‐te a mão, caralho.» Outro guarda acorrentou‐me as mãos e os pés com duas correntes separadas. Depois foi‐me posto um saco na cabeça para me vendar. O portão estava aberto, e eu fui empurrado e atirado à bruta para trás doutro detido, numa fila. Embora estivesse a sofrer fisicamente, senti algum consolo ao sentir o calor doutro ser humano à minha frente, a sofrer o mesmo. O consolo aumentou quando XXXXX foi atirado para trás de mim. Muito detidos não compreendiam ao certo o que os guardas queriam deles, e portanto sofriam mais. Senti‐me com sorte por estar vendado: primeiro, porque me escapavam várias coisas que estavam a acontecer à minha volta; segundo, porque a venda me ajudava no meu anseio de circunstâncias melhores. Graças aALLAH, tenho a possibilidade de ignorar o meio envolvente e sonhar com tudo o que queira.
Tínhamos de ficar muito próximos uns dos outros. A respiração era muito difícil. Éramos 34 detidos, todos eles árabes, à exceção de um afegão e de um das Maldivas. Quando fomos postos em fila, ataram-nos com uma corda à volta da parte de cima dos braços. A corda estava tão apertada que a circulação parou, entorpecendo‐me todo o braço.
Foi‐nos ordenado que nos levantássemos e fomos levados para um sítio onde o «processamento» continuou. Detestei isso, porque XXXXX estava sempre a pisar‐me a corrente, o que me magoava muito. Tentei o mais que pude não pisar a corrente do homem à minha frente. Graças a Deus que a viagem foi curta: algures no mesmo edifício, deram‐nos ordens para que nos sentássemos uns ao lado dos outros em bancos compridos. Fiquei com a sensação de que os bancos formavam um círculo.
A festa começou com vestir os passageiros. Recebi uns auscultadores que me impediam de ouvir. Deram‐me uma enorme dor de cabeça; estavam tão apertados que tive a parte de cima das orelhas a sangrar durante alguns dias. As minhas mãos estavam agora presas à minha cintura, à frente, e ligadas com uma corrente até aos pés. Ligaram‐me os pulsos com uma peça de plástico de 15 centímetros e fizeram‐me mitenes grossas. Foi engraçado, tentei encontrar um modo de libertar os meus dedos, mas os guardas bateram‐me nas mãos para parar de as mexer. Ficámos cansados; houve quem começasse a gemer. De vez em quando, um dos guardas tirava‐me um dos meus tampões dos ouvidos e sussurrava uma frase desencorajadora:
«Sabes, tu não cometeste erro algum: a tua mãe e o teu pai é que cometeram o erro quando te produziram.»
«Vais gostar do passeio até ao paraíso nas Caraíbas […].» Eu não respondia a quaisquer provocações, fingindo não compreender o que ele dizia.
Outros detidos contaram‐me ter passado por estas humilhações, mas eles tinham mais sorte; não compreendiam inglês.
Tiraram‐me os chinelos e deram‐me umas sapatilhas made in China. Por cima dos olhos, puseram‐me uns óculos grossos, muito feios, para me vendar, que estavam atados à volta da minha cabeça e por cima das minhas orelhas. Eram parecidos com óculos de natação. Para ter uma ideia da dor, ponha uns óculos desses à volta da sua mão, ate-oos com força e deixe-os assim durante duas horas; estou certo de que os vai tirar. Agora imagine que tem esses mesmos óculos à volta da sua cabeça durante mais de 40 horas. Para completar a vestimenta, puseram‐me um adesivo atrás da orelha.
Fiquei indisposto, cansado, frustrado, esfomeado, nauseado e todos os outros maus adjetivos do dicionário. Estou certo de que não fui o único. Recebemos novas pulseiras de plástico com um número. O meu número acabou por ser o 760 e o seguinte XXXXX. Podia dizer‐se que o meu grupo estava na série 700.
XXXXX foi à casa de banho um par de vezes, mas eu tentei não ir. Por fim, tive de ir à tarde, talvez por volta das duas.
«Gostas de música?», perguntou‐me o guarda que me acompanhou até lá, quando ficámos sozinhos.
«Gosto sim!»
«De que género?»
«Música boa!»
«Rock? Música country?» Eu não estava familiarizado com os géneros que ele referiu. De vez em quando, ouvia rádios alemãs com vários tipos de música ocidental, mas não saberia distingui‐los.
«Qualquer música boa», respondi. A conversa simpática compensou, na medida em que ele me tirou a venda para eu poder tratar dos meus assuntos. Era bastante difícil, porque eu tinha correntes a toda a volta do corpo. O guarda voltou a colocar‐me cuidadosamente de volta no banco, e durante as duas horas que se seguiram a ordem foi a de esperar. Fomos privados do direito de realizar as nossas preces diárias durante as 48 horas que se seguiram.
Por volta das 4 da tarde, começou o transporte para o aeroporto. Por esta altura, eu era um «morto‐vivo». As minhas pernas já não eram capazes de me transportar; daí em diante, os guardas tiveram de me arrastar, de Bagram até GTMO.
Fomos carregados para uma carrinha que nos levou ao aeroporto. Demorámos cinco a dez minutos a chegar lá. Eu ficava contente com cada mudança, só por ter a oportunidade de mudar de posição, pois as minhas costas estavam a dar cabo de mim. Estávamos apinhados na carrinha, ombros a roçar em ombros e coxas a roçar em coxas. Infelizmente, fui posicionado de frente para a parte de trás do veículo, coisa de que não gosto nada, porque me provoca enjoos. O veículo estava equipado com bancos rijos, pelo que os presos se sentavam costas com costas, e os guardas se sentavam nas pontas, a gritar: «Nada de falar!» Não faço ideia de quantas pessoas estavam na carinha; tudo o que sei é que tinha um recluso sentado à minha esquerda e um sentado à minha direita, e outro contra as minhas costas. É sempre bom sentir o calor dos nossos codetidos; é consolador, de certa forma.
A chegada ao aeroporto foi óbvia, devido ao zunido dos motores, que passava através dos tampões. A carrinha fez marcha atrás até que tocou no avião. Os guardas começaram a gritar algo numa língua que não consegui distinguir. Comecei a ouvir corpos humanos a atingirem o chão. Dois guardas agarraram num preso e atiraram‐no para dois outros guardas no avião, gritando «código»; os guardas recetores gritavam de volta a confirmação de receção da encomenda. Quando chegou a minha vez, dois guardas agarraram‐me pelas mãos e pelos pés e atiraram‐me na direção da equipa de receção. Não me lembro se caí no chão ou se fui apanhado pelos outros guardas.
Eu tinha começado a perder a sensibilidade e, de qualquer modo, não teria feito diferença.
Outra equipa no interior do avião arrastou‐me e prendeu‐me a um assento pequeno e direito. O cinto estava tão apertado que eu não conseguia respirar. O ar condicionado acertava‐me, e um dos PM gritava «Não te mexas, não fales», enquanto me aferrolhava os pés ao chão. Eu não sabia como dizer «apertado» em inglês. Chamei: «PM, PM, cinto…». Ninguém veio ajudar‐me. Quase sufoquei. Tinha uma máscara por cima da boca e do nariz, além do saco que me tapava a cabeça e a cara, já para não falar do cinto apertado à volta da barriga: respirar era quase impossível. Eu não parava de dizer: «PM, senhor, não consigo respirar!… PM, senhor, por favor.» Mas parecia que os meus pedidos de ajuda se perdiam num vasto deserto.
Ao fim de alguns minutos, XXXXX foi largado ao meu lado, à direita. Não tive a certeza se era ele, mas mais tarde ele disse-me ter sentido a minha presença ao seu lado. De vez em quando, se um dos guardas me ajustava os óculos, eu via um pouco. Vi o cockpit, que estava à minha frente. Vi os uniformes de camuflado verde dos guardas que nos escoltavam. Vi os fantasmas dos meus colegas reclusos à minha esquerda e à minha direita. «Senhor, por favor, o meu cinto… dor…», disse eu. Quando os guardas que gritaram se afastaram, percebi que todos os detidos estavam a bordo. «Senhor, por favor… cinto…» Um guarda reagiu, mas não só não me ajudou, como também apertou ainda mais o cinto à volta da minha barriga.
Agora eu não conseguia suportar a dor; senti que ia morrer. Não consegui evitar chamar por ajuda mais alto. «Senhor, não consigo respirar…» Um dos soldados veio e alargou‐me o cinto, não muito confortavelmente, mas melhor do que nada.
«Ainda está apertado…» Eu aprendera a palavra quando ele me perguntara: «Está apertado?»
«É tudo a que tens direito.» Desisti de pedir alívio relativamente ao cinto.

«Não consigo respirar!», disse eu, gesticulando para o nariz. Um guarda apareceu e tirou‐me a máscara do nariz. Respirei fundo e senti‐me mesmo muito aliviado. Mas, para meu desapontamento, o guarda voltou a pôr‐me novamente a máscara sobre no nariz e a boca. «Senhor, não consigo respirar… PM… PM.» O mesmo tipo apareceu uma vez mais, mas, em vez de me tirar a máscara do nariz, tirou‐me o tampão do ouvido e disse «Esquece!», e voltou logo a pôr o tampão de volta. Era duro, mas era a única forma de não sufocar. Eu estava em pânico. Mal tinha ar suficiente, mas o único modo de sobreviver era convencer o cérebro a sentir‐se satisfeito com a quantidade mínima de oxigénio que recebia.
O avião estava no ar. Um guarda gritou‐me ao ouvido: «Vou dar‐te medicação, tu enjoas.» Ele fez‐me tomar vários comprimidos e deu-me uma maçã e uma sanduíche de manteiga de amendoim, a nossa única refeição desde que o procedimento de transferência tinha começado. Desde então que detesto manteiga de amendoim. Eu não tinha apetite por nada, mas fingi que estava a comer a sanduíche para que os guardas não me fizessem mal. Tentava sempre evitar contacto com esses guardas violentos, a menos que fosse extremamente necessário. Dei uma dentada na sanduíche e guardei o resto na mão até que os guardas recolheram o lixo. Quanto à maçã, comê‐la era complicado, pois as minhas mãos estavam presas à cintura e eu tinha mitenes nas mãos. Apertei a maçã entre as mãos e dobrei a cabeça até à cintura, como um acrobata, para a morder. Uma escorregadela e a maçã vai à vida. Tentei dormir, mas, cansado como estava, todas as tentativas de fazer uma sesta acabavam em fracasso. O assento era direito como uma régua e duro como pedra.
Depois de cerca de cinco horas, o avião aterrou e os nossos fantasmas foram transferidos para outro avião, talvez maior. Era estável no ar. Eu ficava contente com todas as mudanças, esperando que melhorasse a minha situação. Porém, estava enganado, o novo avião não era melhor. Eu sabia que Cuba era bastante longe, mas nunca pensei que fosse tão longe, tendo em conta os aviões de alta velocidade dos EUA. A certa altura, pensei que o governo quisesse rebentar o avião sobre o Atlântico e declará‐lo um acidente, pois todos os detidos haviam sido interrogados vezes e vezes sucessivas. Ainda assim este avião maluco era a menor das minhas preocupações; estaria eu realmente preocupado com um pouco de dor antes da morte, após a qual eu esperançadamente entraria no Paraíso, com a misericórdia de Deus? Viver com a misericórdia de Deus seria melhor do que viver com a misericórdia dos EUA.
O avião parecia dirigir‐se para um reino muito, muito longínquo. Sentindo‐se diminuído a cada minuto que passava, o meu corpo entorpeceu. Lembro‐me de pedir para ir à casa de banho uma vez. Os guardas arrastaram‐me até ao local, empurraram‐me para dentro de uma sala pequena e puxaram‐me as calças para baixo. Eu não conseguia fazer o que tinha a fazer pela presença de outras pessoas. Mas penso que consegui com bastante esforço espremer um pouco de água. Eu só queria chegar, não importava onde! Qualquer sítio seria melhor do que este avião.
Depois de não sei quantas horas, o avião aterrou em Cuba. Os guardas começaram a puxar‐nos para fora do avião. «Anda!… Para!» Eu não conseguia andar, pois os meus pés não eram capazes de me suportar. E agora eu reparava que, em dado ponto, havia perdido um dos meus sapatos. Depois de uma revista rigorosa fora do avião, os guardas gritaram: «Anda! Não fales! Cabeça baixa! Degrau!» Só compreendia «Não fales», mas, de qualquer modo, os guardas arrastavam‐me. Dentro da carrinha, os guardas gritaram: «Senta‐te! Cruza as pernas!» Não compreendi essa última parte; em todo o caso, eles cruzaram‐me as pernas. «Cabeça baixa!», gritou um deles, empurrando‐me a cabeça contra o traseiro de um outro detido, como uma galinha. Uma voz feminina gritou «Nada de falar» durante todo o percurso até ao campo, e uma voz masculina, «Não falem», e um tradutor de árabe, XXXXX, «Cabeça baixa». Irritei‐me incrivelmente com a forma de falar americana; e mantive‐me assim durante muito tempo, até que fui curado depois de ter conhecido outros bons americanos. Ao mesmo tempo, pus‐me a pensar no motivo por que davam a mesma ordem de duas formas diferentes: «Não falem» e «Nada de falar». Interessante.
Nesta altura, as correntes nos meus tornozelos estavam a cortar-me a circulação nos pés. Ficaram dormentes. Eu só ouvia os gemidos e o choro dos outros detidos. Não fui poupado: o guarda não parava de me bater na cabeça e de me apertar o pescoço contra o traseiro do outro detido. Mas não o censuro tanto como ao outro pobre e dorido prisioneiro, que estava a chorar e não parava de se mexer, e portanto não parava de me levantar a cabeça. Os outros detidos disseram‐me que fizemos um percurso de ferry ao longo da viagem, mas não reparei.

Ao fim de cerca de uma hora, chegámos finalmente à terra prometida. Apesar de todas as minhas dores, quei muito contente por a viagem ter chegado ao fim. Um provérbio do Profeta diz: «Viajar é passar por torturas.» Esta viagem tinha sido sem dúvida uma tortura. Agora estava apenas preocupado em saber como me levantaria, se eles mo pedissem. Eu estava simplesmente paralisado. Dois guardas agarraram-me e gritaram: «Levanta‐te.» Tentei saltar, mas nada aconteceu; então, arrastaram‐me e atiraram‐me para fora da carrinha.
O sol quente de Cuba atingiu‐me agradavelmente. Era uma sensação tão boa. A viagem tinha começado XXXXX 10 da manhã, e chegámos a Cuba por volta da meia‐noite ou da 1 da manhã XXXXX, o que signifiava que tínhamos passado mais de 30 horas num avião gelado.
«Quando eles atearam o lume, disse para mim mesmo: Pronto, agora começam a tortura!», disse‐nos ele. Ri‐me quando ele contou a sua história no XXXXX, na manhã seguinte.
Dava para perceber que eles tinham trocado a equipa de guardas por uma melhor. A equipa antiga costumava dizer «ág’a», a equipa nova dizia «água». A equipa antiga costumava dizer «d’pé», a equipa nova dizia «de pé». A equipa antiga era simplesmente demasiado ruidosa.
Também me apercebi de que todos os detidos tinham chegado ao limite da sua dor. A única coisa que ouvia eram gemidos. Ao meu lado estava um afegão que chorava muito alto e pedia ajuda XXXXX. Falava em árabe: «Senhor, como é que me pôde fazer isto? Por favor, aliviem a minha dor, cavalheiros!» Mas ninguém se deu sequer ao trabalho de ir vê‐lo. O homem estava doente, em Bagram. Vi‐o na cela ao lado da nossa; passava o tempo a vomitar. Sentia‐me muito mal por ele. Ao mesmo tempo, ri‐me.
Dá para acreditar? Estupidamente, ri‐me! Não dele; ri‐me da situação. Primeiro, ele dirigiu‐se‐lhes em árabe, que nenhum guarda compreendia. Segundo, chamou‐os «cavalheiros», coisa que eles certamente não eram.
Ao princípio gostei do banho de sol, mas o sol tornava‐se mais quente a cada minuto que passava. Comecei a transpirar e fiquei muito cansado da posição de genuflexão em que tive de permanecer durante cerca de seis horas. De vez em quando, um guarda gritava: «Preciso água!» Não me lembro de ter pedido água, mas é provável que o tenha feito. Eu ainda estava com a venda, mas o meu entusiasmo por estar numa nova instalação prisional com outros seres humanos com quem pudesse socializar, num sítio onde não haveria torturas ou sequer interrogatórios, abafou‐me a dor; isso e o facto de eu não saber quanto tempo duraria a detenção. Como tal, não abri a boca com quaisquer queixas ou gemidos, enquanto muitos irmãos à minha volta gemiam e até chorava. Penso que o limite da minha dor já havia sido alcançado muito tempo antes.
Fui mesmo o último a ser «processado»; as pessoas que tinham ficado feridas no voo provavelmente tiveram prioridade, tal como XXXXX. Por fim, dois guardas de escolta arrastaram‐me para a clínica. Despiram‐me todo e empurraram‐me para um chuveiro aberto. Tomei banho, com as correntes postas, à frente de todos: os meus irmãos, os médicos e os militares. Os outos irmãos que me antecederam ainda estavam totalmente nus. Foi feio, e, embora o duche fosse apaziguador, não consegui desfrutar dele. Senti vergonha e fiz o velho truque da avestruz: olhei para baixo, para os meus pés. Os guardas secaram‐me e levaram‐me para a sala seguinte. Basicamente, todos os detidos passavam por um exame clínico, onde tomavam nota da descrição biológica de toda a gente, altura, peso, cicatrizes, e passavam pelo primeiro interrogatório dentro da clínica. Era como uma linha de montagem de carros. Segui os passos do detido que me antecedeu, e ele seguiu os de alguém antes dele, e assim por diante.

«Tem algumas doenças que conheça?», perguntou o jovem enfermeiro.
«Sim, ciática e hipotensão.»
«Mais alguma coisa?»
«Não.»
«Onde é que o capturaram?»
«Não compreendo», respondi. O médico repetiu a pergunta, mas eu não conseguia compreender. Ele falava muito depressa. «Esquece!», disse o médico. Um dos guardas fez‐me gestos, pondo uma das mãos sobre a outra. Só então percebi a pergunta do médico.
«No meu país!»
«De onde és?»
«Mauritânia», respondi, enquanto os guardas me arrastavam para o passo seguinte. Os médicos não devem interrogar os detidos, mas fazem‐no na mesma. Da minha parte, gosto de conversar com toda a gente e não me importava minimamente que eles quebrassem as regras.
Estava fresco e apinhado dentro do hospital. Fui consolado pelo facto de ter visto detidos que estavam na mesma situação que eu, especialmente após eles nos terem embrulhado em uniformes cor de laranja. Havia interrogadores disfarçados entre os médicos para reunir informação.
«Falas russo?», perguntou‐me um civil velho, um destroço dos serviços secretos da Guerra Fria. Interrogou‐me umas duas vezes depois disso, e disse‐me que tinha trabalhado com XXXXX, um líder mujahid no Afeganistão durante a guerra com os soviéticos, que alegadamente costumava entregar detidos russos aos EUA. «Eu interroguei‐os. Agora são cidadãos dos EUA, e contam‐se entre os meus melhores amigos», disse‐me. Afirmou ser responsável por uma secção da Força Operacional de GTMO. Interrogadores como ele andavam traiçoeiramente por ali, a tentar conversa de forma inocente com os detidos. Todavia, os interrogadores têm dificuldades em misturarem-se com as outras pessoas. Eles são simplesmente muito desastrados.
O guarda que me escoltava levou‐me para uma sala com vários detidos e interrogadores atarefados.
«Como te chamas? De onde és? És casado?»
«Sim!»
«Como se chama a tua mulher?» Eu tinha‐me esquecido do nome da minha mulher e também do de vários membros da minha família, devido ao estado de depressão persistente em que me encontrava desde há nove meses. Como eu sabia que ninguém iria acreditar em tal coisa, disse «Zeinebou», apenas um nome que me ocorreu.
«Que línguas falas?»
«Árabe, francês, alemão.»
«Sprechen Sie Deutsch?», perguntou‐me o interrogador fardado que estava a ajudar XXXXX a digitar no computador portátil.
«Bist du XXXXX?», perguntei‐lhe. Ficou chocado quando referi o seu nome.
«Quem te falou de mim?»
«XXXXX, XXXXX de Bagram!», disse eu, explicando que em Bagram me falara de para o caso de eu precisar de um tradutor de alemão em GTMO.»
«Vamos manter a conversa em inglês, mas muito simples», disse ele. XXXXX evitou‐me durante o resto da sua permanência em GTMO.
Eu estava a ouvir o interrogatório de um colega recluso tunisino. «Treinaste no Afeganistão?»
«Não.»
«Sabes que, se mentires, vamos buscar essa informação à Tunísia.» «Não estou a mentir!»
O exame médico foi retomado. Um assistente hospitalar XXXXX tirou‐me mil e um tubos de sangue. Achei que ia desmaiar ou até morrer. Uma medição da tensão arterial indicou 110/50, o que é muito baixo. O médico pôs‐me imediatamente a tomar pequenos comprimidos vermelhos para aumentar a minha pressão san‐ guínea. Alguém fotografou o processo. Eu odiava o facto de a minha privacidade estar a ser desrespeitada de todas as maneiras. Estava inteiramente à mercê de alguém em que não confiava e que podia ser implacável. Muitos presos sorriam para a câmara. Pessoalmente, nunca sorri, e não creio que nesse dia, 5 de agosto de 2002, algum recluso o tenha feito.
Depois de um processamento infindável, a equipa de escola tirou-me da clínica. «Mantém a cabeça para baixo!» Já estava escuro lá fora, mas eu não sabia que horas eram. O tempo estava bom. «Senta-te.» Sentei‐me no exterior durante cerca de 30 minutos, antes de a equipa de escolta ter pegado em mim, me ter posto numa sala e me ter aferrolhado ao chão.
Não reparei no cadeado, nem nunca tinha sido sujeito a tal coisa antes. Pensei que esta divisão seria a minha futura casa.
A sala estava vazia, à exceção de duas cadeiras e uma secretária. Não havia qualquer sinal de vida. Onde estão os outros detidos?, perguntei a mim mesmo. Fiquei impaciente e decidi sair da sala e tentar encontrar os meus colegas reclusos, mas, assim que tentei levantar‐me, as correntes puxaram‐me para baixo com força. Só então compreendi que os meus pressupostos estavam errados. Afinal, eu estava numa cabine de interrogatório do XXXXX, um edifício com história.
De repente, três homens entraram na sala: o tipo mais velho, que tinha falado comigo anteriormente na clínica, um XXXXX e um XXXXX , que servia de intérprete.
«Comment vous vous appelez?», perguntou XXXXX com muito sotaque.
«Je m’appelle…», respondi, e esse foi o fim de XXXXX. Os interrogadores tendem sempre a usar o fator surpresa como técnica.
Entrevi o relógio de um dos tipos. Era quase 1 da manhã. Eu encontrava‐me num estado em que o meu sistema estava lixado; estava plenamente acordado apesar de mais de 48 horas sem dormir. Os interrogadores queriam usar essa fraqueza para facilitar o interrogatório. Nada me foi oferecido, tal como água ou comida.
XXXXX liderou o interrogatório, e XXXXX era um bom tradutor. O outro tipo não teve oportunidade de fazer perguntas, só tomou notas.
XXXXX não produziu propriamente um milagre: limitou‐se a fazer‐me algumas perguntas que já me haviam sido feitas ininterruptamente durante os três anos anteriores. XXXXX falava um inglês muito claro, e quase não precisei do tradutor. Parecia ser esperto e experiente. Quando ficou tarde, XXXXX agradeceu-me a cooperação.
«Creio que és muito franco», disse ele. «Da próxima vez desatamos‐te as mãos e trazemos‐te algo para comer. Não te vamos torturar, nem te extraditaremos para outro país.» Fiquei contente com as garantias de XXXXX, e encorajado na minha cooperação. Afinal, porém, ou XXXXX me estava a enganar, ou desconhecia os planos do governo.
Os três homens saíram da sala e enviaram‐me a equipa de escolta que me conduziu até à minha cela. Ficava na Ala XXXXX, uma ala destinada ao isolamento. Eu era o único recluso que tinha sido escolhido para interrogatório de todo o nosso grupo de 34 detidos. Não havia sinal de vida dentro da ala, o que me fez pensar que eu era o único ali. Quando o guarda me largou naquela caixa gelada, quase entrei em pânico atrás da pesada porta de metal. Tentei convencer-me a mim próprio: É apenas um sítio temporário, de manhã eles vão transferir‐me para a zona comum. Este sítio não pode ser para mais do que o resto da noite. Na verdade, passei um mês inteiro na XXXXX. Foi por volta das 2 da manhã quando um guarda me deu uma MRE. Tentei comer o que pude, mas não tinha apetite. Quando examinei as minhas coisas, vi um Corão novo em folha, o que me deixou feliz. Beijei‐o e adormeci pouco depois. Dormi mais profundamente do que alguma vez dormira.
Os gritos dos meus colegas detidos acordaram‐me de manhã cedo. A vida tinha subitamente estourado XXXXX. Quando tinha chegado naquela madrugada, nunca pensei que fosse possível armazenar seres humanos num monte de caixas frias; pensei que fosse o único, mas estava enganado: os meus colegas reclusos estavam simplesmente arrasados devido à viagem muito castigadora por que tinham passado. Embora os guardas estivessem a servir a comida, nós apresentámo‐nos mutuamente. Não nos podíamos ver, devido ao formado da ala, mas conseguíamos ouvir‐nos uns aos outros.

«Salam Alaikum!»
«Waalaikum Salam.»
«Quem és tu?»
«Venho da Mauritânia… Palestina… Síria… Arábia Saudita!»
«Como foi a viagem?»
«Quase morri de frio», gritou um tipo.
«Dormi a viagem toda», respondeu XXXXX.
«Porque é que puseram o adesivo debaixo da minha orelha?», disse um terceiro.
«Quem ia à minha frente na carrinha?», perguntei. «Ele não parava de se mexer, o que fez com que os guardas não parassem de me bater durante todo o caminho do aeroporto até ao campo.»
«Também eu», respondeu outro preso.
Chamávamo‐nos uns aos outros com os números ISN que nos tinham sido atribuídos em Bagram. O meu era o XXXXX. Na cela à minha esquerda, estava XXXXX, vindo de XXXXX. Ele aproximadamente XXXXX. Embora seja mauritano, nunca esteve no país; pude perceber devido ao seu sotaque XXXXX. Falava mal o árabe e afirmava ter sido capturado em Karachi, onde frequenta a universidade. À frente da minha cela puseram os sudaneses, um ao lado do outro.
O pequeno‐almoço foi modesto: um ovo cozido, um bocado de pão duro e outra coisa cujo nome desconheço. Foi a minha primeira refeição quente deste que saíra da Jordânia. Oh!, o chá foi aconchegante! Gosto mais de chá do que de qualquer comida, e bebo‐o desde que me lembro de existir. O chá é uma parte crucial da alimentação dos povos de regiões mais quentes; parece contraditório, mas é verdade.
As pessoas gritavam por todo o lado, em conversas indistintas. Foi uma boa sensação, quando todos começaram a contar a sua história. Muitos detidos sofriam, uns mais, uns menos. Eu não me considerava o pior, nem o mais sortudo. Algumas pessoas tinham sido capturadas com amigos, e os seus amigos haviam desaparecido; provavelmente tinham sido enviados para outros países aliados para facilitar o seu interrogatório sob tortura, tal como XXXXX. Considerei a chegada a Cuba uma bênção, e portanto disse aos irmãos: «Como vocês não estão envolvidos em crimes, nada têm a temer. Pessoalmente, vou cooperar, porque ninguém me vai torturar. Não quero que nenhum de vós sofra o que eu sofri na Jordânia. Na Jordânia eles quase não valorizavam a cooperação.»
Eu acreditava equivocadamente que o pior tinha passado, e como tal importava‐me menos o tempo que os americanos levariam a perceber que eu não era o tipo que eles procuravam. Confiei demasiado no sistema de justiça americano, e partilhava essa confiança com os reclusos de países europeus. Todos tínhamos uma ideia de como funciona o sistema democrático. Outros detidos, os do Médio Oriente, por exemplo, não acreditaram nisso nem por um segundo e confiaram no sistema americano. O argumento deles baseava‐se na crescente hostilidade dos americanos contra os muçulmanos e os árabes. A cada dia que passava, os otimistas perdiam terreno.
Todos nós queríamos acordar de meses de silêncio forçado, queríamos desabafar toda a raiva e todo o sofrimento, e ouvimos as histórias incríveis uns dos outros durante os 30 dias que se seguiram, que foi o nosso tempo de permanência na Ala XXXXX. Quando, mais tarde, fomos transferidos para uma ala diferente, mui‐ tos colegas reclusos choraram por serem separados dos seus novos amigos. Eu chorei também.
A equipa de escolta XXXXX apareceu na minha cela.
«XXXXX!», disse um dos PM, segurando a corrente comprimida nas mãos. XXXXX é a palavra de código para se ser levado para interrogatório. Embora não compreendesse para onde estava a ser levado, segui prudentemente as suas ordens até me entregarem a um interrogador. O seu nome era XXXXX, e envergava um uniforme do Exército norte‐americano. É um XXXXX, um homem com todos os paradoxos que possa imaginar. Falava árabe decentemente, com um sotaque XXXXX; percebia‐se que tinha crescido entre amigos XXXXX.
Estava aterrorizado ao entrar na sala do edifício em XXXXX devido ao CamelBak que XXXXX trazia às costas, e do qual ia bebendo. Nunca antes tinha visto uma coisa como aquela. Pensei que fosse uma espécie de ferramenta para me prender como parte do interrogatório. Realmente, não sei porque estava assustado, mas o facto de nunca ter visto XXXXX e a sua CamelBak, nem estar à espera de um tipo do Exército, contribuiu para o meu medo.
O cavalheiro mais velho que me interrogara na noite anterior entrou na sala com alguns doces e apresentou‐me XXXXX: «Escolhi XXXXX, porque fala a tua língua. Vamos fazer-te perguntas detalhadas acerca de ti XXXXX. Quanto a mim, ir‐me‐ei embora em breve, mas o meu substituto vai cuidar de ti. Até logo.» Saiu da sala, deixando‐me e a XXXXX para que pudéssemos trabalhar.
XXXXX era um tipo simpático. Era um XXXXX no Exército dos EUA que acreditava ter sorte na vida. XXXXX queria que eu lhe repetisse a minha história toda, a mesma que eu já repetia há pelo menos três anos, uma e outra vez. Já me tinha habituado a que os interrogadores me perguntassem sempre as mesmas coisas. Antes mesmo de o interrogador mexer os lábios, eu já sabia quais seriam as suas perguntas e, mal ele ou ela começavam a falar, eu ligava a minha «cassete». Mas, quando cheguei à parte sobre a Jordânia, XXXXX teve muita pena de mim!

«Esses países não respeitam os direitos humanos. Até torturam pessoas», disse ele. Senti‐me reconfortado: se XXXXX criticava os métodos de interrogação cruéis, isso signi cava que os americanos não fariam nada do género. Sim, não estavam propriamente a cumprir a lei em Bagram, mas isso era no Afeganistão, e agora estávamos em território controlado pelos EUA.
Depois de XXXXX ter concluído o seu interrogatório, mandou‐me de volta e prometeu regressar caso se levantassem novas questões. Durante a sessão com XXXXX, pedi‐lhe para usar a casa de banho. «Número 1 ou número 2?», perguntou. Era a primeira vez que ouvia falar das necessidades humanas em código numérico. Nos países onde estive, não é hábito perguntarem às pessoas o que vão fazer à casa de banho, nem usar um código.
Nunca mais voltei a ver XXXXX num interrogatório. O XXXXX retomou o seu trabalho uns dias mais tarde, só que XXXXX estava agora acompanhado por XXXXX, XXXXX. XXXXX também era um tipo simpático. Ele e XXXXX trabalhavam muito bem em conjunto. Por uma razão qualquer, XXXXX estava interessado em encarregar‐se pessoalmente do meu caso. Embora um interrogador militar tivesse acompanhado, por vezes, a equipa e tivesse colocado algumas questões poderia dizer‐se que XXXXX levava a melhor.
A equipa trabalhou no meu caso ao longo de mais de um mês, quase todos os dias. Faziam‐me todo o tipo de perguntas, e falávamos sobre outros temas políticos além do interrogatório. Nunca ninguém me ameaçou nem me tentou torturar, e, pela minha parte, estava a cooperar muito bem. «A nossa missão é pegar nas tuas afirmações e enviá‐las para os analistas em D.C. Mesmo que nos mintas, não o conseguiríamos perceber até que nos chegassem novas informações»,disse XXXXX.
A equipa conseguia ver muito bem o quão doente eu estava; as marcas da Jordânia e de Bagram eram mais do que óbvias. Eu parecia um fantasma.
«Estás a melhorar», disse o tipo do Exército quando me viu, três semanas após a minha chegada a GTMO. No meu segundo ou terceiro dia em GTMO, perdera os sentidos na minha cela. Fui levado até aos meus limites; as refeições já prontas não me atraíam. Os médicos tiraram‐me da minha cela e tentei caminhar até ao hospital, mas, assim que deixei XXXXX, perdi novamente os sentidos, o que fez com que os médicos me carregassem até à clínica. Vomitei tanto, que fiquei completamente desidratado. Recebi os primeiros socorros e puseram‐me a soro. O soro era horrível; devem ter utilizado alguma medicação a que sou alérgico. A minha boca secou completamente, e a minha língua ficou tão pesada que nem conseguia pedir ajuda. Gesticulei com as mãos, pedindo aos militares que parassem o líquido que me entrava no corpo, o que fizeram.
Mais tarde, nesse dia, os guardas levaram‐me de volta à minha cela. Estava tão doente que não consegui sequer subir para a minha cama; dormi no chão durante o resto do mês. O médico receitou‐me Ensure e alguns medicamentos para a hipertensão, e, sempre que tinha uma crise no nervo ciático, os militares davam‐me Motrin.
Embora estivesse fisicamente muito fraco, o interrogatório não parou. Ainda assim, eu estava de bom humor. Na Ala cantávamos, gracejávamos e recontávamos histórias uns aos outros. Também tive a oportunidade de ficar a saber da existência de alguns detidos famosos, como sua excelência XXXXX presenteava‐nos as últimas notícias e rumores do campo. XXXXX tinha sido transferido para a nossa Ala devido ao seu «comportamento».
XXXXX disse‐nos como tinha sido torturado em Kandahar, juntamente com outros detidos. «Deixaram‐nos ao sol durante muito tempo, fomos espancados; mas, irmãos, não se preocupem, aqui em Cuba não há tortura. As salas são climatizadas e alguns irmãos até se recusam a falar, a menos que seja lhes seja oferecida comida», disse ele. «Eu chorava quando via na televisão os detidos, de olhos vendados, a serem levados para Cuba. O secretário de Defesa norte‐americano falou na televisão e afirmou que estes detidos eram as pessoas mais malvadas à face da Terra. Nunca pensei que viria a ser uma dessas “pessoas malvadas”», disse XXXXX.
XXXXX tinha estado a trabalhar como um XXXXX. Foi capturado com mais quatro colegas no seu domicílio em XXXXX depois da meia‐noite, debaixo dos gritos dos filhos; foi privado dos seus filhos e da sua mulher. Acontecera exatamente a mesma coisa aos seus amigos, que confirmaram a sua história. Ouvi muitas histórias semelhantes, e todas me faziam esquecer a anterior. Nem conseguiria dizer qual delas era a mais triste. Isso até começou a minar a minha própria história, mas os detidos eram unânimes em afirmar que a minha era a mais triste. Pessoalmente, não sei. O provérbio alemão diz o seguinte: «Wenn das Militar sich bewegt, bleibt die Wahrheit auf der Strecke.»
No dia 4 de setembro de 2002, fui transferido para XXXXX; assim os interrogadores acabaram com o isolamento e juntaram-me à população geral. Por um lado, era difícil para mim deixar os amigos que tinha acabado de fazer, e, por outro, estava entusiasmado por ir para uma Ala absolutamente normal e ser um detido absolutamente normal. Estava cansado de ser um detido «especial», correndo o mundo contra a minha vontade.
Cheguei a XXXXX antes do pôr do sol. Pela primeira vez em mais de nove meses, fui colocado numa cela onde conseguia ver a planície. E, pela primeira vez, podia falar com os meus companheiros de cárcere enquanto os via. Fui colocado em XXXXX entre dois sauditas do Sul. Eram ambos muito simpáticos e divertidos. Tinham ambos sido capturados em XXXXX. Quando os prisioneiros tentaram libertar‐se do Exército paquistanês, que estava a trabalhar em nome dos EUA, um deles, um argelino, agarrou a AK‐47 de um guarda XXXXX e disparou contra ele. Na confusão, os detidos XXXXX tomaram o controlo de XXXXX; os guardas fugiram, e os detidos também fugiram, mas apenas até XXXXX, onde se encontrava outra divisão dos EUA à sua espera, e foram novamente capturados. O acontecimento XXXXX provocou muitas baixas e ferimentos. Vi um detido argelino completamente incapacitado devido à quantidade de disparos que o tinham atingido.
A princípio diverti‐me no XXXXX, mas as coisas começaram a ficar feias quando alguns interrogadores começaram a usar métodos de tortura em alguns dos detidos, embora de forma tímida. Tanto quanto vi e ouvi, ao princípio o único método utilizado era o de deixar o detido numa sala gelada, durante toda a noite. Conheço um jovem saudita que era levado para interrogatório todas as noites e devolvido à sua cela de manhã. Não conheço os pormenores do que realmente lhe aconteceu, porque era muito calado, mas os meus vizinhos disseram‐me que ele se recusava a falar com os seus interrogadores; XXXXX também me disseram que fora deixado na sala gelada durante duas noites seguidas, porque se recusara a cooperar.
Por essa altura, a maior parte dos detidos recusava‐se a cooperar depois de sentirem que já tinham fornecido toda a informação relevante para os seus casos. As pessoas estavam desesperadas e começavam a ficar cansadas de serem interrogadas a toda a hora, sem esperança de chegarem ao fim. Eu pessoalmente ainda era relativamente novo e queria arriscar: talvez os meus companheiros de prisão estivessem errados! Mas acabei por embater contra a mesma parede que todos eles. Os detidos estavam a ficar cada vez mais preocupados com a sua situação e com a ausência do devido processamento legal, e as coisas começaram a piorar com a utilização de métodos dolorosos para extrair informações aos detidos.

Em meados de setembro de 2002, um XXXXX levou‐me para interrogatório e apresentou‐se como a equipa que me iria avaliar ao longo dos dois meses seguintes.
«Durante quanto tempo vou ser interrogado?»
«Enquanto o governo tiver perguntas para te fazer!»
«E quanto tempo é isso?»
«Só te posso dizer que não vais passar mais de cinco anos aqui», disse XXXXX. A equipa estava a comunicar comigo através de um intérprete de árabe que parecia XXXXX.
«Não estou pronto para que me façam as mesmas perguntas outra e outra vez!»
«Não, nós temos novas perguntas.» Mas, como acabou por se revelar, estavam a fazer exatamente as mesmas perguntas que me tinham sido feitas ao longo dos últimos três anos. Ainda assim, fui cooperando relutantemente. Para ser sincero, não via qualquer vantagem em cooperar, só queria saber até onde iriam as coisas.
Por volta da mesma altura, outro interrogador XXXXX levou‐me para interrogatório. Era XXXXX, tinha uma barbicha cuidada e falava com um sotaque XXXXX. Foi direto comigo e até partilhou comigo o que XXXXX sobre mim. XXXXX falava, falava e falava ainda mais: estava interessado em que eu trabalhasse para ele, algo que já tentara com outros árabes do Norte de África.
«Para a próxima quinta‐feira, já combinei um encontro com os XXXXX. Vais falar com eles?»
«Sim, vou.» Foi a primeira mentira que detetei, porque XXXXX me tinha dito: «Nenhum governo estrangeiro irá falar contigo aqui, só nós, os americanos!». De facto, ouvi falar de tantos detidos que se encontraram com interrogadores não‐americanos, como XXXXX estavam a ajudar os EUA a extraírem informações dos detidos XXXXX. Os interrogadores XXXXX e os XXXXX ameaçaram alguns dos seus entrevistados com tortura quando regressassem a casa. «Espero vê‐lo noutro lugar», disse o interrogador XXXXX a XXXXX.
«Se nos virmos no Turquestão, vais falar imenso!», disse o interrogador XXXXX a XXXXX.
Porém, eu não tinha medo de falar fosse com quem fosse. Não tinha cometido qualquer crime fosse com quem fosse. Eu até queria falar para provar a minha inocência, uma vez que o mote americano era: «Os detidos de GTMO são culpados até prova em contrário.» Eu sabia o que me esperava no que dizia respeito aos interrogadores XXXXX, e eu queria desabafar.
Chegou o dia, e os guardas retiraram‐me da cela e levaram‐me para XXXXX, onde os detidos se encontravam XXXXX normalmente com XXXXX. Dois cavalheiros XXXXX estavam sentados do outro lado da mesa, e eu estava a olhar para eles, preso ao chão. XXXXX, que desempenhara o papel de mau durante o interrogatório. Nenhum deles se apresentou, o que era absolutamente contra os XXXXX; limitavam‐se a ficar à minha frente como fantasmas, tal como os restantes interrogadores secretos.
«Falas alemão, ou vamos precisar de um intérprete?», perguntou o XXXXX.
«Temo que não precisemos», respondi.
«Bem, compreendes a gravidade do assunto. Viemos de XXXXX para falar contigo.»
«Foram mortas pessoas», prosseguiu o homem mais velho.
Sorri. «Desde quando é que está autorizado a interrogar pessoas fora XXXXX?»
«Não estamos aqui para debater os fundamentos jurídicos do teu interrogatório!»
«Poderei, algures no futuro, ser capaz de falar à imprensa e denunciar‐vos», disse. «Apesar de não conhecer os vossos nomes, reconhecerei as vossas fotografias, por muito que esse dia possa tardar!»
«Podes dizer o que quiseres, não nos vais atingir! Sabemos o que estamos a fazer», disse ele.
«Portanto, estão claramente a usar o vazio legal deste lugar para me extraírem informações?»
«XXXXX Salahi, se quisermos, podemos pedir aos guardas para te pendurarem na parede e para te espancarem!». Quando ele referiu a forma retorcida como estava a pensar, o meu coração começou a bater com mais força, porque eu estava a tentar expressar‐me com cuidado e ao mesmo tempo evitar a tortura.
«Não me consegues assustar, não estás a falar com uma criança. Se continuares a falar comigo nesse tom, podes fazer as malas e regressar a XXXXX.»
«Não estamos aqui para te processar nem para te assustar; ficaríamos apenas agradecidos se respondesses a algumas questões que temos», disse XXXXX.
«Olha, já estive no teu país, e sabes que nunca estive envolvido em nenhum tipo de crime. Além disso, estás preocupado com o quê? O teu país nem sequer está sob ameaça. Tenho vivido calmamente no teu país e nunca abusei da sua hospitalidade. Estou muito grato por tudo aquilo em que o teu país me ajudou; não apunhalo ninguém pelas costas. Por isso que tipo de teatro é que estás a tentar fazer?»
« XXXXX Salahi, sabemos que estás inocente, mas não fomos nós que te capturámos, foram os americanos. Não estamos aqui em nome dos EUA. Nós trabalhamos para XXXXX ultimamente impedimos algumas conspirações contra nós. Sabemos que não podes ter conhecimento de qualquer uma destas coisas. Contudo, apenas queremos fazer‐te perguntas sobre dois indivíduos, XXXXX, e ficaríamos gratos se respondesses às nossas questões sobre eles.»
«É engraçado que tenham vindo até aqui desde XXXXX para fazerem perguntas acerca dos vossos próprios cidadãos! Esses dois indivíduos são muito bons amigos meus. Frequentávamos as mesmas mesquitas, mas não tenho conhecimento de estarem envol‐ vidos em quaisquer operações terroristas.»
A sessão não durou muito mais tempo. Perguntaram‐me como é que estava a passar, como era a vida no campo, e despediram‐se de mim. Nunca mais vi os XXXXX após isso. Entretanto, o XXXXX continuou a interrogar‐me.
«Conheces este tipo, XXXXX?», perguntou XXXXX.
«Não, não conheço», respondi honestamente.
«Mas ele conhece‐te!»
«Receio que tenha outro cheiro que não o meu!»
«Não, eu li o teu cheiro com muito cuidado.»
«Pode mostrar‐me a sua fotografia?»
«Sim. Vou‐ta mostrar amanhã.»
«Muito bem. Talvez o conheça por outro nome!»
«Sabes alguma coisa sobre as bases norte‐americanas na Alemanha?»
«Porque me pergunta isso? Não fui para a Alemanha para estudar as bases norte‐americanas, nem sequer estou interessado nelas seja de que forma for!», respondi furiosamente.
«O meu pessoal respeita os detidos que dizem a verdade!», disse XXXXX, enquanto XXXX tomava notas. Percebi a insinuação de que estava a chamar‐me mentiroso de uma forma muito estúpida. A sessão acabou.
No dia seguinte, XXXXX reservou-me no XXXXX e mostrou‐me duas fotografias. A primeira revelou ser a de XXXXX, que era suspeito de ter participado nos ataques do 11 de Setembro e que foi capturado XXXXX, um dos sequestradores do 11 de Setembro. Quanto a XXXXX, eu nunca tinha ouvido falar dele, nem o tinha visto, e, quanto a XXXXX, achei que já tinha visto o tipo, mas onde e quando? Não fazia a mínima ideia! Também calculei que o tipo devesse ser muito importante, porque XXXXX tinha muita pressa em encontrar a minha ligação com ele. Dadas as circunstâncias, neguei ter visto o tipo. Pense nisso, como é que soaria se eu tivesse dito que já tinha visto este tipo, mas que não sabia quando nem onde? Que interrogador é que engoliria algo assim? Nenhum! E, para ser sincero, eu estava cheio de medo.
A equipa XXXXX voltou a reservar‐me no dia seguinte e mostrou‐me a fotografia de XXXXX, e eu neguei conhecê‐lo, tal como tinha feito no dia anterior. O facto de ter negado conhecer um homem que não conheço realmente, que só vi por breves instantes uma ou duas vezes e com o qual não tinha qualquer relação, alimentou todo o tipo de teorias que me ligavam aos ataques do 11 de Setembro. Os investigadores estavam a afogar‐se e procuravam qualquer coisa a que se pudessem agarrar, e eu, pessoalmente, não queria ser essa coisa.

XXXXX disse XXXXX. «XXXXX.»
«Nos dias seguintes!»
Entretanto, fui transferido para XXXXX, onde me encontrei com XXXXX pela primeira vez. Ele era outro dos detidos famosos. XXXXX tinha ouvido falar da minha história e, como qualquer XXXXX, queria mais informações. Quanto a mim, também queria conversar com pessoas cultas. Tanto quanto sabia, XXXXX era um tipo decente; tenho imensa dificuldade em vê‐lo como um criminoso.
Fiquei em XXXXX menos de duas semanas, antes de ser transferido para XXXXX, que estava cheia de detidos da Europa e do Norte de África. Pela primeira vez, fiquei a conhecer o XXXXX e o XXXXX. XXXXX em XXXXX antes. Eu sempre quis saber para onde iria e por quê. Lembro‐me de uma vez em que a escolta se recusou dizer‐me para onde eu iria. Pensei que me estivessem a levar para a minha execução. Quando entrei XXXXX estava acompanhado por um intérprete árabe XXXXX. Era muito fraco na língua. XXXXX.
Passado alguns dias, fui levado para o interrogatório.
«Como estás?», perguntou XXXXX. Já há muito tempo que não o via.
«Bem!»
XXXXX estavam em XXXXX, quando concordaste XXXXX tempo deste último havia muitos problemas, a maior parte dos quais com início no desespero dos detidos. Interrogatórios sem fim. Desrespeito pelo Santo Corão por parte de alguns guardas. A tortura dos detidos, ao obrigá‐los a passar a noite na sala gelada (embora este método não tenha sido tão utilizado como seria na altura XXXXX). Por isso decidimos fazer uma greve de fome; participaram muitos detidos, incluindo eu. Contudo, só consegui fazer greve durante quatro dias, no fim dos quais não era mais do que um fantasma.
«Não quebres, vais enfraquecer o grupo», disse o meu vizinho saudita.
«Disse‐vos que iria fazer greve de fome, não que iria cometer suicídio. Vou quebrar», respondi.
XXXXX. Ele era o tipo de homem escolhido para realizar o trabalho mais sujo, quando muitos outros tinham falhado. XXXXX era alguém que odiava radicalmente. Alterou completamente as políticas de detenção em GTMO, em todos os aspetos. XXXXX. Um dia no paraíso, e os seguintes no inferno. Os detidos deste nível estão completamente à mercê dos seus interrogadores, o que era muito conveniente para os interrogadores. XXXXX.
Eu pensava: Mas o que raio se está a passar, nunca tive problemas com os guardas e estou a responder aos meus interrogadores e a cooperar com eles. No entanto não tinha percebido que «cooperação» significava dizer aos meus interrogadores fosse o que fosse que eles quisessem ouvir.
Puseram‐me mais uma vez em XXXXX no final de XXXXX.
Apareceu uma escolta em XXXXX, à frente da minha cela.
«Reserva 760!», disseram.
«OK, deem‐me só um segundo!» Vesti‐me e lavei a cara. O meu coração começou a bater. Eu odiava os interrogatórios; já estava cansado de me sentir aterrorizado a toda a hora, vivendo num estado de medo constante, todos os dias, ao longo dos últimos treze meses.
«Que Alá esteja contigo! Mantém a cabeça no lugar! Eles trabalham para o Diabo!», gritou o meu companheiro de clausura para que eu mantivesse a calma, como fazíamos sempre que alguém seguia para interrogatório. Eu odiava o barulho das pesadas correntes de metal; mal posso com elas quando mas põem. Estão sempre a levar pessoas da Ala, e, de cada vez que ouço as correntes, acho que são para mim. Nunca se sabe o que vai acontecer no interrogatório; por vezes, nunca regressam, desaparecem simplesmente. Aconteceu a um tipo marroquino que estava detido, e acontecer‐me‐ia o mesmo, como vai compreender mais à frente, se Deus quiser.
Quando entrei na sala em XXXXX, estava cheia de XXXXX.
«Olá!»
«Olá!»
«Escolhi XXXXX com base na sua experiência e maturidade. Serão eles a avaliar o teu caso de agora em diante. Há algumas coisas que têm de ser concluídas. Por exemplo, não nos disseste tudo acerca de XXXXX. Ele é tipo muito importante XXXXX.»
«Primeiro, eu disse tudo o que sabia sobre XXXXX, embora não precise de vos fornecer informações sobre ninguém. Estamos a falar de mim. Segundo, para continuar a cooperar convosco, preciso que me respondam a uma pergunta: porque é que eu estou Aqui? Se não me responderem, podem considerar‐me um detido inexistente.» Mais tarde, fiquei a saber pelos meus excelentes advogados XXXXX que a formulação mágica para a minha exigência é um Pedido de Habeas Corpus.
«Não faz sentido: é como alguém desistir de uma viagem de 16 quilómetros depois de ter percorrido 15», disse XXXXX. Teria sido mais exato, se tivesse dito «uma viagem de 1 milhão de km depois de ter percorrido 1».
«Olha, é tão simples como o abecê: responde à minha pergunta e cooperarei completamente contigo!»
«Não tenho nenhuma resposta para te dar!», disse XXXXX.
«Nem eu!», respondi.
«O Corão diz que, se alguém matasse uma alma, seria como se tivesse matado toda a humanidade», disse o tradutor francês, tentando encontrar uma brecha. Olhei para ele de esguelha, com desdém.
«Não é de mim que vocês estão à procura!», disse, em francês, e repeti em bom inglês.
XXXXX começou. «Tenho a certeza de que és contra matar pessoas. Não estamos à tua procura. Estamos à procura desses tipos que andam por aí a magoar pessoas inocentes.» Disse isto enquanto me mostrava umas quantas fotografias fantasmagóricas. Recusei‐me a olhar para elas e, sempre que tentava situá‐las no meu campo de visão, eu olhava para outro lado. Nem sequer lhes queria dar a satisfação de olhar para elas.
«Olha, XXXXX está a cooperar e tem uma boa hipótese de ver a sua sentença reduzida para 27 anos — e XXXXX é realmente uma pessoa má. Alguém como tu só precisa de falar durante cinco minutos e tornar‐se‐á um homem livre», disse XXXXX. Ele era tudo menos razoável. Quando contemplei a sua afirmação, pensei: Deus, um tipo que esteja a cooperar cará encarcerado durante mais 27 anos, após os quais não conseguirá desfrutar de nenhum tipo de vida. Que tipo de país rude é este? Lamento dizer que a afirmação de XXXXX não é digna de uma resposta. Ele e XXXXX tentaram argumentar com a ajuda do tipo da MI, mas não me conseguiram convencer a falar.
Dava para perceber que os interrogadores se estavam a habituar a que os detidos se recusassem a cooperar, depois de terem cooperado durante uns tempos. Tal como eu estava a aprender com os outros detidos a não‐cooperar, os interrogadores estavam a aprender uns com os outros a lidar com detidos que não cooperassem. A sessão acabou, e eu fui enviado de volta para a minha cela. Estava satisfeito comigo mesmo, dado que agora pertencia à maioria, aos detidos não-cooperantes. Importava‐me menos com o facto de ficar injustamente preso para o resto da minha vida; o que me deixava louco era o facto de esperarem que eu também cooperasse. Vocês prendem‐me, eu não vos dou informação nenhuma. E ficamos os dois na boa.

XXXXX as sessões prosseguiram com a nova equipa. XXXXX raramente estava presente nas sessões; «Não estarei presente enquanto tu não nos deres todas as informações que tens», disse ele certa vez. «Ainda assim, por sermos americanos, tratamos‐vos de acordo com os nossos padrões elevados. Olha para XXXXX, estamos a oferecer‐lhe a tecnologia médica mais recente.»
«Só queres mantê‐lo vivo, porque pensas que ele tem informações, e, se ele morrer, as informações morrerão com ele!», respondi. Os interrogadores dos EUA tendem sempre a falar da alimentação gratuita e dos tratamentos médicos gratuitos para os detidos. Não compreendo realmente que outra alternativa lhes resta! Pessoalmente, estive detido em países não‐democráticos, e o tratamento médico era a principal prioridade. O senso comum dita que, se um detido adoecer severamente, não haverá informações, e provavelmente morrerá.
Passámos quase dois meses a trocar argumentos. «Levem‐me a tribunal, e responderei a todas as vossas questões», dizia eu à equipa.
«Não haverá tribunal nenhum!», respondiam eles.
«Vocês são alguma máfia? Raptam pessoas, encarceram‐nas e chantageiam‐nas», disse eu.
«Vocês são um problema para as autoridades», disse XXXXX. «Não podemos aplicar a lei convencional. Precisamos apenas de provas circunstanciais para vos fritar a cabeça.»
«Não fiz nada contra o teu país, ou fiz?»
«Fazes parte da grande conspiração contra os EUA!», disse XXXXX.
«Podes fazer essa acusação contra quem quiseres! O que é que eu fiz?»
«Não sei, diz‐me tu!»
«Olha, tu raptaste‐me da minha casa na Mauritânia, não de um campo de batalha no Afeganistão, porque suspeitavas que eu tinha pertencido ao Plano do Milénio — ao qual não pertenço, como bem sabes por esta altura. Então, qual é a próxima acusação? Parece‐me que me queres acusar de uma merda qualquer.»
«Não te quero acusar de uma merda qualquer. Só gostava que tivesses acesso aos mesmos relatórios que eu!», disse XXXXX.
«Não quero saber do que os relatórios dizem. Só gostaria que olhasses para os relatórios desde janeiro do ano 2000 que me ligam ao Plano Milénio. E sabes agora que não faço parte dela, depois da cooperação de XXXXX.
«Não creio que faças parte dela, nem acredito que conheças XXXXX. Mas eu sei que conheces pessoas que conhecem XXXXX», disse XXXXX.
«Não sei, mas não percebo qual é o problema se for esse o caso», respondi, «Conhecer alguém não é um crime, independentemente de quem seja.»
Um jovem egípcio que estava a servir de intérprete nesse dia tentou convencer‐me a cooperar. «Olha, vim para aqui, sacrificando o meu tempo, para vos ajudar, e a única forma de te ajudares a ti próprio é falando», disse ele.
«Não tens vergonha de trabalhar para esta gente má, que aprisiona os teus irmãos de fé sem razão alguma que não o facto de sermos muçulmanos?», perguntei‐lhe.
«XXXXX, sou mais velho do que tu, falo mais línguas, tenho mais habilitações e já estive em muitos mais países do que tu. Compreendo que estejas aqui para te ajudares a ti próprio e para ganhares dinheiro. Se estás a tentar enganar alguém, é apenas a ti próprio!»
Eu estava furioso porque ele falava comigo como se eu fosse uma criança. XXXXX XXXXX limitavam‐se a olhar.
Esta conversa repetiu‐se uma e outra vez em sessões diferentes. Eu continuava a dizer: «Diz‐me porque estou aqui, cooperarei então; não me digas, e não cooperarei. Mas podemos falar sobre outra coisa qualquer para além do interrogatório.»
XXXXX recebeu bem a ideia. Garantiu‐me que iria perguntar aos seus superiores a causa da minha detenção, porque ele próprio não sabia. Entretanto, ensinou-me imenso acerca da cultura e da história norte‐americana, os EUA e o islão, e os EUA e o mundo árabe. A equipa começou a trazer filmes; vi The Civil War, peças sobre os muçulmanos nos EUA e muitas outras transmissões da Frontline relativas ao terrorismo.
«Toda esta merda acontece por causa do ódio», dizia ele. «O ódio é a razão para todos estes desastres.»
XXXXX, ele estava interessado em conseguir informação o mais rápido possível, utilizando métodos clássico da Polícia. Um dia ofereceu‐me McDonald’s, mas recusei, porque não lhe queria ficar a dever nada. «O Exército está a tentar levar‐te para um local muito mau e não queremos que isso aconteça!», avisou‐me.
«Eles que me levem; eu habituo‐me. Vão manter‐me na prisão quer eu coopere ou não, portanto para quê cooperar?» Disse isto ainda sem saber que os americanos usavam a tortura para facilitar os interrogatórios. Estava tão cansado de ser levado para interrogatório todos os dias. As minhas costas conspiravam contra mim. Até pedi ajuda médica.
«Não te podes sentar durante tanto tempo», disse a fisioterapeuta XXXXX.
«Por favor, diga isso aos meus interrogadores, porque eles obrigam-me a ficar sentado durante longas horas, todos os dias.»
«Eu escrevo uma nota, mas não garanto que vá servir de alguma coisa», respondeu ela.
Não serviu. Em vez disso, em fevereiro de 2003, XXXXX lavou as suas mãos de mim.
«Vou sair, mas, se estiveres pronto para falar acerca das tuas conversas telefónicas, pede para me chamarem, eu volto», disse ele.
«Garanto‐te, não vou falar sobre nada, a menos que respondas à minha pergunta: Porque é que eu estou aqui?»
Senegal-Mauritânia
Uma história popular da Mauritânia fala‐nos de um homem com medo de galos que ficava quase louco sempre que se cruzava com um galo.
«Porque tens tanto medo do galo?», perguntou‐lhe o psiquiatra. «O galo pensa que eu sou milho.»
«Tu não és milho. És um homem muito grande. Ninguém te conseguiria confundir com uma magra espiga de milho», disse o psiquiatra.
«Eu sei isso, doutor. Mas o galo não. O seu trabalho é ir ter com ele e convencê‐lo de que eu não sou milho.»
O homem nunca ficou curado, pois falar com um galo é impossível. Final da história.
Há anos que tento convencer o governo dos EUA de que não sou milho.

Tudo começou em janeiro de 2000, quando estava a regressar à Mauritânia, depois de ter vivido durante doze anos no outro lado do oceano. Às 8 da noite de XXXXX, os meus amigos XXXXX deixaram‐me no aeroporto de Dorval, em Montreal. Apanhei o voo noturno da Sabena para Bruxelas e continuaria para Dakar na tarde seguinte. Cheguei a Bruxelas de manhã, com sono e exausto. Depois de recolher a minha bagagem, adormeci num dos bancos na zona internacional, usando a minha mala como almofada. Uma coisa é certa: qualquer pessoa podia ter roubado a minha mala, comigo tão cansado. Dormi durante uma ou duas horas e, quando acordei, procurei uma casa de banho onde me pudesse lavar e um local para rezar. O aeroporto era pequeno, asseado e limpo, com restaurantes, lojas duty‐free, cabines telefónicas, computadores com ligação à Internet, uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga e um gabinete de consulta psiquiátrica para ateus. Avaliei todas as casas de Deus e fiquei impressionado. Pensei, Este país poderia ser um lugar onde eu quisesse viver. Porque é que não lhes vou pedir asilo? Não teria qualquer problema; falo a língua e tenho habilitações para conseguir um emprego no coração da Europa. Já tinha estado em Bruxelas e gostava da vida multicultural e das múltiplas faces da cidade.
Deixei o Canadá, acima de tudo, porque os EUA atiçaram os seus Serviços de Segurança contra mim, mas eles não me detiveram, limitaram‐se a vigiar‐me. Ser vigiado é melhor do que ser atirado para a prisão, tenho consciência disso agora; acabariam por concluir que eu não era um criminoso. «Nunca aprendo», como a minha mãe sempre disse. Nunca acreditei que os EUA estivessem a tentar diabolicamente levar‐me para um local onde a lei não tivesse uma palavra a dizer.
A fronteira encontrava‐se a centímetros de distância. Se eu tivesse cruzado essa fronteira, nunca teria escrito este livro.
Em vez disso, na pequena mesquita, fiz o ritual de limpeza e rezei. Estava muito silencioso; a calma era dominante. Senti‐me tão cansado que me deitei na mesquita, li o Corão durante algum tempo e adormeci.
Acordei com os movimentos de outro tipo, que tinha vindo rezar. Ele parecia conhecer o local e ter passado por este aeroporto muitas vezes. XXXXX. Cumprimentámo‐nos depois de ele ter acabado as suas orações.
«O que estás aqui a fazer?», perguntou‐me ele.
«Estou em trânsito. Venho do Canadá e vou para Dakar.»
«De onde és?»
«Da Mauritânia. E tu?»
«Sou do Senegal. Sou um comerciante entre o meu país e os Emirados. Estou à espera do mesmo voo que tu.»
«Ótimo!», disse eu.
«Vamos descansar. Sou um membro do Clube Tal e Tal», sugeriu, e não me lembro do nome. Fomos até ao clube e era simplesmente espetacular: televisão, café, chá, biscoitos, um sofá confortável, jornais. Estava esgotado e passei a maior parte do tempo a dormir no sofá. A certa altura, o meu novo amigo XXXXX quis almoçar e acordou‐me para fazer o mesmo. Temia que não me deixassem voltar, porque não tinha cartão do clube; tinham‐me deixado entrar, apenas porque o meu amigo XXXXX mostrara o seu cartão de sócio. No entanto, o meu estômago falou mais alto, e decidi sair e comer qualquer coisa. Fui até ao balcão da Sabena Airlines, pedi um cartão de refeição gratuito e procurei um restaurante. A maior parte da comida tinha porco, portanto decidi‐me por uma refeição vegetariana.
Regressei ao clube e esperei até que eu e o meu amigo fôssemos chamados para o nosso voo, o 502 da Sabena para Dakar. Tinha escolhido Dakar, por ser muito mais barato do que viajar diretamente para Nouakchott, na Mauritânia. Dakar fica apenas a 500 quilómetros de Nouakchott, e tinha combinado com a minha família que me fossem lá buscar. Até aqui, tudo bem; as pessoas fazem isso a toda a hora.
Durante o voo, estava cheio de energia, porque tinha conseguido dormir bem no aeroporto de Bruxelas. Ao meu lado, estava uma jovem rapariga francesa que vivia em Dakar, mas que estava a estudar Medicina em Bruxelas. Estava a pensar que os meus irmãos poderiam não chegar ao aeroporto a tempo, por isso talvez tivesse de passar algum tempo num hotel. A rapariga francesa informou‐me benevolentemente dos preços em Dakar e de como as pessoas do Senegal, em especial os taxistas, tentam cobrar excessivamente a estrangeiros.
O voo teve a duração de cerca de cinco horas. Chegámos por volta das 11 horas da noite, e todas as formalidades demoraram cerca de 30 minutos. Quando retirei a minha bagagem do tapete, encontrei o meu amigo XXXXX e despedimo‐nos um do outro. Mal me virei, já com a minha mala, vi o meu irmão XXXXX a sorrir; era óbvio que me tinha visto antes de eu o ter visto a ele. XXXXX estava acompanhado pelo meu outro irmão XXXXX e dois amigos deles que eu não conhecia.
XXXXX pegou na minha mala e dirigiu‐se ao parque de estacionamento. Gostei do clima quente da noite que me envolveu mal saí pela porta. Estávamos a conversar, a perguntar um ao outro, entusiasticamente, como é que iam as coisas. Quando atravessávamos a estrada, não consigo honestamente descrever o que me aconteceu.
«Estou preso!», gritei para os irmãos que já não conseguia ver. Pensei que, se dessem subitamente pela minha falta, seria doloroso para eles. Não sabia se me tinham ouvido ou não, mas, como acabou por se revelar, tinham‐me realmente ouvido, porque o meu irmão XXXXX não parava de gozar comigo mais tarde e de dizer que não sou corajoso, uma vez que pedi ajuda. Talvez não seja, mas foi o que aconteceu. O que eu não sabia era que os meus dois irmãos e os seus dois amigos tinham sido detidos ao mesmo tempo. Sim, os seus dois amigos, um que tinha vindo com os meus irmãos de Nouakchott, e o outro, irmão daquele, que vivia em Dakar e que por acaso os tinha acompanhado ao aeroporto, mesmo a tempo de ser detido como parte de um «gang»: que sorte!
Sinceramente, eu não estava preparado para esta injustiça. Se eu soubesse que os investigadores norte‐americanos eram tão presunçosos, não teria deixado nem o Canadá, nem mesmo a Bélgica, quando passei por lá. Porque é que os EUA não me detiveram na Alemanha? A Alemanha é um dos aliados mais próximos dos EUA. Porque é que os EUA não me detiveram no Canadá? O Canadá e os EUA são quase o mesmo país. Os interrogadores e investigadores norte‐americanos alegaram que eu fugi do Canadá com medo de ser detido, mas isso não faz qualquer sentido. Antes de mais, saí recorrendo ao meu passaporte com o meu nome verdadeiro, depois de passar por todas as formalidades, incluindo todo o tipo de registos. Em segundo lugar, é melhor ser detido no Canadá ou na Mauritânia? Claro que é no Canadá! E porque é que os EUA não me detiveram na Bélgica, onde permaneci quase doze horas?
Compreendo a raiva e frustração dos EUA em relação aos ataques terroristas. Mas saltar para cima indivíduos inocentes e fazê‐los sofrer, ao procurar confissões falsas, não ajuda ninguém. Em vez disso, complica ainda mais o problema. Eu dizia sempre aos agentes norte‐americanos: «Rapazes! Calma! Pensem antes de agir! Atribuam nem que seja uma pequena percentagem à possibilidade de estarem errados, antes de magoarem irremediavelmente alguém!» Porém, quando acontece algo mau, as pessoas começam a passar‐se e a perder a compostura.
Fui interrogado ao longo dos últimos seis anos por mais de 100 interrogadores de diferentes países, e todos têm uma coisa em comum: confusão. Talvez o governo queira que eles sejam assim, quem sabe?
Seja como for, os polícias no aeroporto intervieram quando viram a confusão — as forças especiais estavam vestidas à civil, por isso não havia forma de as distinguir de um grupo de bandidos que tentavam assaltar alguém —, mas o tipo atrás de mim exibiu um distintivo mágico, que fez com que o agente da Polícia se afastasse imediatamente. Nós, os cinco, fomos atirados para o interior de um camião de gado, e recebemos rapidamente outro amigo, o tipo que eu tinha conhecido em Bruxelas, só porque nos tínhamos despedido um do outro no tapete de bagagem.

Os guardas entraram connosco. O líder do grupo sentou‐se à frente no lugar do passageiro, mas ele conseguia ver‐nos e ouvir‐nos, porque o vidro que normalmente separa o condutor do gado já não estava no seu lugar. O camião arrancou como se estivesse numa cena de perseguição de um filme de Hollywood. «Vais‐nos matar», deve ter dito um dos guardas, porque o condutor abrandou um pouco. O tipo que veio ao aeroporto com os meus irmãos estava a enlouquecer; de vez em quando, cuspia algumas palavras impercetíveis que expressavam as suas preocupações e infortúnio. Como acabou por se revelar, o tipo pensou que eu fosse um traficante de droga, e ficou aliviado quando a suspeita acabou por ser de terrorismo! Uma vez que eu era o ator principal, senti‐me mal por ter causado tantos problemas a tantas pessoas. O meu único consolo foi não ter sido a minha intenção — e além disso, naquele momento, o medo no meu coração esmagou todas as outras emoções.
Quando me sentei no chão áspero, senti‐me mais aconchegado pelo calor da companhia, incluindo o dos agentes das forças especiais. Comecei a recitar o Corão.
«Cala‐te!», disse o chefe à minha frente. Não me calei; baixei a voz, mas não foi suficiente para o chefe. «Cala‐te!», disse ele, erguendo, desta vez o seu bastão para me bater. «Estás a tentar enfeitiçar‐nos!» Sabia que ele estava a falar a sério, por isso rezei no meu coração. Eu não estava a tentar enfeitiçar ninguém, e nem sequer sei como fazê‐lo, mas os africanos são as pessoas mais crédulas que alguma vez conheci.
A viagem demorou entre quinze e vinte minutos, por isso passava pouco da meia‐noite quando chegámos à esquadra. Os cérebros da operação ergueram‐se atrás do camião e envolveram‐se numa discussão com o meu amigo de Bruxelas. Não percebi nada; estavam a falar na língua local XXXXX. Após uma curta discussão, o tipo pegou nas suas pesadas bagagens e foi‐se embora. Quando perguntei mais tarde aos meus irmãos o que ele dissera à Polícia, disseram‐me que ele lhes tinha dito que me tinha visto em Bruxelas e nunca antes, e que não sabia que eu era um terrorista.
Agora éramos cinco pessoas detidas num camião. Estava muito escuro lá fora, mas eu conseguia perceber que andavam pessoas de um lado para o outro. Esperámos entre 40 minutos e uma hora no camião. Eu estava a ficar cada vez mais nervoso e cada vez mais receoso, em especial quando o tipo do lugar do passageiro disse «Detesto trabalhar com brancos», ou antes usou a palavra «mouros», o que me fez crer que estavam à espera de uma equipa mauritana. Comecei a sentir‐me enjoado; o meu coração era uma pena, e encolhi‐me o mais que pude para me manter inteiro. Pensei em todos os tipos de tortura de que tinha ouvido falar e em quanto conseguiria aguentar naquela noite. Fiquei cego, uma nuvem espessa ergueu‐se à frente dos meus olhos, não conseguia ver nada. Fiquei surdo; depois daquela afirmação tudo o que eu conseguia ouvir eram sussurros impercetíveis. A sensação de os meus irmãos se encontrarem comigo no mesmo camião desapareceu. Pensei que apenas Deus poderia ajudar à minha situação. Deus nunca falha.
«Saiam», gritou o tipo, impacientemente. Lutei para passar, e um dos guardas ajudou‐me a descer do camião. Levaram‐nos para uma sala pequena que já se encontrava ocupada por mosquitos, mesmo a tempo de estes darem início ao seu banquete. Nem sequer esperaram que adormecêssemos; foram diretos ao assunto, desfazendo‐nos. O mais engraçado acerca dos mosquitos é que eles são tímidos em grupos pequenos e rudes em grupos grandes. Em pequenos grupos, esperam até que adormeçamos; ao contrário do que acontece quando se juntam em grandes grupos, e nesse caso começam a meter‐se imediatamente connosco, como que para dizer: «O que podes fazer?» E, de facto, não podes fazer coisa alguma. A casa de banho estava tão imunda quanto possível, o que fazia dela o ambiente ideal para a criação de mosquitos.
Eu era a única pessoa acorrentada. «Bati‐te?», perguntou o tipo enquanto me tirava as algemas.
«Não, não me bateste.» Quando olhei, reparei que já tinha cicatrizes em torno dos punhos. Os interrogadores começaram a levar‐nos um a um para interrogatório, tendo começado pelos estrangeiros. Foi uma noite muito comprida, assustadora, escura e desoladora.
A minha vez chegou pouco antes da primeira luz do dia.
Na sala de interrogatório, estavam dois homens XXXXX, um interrogador e o seu escrivão. XXXXX chefe da Polícia estava encarregue da esquadra, mas XXXXX não participou no interrogatório; XXXXX parecia tão cansado, que XXXXX adormeceu várias vezes de tédio. XXXXX dos EUA estava a tomar notas e por vezes XXXXX passava notas ao interrogador. O interrogador era um XXXXX calmo, magrinho, esperto, bastante religioso e de pensamento profundo.
«Foram feitas alegações muito pesadas contra ti», disse ele, retirando de um sobrescrito amarelo‐vivo uma espessa pilha de papéis. Ainda não estava a meio de os retirar do sobrescrito e percebia‐se já que os tinha lido várias vezes. Eu já sabia do que ele estava a falar, porque os canadianos já me tinham interrogado.
«Eu não fiz nada. Os EUA querem conspurcar o islão acusando os muçulmanos dessas coisas horríveis.»
«Conheces XXXXX?»
«Não, não conheço. Até acho que toda a história dele é falsa, para desbloquear o orçamento de combate ao terrorismo e ferir os muçulmanos.» Fui realmente honesto no que disse. Naquela altura, não sabia muitas das coisas que agora sei. Acreditava demasiado em teorias de conspiração — embora talvez não tanto quanto o governo norte‐americano.
O interrogador também me perguntou por muitas outras pessoas, a maior parte das quais eu não conhecia. As pessoas que, essas sim, eu conhecia não estavam envolvidas em qualquer crime de qualquer espécie, pelo menos que eu soubesse. Por fim, os senegaleses questionaram‐me relativamente à minha posição em relação aos EUA e ao porquê de eu estar a passar pelo país deles. Eu não entendia por que razão a minha posição em relação ao governo dos EUA seria do interesse fosse de quem fosse. Não sou um cidadão norte‐americano, nem nunca tentei entrar nos EUA, nem estou a trabalhar com a ONU. Além disso, eu poderia sempre mentir. Digamos que adoro os EUA, ou que os odeio, não interessa realmente, desde que não tenha cometido qualquer crime contra os EUA. Expliquei tudo isto ao interrogador senegalês com uma clareza que não deixava qualquer dúvida relativamente às minhas circunstâncias.

«Pareces muito cansado! Sugiro que vás dormir um bocado. Sei que é difícil», disse ele. Claro que estava morto de cansaço, com fome e cheio de sede. Os guardas levaram‐me de volta para a pequena sala em que os meus irmãos e os outros dois tipos estavam deitados no chão, a lutarem contra a mais do que e ciente Força Aérea de Mosquitos senegalesa XXXXX. Eu não tive mais sorte do que eles. Se dormimos? Nem por isso.
O interrogador e o seu assistente apareceram de manhã cedo. Soltaram os dois tipos e levaram‐nos, a mim e aos meus irmãos, para a sede do Ministério do Interior. O interrogador, que afinal era uma pessoa com um cargo muito importante dentro do governo senegalês, levou‐me até ao seu gabinete e fez uma chamada telefónica para o ministro da Administração Interna.
«O tipo que se encontra à minha frente não é o líder de uma organização terrorista», disse ele. Não conseguia ouvir o que o ministro dizia. «No que me diz respeito, não tenho qualquer interesse em manter este tipo preso — nem sequer tenho razões para isso», prosseguiu o interrogador. A chamada telefónica foi breve e direta. Entretanto, os meus irmãos puseram‐se à vontade, compraram algumas coisas e começaram a fazer chá. O chá é a única coisa que mantém vivo um mauritano, com a ajuda de Deus. Já tinha passado muito tempo desde que qualquer um de nós comera ou bebera alguma coisa, mas a primeira coisa que nos veio à mente foi o chá.
Eu sentia‐me feliz, porque a tonelada de papéis sobre mim, que o governo norte‐americano tinha fornecido aos senegaleses, não os tinha impressionado; o meu interrogador não demorou muito tempo a entender a situação. Os meus dois irmãos iniciaram uma conversa com ele em uolof. Perguntei aos meus irmãos sobre o que era a conversa, e eles disseram‐me que não era o governo senegalês que estava interessado em deter‐me, mas sim os EUA, que iriam puxar os cordelinhos. Ninguém estava feliz com isso, porque tínhamos uma ideia de como seria uma chamada dos EUA.
«Estamos à espera que apareçam umas pessoas da embaixada dos EUA», disse o interrogador. Por volta das 11 horas, apareceu XXXXX dos EUA de cor negra. XXXXX tirou fotografias e recolheu as impressões digitais e o relatório que o escrivão tinha redigido no início da manhã. Os meus irmãos sentiram‐se mais confortáveis perto XXXXX de cor negra do que XXXXX de cor branca da noite anterior. As pessoas sentem‐se confortáveis com a aparência a que estão habituados, e, uma vez que 50 por cento dos mauritanos são negros, os meus irmãos conseguiam relacionar‐se melhor com eles. Porém essa era uma abordagem muito ingénua: fosse qual fosse a cor, negra ou branca, XXXXX não seria mais do que um mensageiro.
Depois de ter acabado o trabalho XXXXX, XXXXX fez algumas chamadas telefónicas, chamou o interrogador à parte e falou com ele por breves instantes, e depois XXXXX foi‐se embora. O inspetor informou‐nos de que os meus irmãos estavam livres e de que eu iria ser detido por desrespeito durante algum tempo.
«Acha que podemos ficar à espera dele até ser libertado?», perguntou o meu irmão.
«Sugiro que regressem a casa. Se ele for libertado, encontrará o caminho.» Os meus irmãos foram‐se embora, e eu senti‐me abandonado e sozinho, embora acredite que os meus irmãos fizeram o que era mais acertado.
Durante os dias que se seguiram, os senegaleses continuaram a interrogar‐me sobre as mesmas coisas; os investigadores norte‐americanos enviavam‐lhes as perguntas. Foi tudo. Os senegaleses não me magoaram de maneira alguma, nem me ameaçaram. Como a comida na prisão era horrível, os meus irmãos combinaram com uma família que conheciam em Dakar levarem‐me uma refeição por dia, o que esta fez de forma consistente.
A minha preocupação, como digo, era, e ainda é, como convencer o governo norte‐americano de que não sou milho. O meu único companheiro de cárcere na prisão senegalesa tinha uma preocupação diferente: entrar clandestinamente na Europa ou na América. Decididamente, tínhamos Julietas diferentes. O jovem da Costa do Marfim estava determinado em sair de África.
«Não gosto de África», disse‐me. «Morreram muitos amigos meus. Toda a gente é muito pobre. Quero ir para a Europa ou para a América. Já tentei duas vezes. Da primeira vez tentei entrar às escondidas no Brasil, e fui mais esperto dos que os agentes portuários, mas um tipo africano traiu‐nos junto das autoridades brasileiras, que nos atiraram para a prisão até nos deportarem de volta para África. O Brasil é um país muito bonito, com mulheres muito bonitas», acrescentou.
«Como podes dizer isso? Estiveste o tempo todo na prisão!», interrompi‐o.
«Sim, mas de vez em quando os guardas acompanhavam‐nos a ver as vistas, e de seguida levavam‐nos de volta para a prisão», ele sorriu. «Sabes, irmão, da segunda vez quase consegui chegar à Irlanda», prosseguiu. «Mas o XXXXX, implacável, manteve‐me no navio e fez com que os agentes alfandegários me levassem.»
Parece digno de Colombo, pensei. «Como é que subiste a bordo, para começar?», perguntei.
«É muito fácil, irmão. Subornei alguns dos trabalhadores do porto. Essas pessoas fizeram‐me entrar clandestinamente no navio que se dirigia para a Europa ou para a América. Não interessava realmente. Escondi‐me na secção dos contentores durante cerca de uma semana, até se acabarem os meus mantimentos. Nessa altura, subi e misturei‐me com a tripulação. A princípio, ficaram muito zangados. O comandante do navio que se dirigia para a Irlanda ficou tão furioso, que me quis afogar.»
«Que animal!», exclamei, mas o meu amigo prosseguiu.
«Contudo, após algum tempo, a tripulação aceitou‐me, deu‐me de comer e pôs‐me a trabalhar.»
«Como é que te apanharam dessa vez?»
«Os meus traficantes traíram‐me. Disseram que o navio se dirigia para a Europa. Mas fizemos uma paragem em Dakar, e os agentes alfandegários tiraram‐me do navio, e aqui estou eu!»
«Qual é o teu próximo plano?»
«Vou trabalhar, poupar algum dinheiro e tentar novamente.» O meu companheiro de prisão estava determinado a deixar África a qualquer custo. Além disso, acreditava que um dia iria assentar os pés na terra prometida.
«Meu, o que vês na televisão não é a vida real na Europa», disse eu.
«Não!», respondeu ele. «Os meus amigos foram levados clandestinamente com sucesso para a Europa e têm boas vidas. Mulheres bonitas e muito dinheiro. África é má.»
«Na Europa também podes ir parar à prisão muito facilmente.»
«Não quero saber. A prisão na Europa é boa. África é má.»
Concluí que o tipo estava completamente cego pelo mundo rico que é deliberadamente exibido aos africanos pobres, um «paraíso» em que não podemos entrar, embora ele tivesse alguma razão. Na Mauritânia, a maioria dos jovens quer emigrar para a Europa ou para os EUA. Se a política nos países africanos não mudar radicalmente para melhor, vamos viver uma catástrofe que afetará o mundo inteiro.

A sua cela era catastrófica. A minha era um pouco melhor. Eu tinha um colchão muito fino e gasto, mas ele não tinha nada a não ser um pedaço de cartão sobre o qual dormia. Eu costumava dar‐lhe comida, porque quando fico ansioso não consigo comer. Além disso, eu recebia comida vinda do exterior, e ele recebia a péssima comida da prisão. Os guardas permitiam que passássemos o dia juntos, e fechavam‐no à noite. A minha cela estava sempre aberta. No dia antes de eu ser extraditado para a Mauritânia, o embaixador da Costa do Marfim veio confirmar a identidade do meu companheiro de cárcere. Claro que ele não tinha qualquer espécie de documentação.
«Vamos libertar‐te!», disse alegremente o escrivão que me tinha estado a interrogar ao longo dos últimos dias.
«Obrigado!», interrompi, olhando na direção de Meca e fazendo uma vénia para agradecer a Deus a minha liberdade.
«No entanto, temos de te entregar ao teu país.»
«Não, eu conheço o caminho, vou sozinho», disse eu, inocentemente, pensando que não queria regressar à Mauritânia, mas talvez ao Canadá, ou ir para outro lugar qualquer. O meu coração já tinha sido provocado o suficiente.
«Lamento, temos de ser nós a entregar‐te!» Toda a minha felicidade transformou‐se em agonia, medo, nervosismo, impotência, confusão e outras coisas que não consigo descrever. «Junta as tuas coisas!», disse o tipo. «Vamos embora.»
Comecei a reunir os meus pertences, de coração desfeito. O inspetor pegou na minha mala maior, e eu levei a minha pasta mais pequena. Durante a minha detenção, os americanos copiaram todos os papéis que eu tinha em minha posse e enviaram tudo para Washington para análise.
Eram cerca das 5 horas da madrugada quando atravessámos o portão da esquadra. Parado à frente, estava um Mitsubishi SUV. O inspetor colocou as minhas malas no porta‐bagagens, e nós entrámos para o banco de trás. À minha esquerda, estava um guarda que eu nunca tinha visto antes, mais velho e entroncado. Era calado e bastante descontraído; durante a maior parte do tempo, manteve os olhos para a frente, sem me observar, senão rara e fugazmente pelo canto do olho. Eu detestava quando os guardas olhavam fixamente para mim como se nunca tivessem visto um mamífero na vida. Do meu lado direito, encontrava‐se o inspetor que servira de escrivão. No lugar do passageiro estava o interrogador principal.
O condutor era um XXXXX. Pelo seu bronzeado poder‐se‐ia adivinhar que tinha passado algum tempo num local quente, mas não no Senegal, porque o interro‐ gador estava constantemente a dar‐lhe indicações para o aeroporto. Ou talvez estivesse à procura do melhor caminho, não sei dizer. Falava francês com uma pronúncia muito carregada, embora não desse muita conversa; limitava‐se a dizer o estritamente necessário. Nunca me olhou, nunca se dirigiu a mim. Os outros dois interrogadores tentaram falar comigo, mas eu não respondi, continuava a ler o meu Corão em silêncio. Por respeito, os senegaleses não me confiscaram o Corão, ao contrário dos mauritanos, dos jordanos e dos americanos.
Demorámos cerca de 25 minutos até ao aeroporto. Não havia trânsito em torno nem dentro do terminal. O condutor branco encontrou rapidamente um lugar para estacionar. Saímos do SUV, os guardas carregaram a minha bagagem, e passámos todos pelo acesso diplomático até à sala de espera. Foi a primeira vez que dispensei as formalidades civis ao sair de um país para ir para outro. Foi um presente, mas não gostei dele. No aeroporto, todos pareciam estar preparados. À frente do grupo, o interrogador e o tipo branco continuavam a exibir os seus distintivos mágicos, levando toda a gente consigo. Percebia‐se claramente que o país não tinha soberania: isto ainda era colonização na sua expressão mais feia. No chamado mundo livre, os políticos pregam coisas como o patrocínio da democracia, da liberdade, da paz e dos direitos humanos: que hipocrisia! Ainda assim, muitas pessoas acreditam nesta propaganda barata.
A sala de espera estava vazia. Toda a gente se sentou, e um dos senegaleses pegou no meu passaporte, voltou para trás e carimbou‐o. Pensei que iria apanhar um voo comercial da Air Afrique que estava agendado para Nouakchott naquela tarde; porém, não demorei muito tempo a perceber que tinha um avião inteiro só para mim. Mal o tipo regressou com o meu passaporte carimbado, avançámos os cinco pelo corredor, onde se encontrava um avião branco muito pequeno, já com os motores ligados. O americano acenou para que ficássemos para trás e teve uma conversa rápida com o piloto. Talvez o interrogador também tenha ido com ele, não me consigo lembrar. Estava demasiado assustado para me lembrar de tudo.
Pouco depois, disseram‐nos para subir a bordo. O avião era tão pequeno quanto possível. Éramos quatro e mal conseguimos enfiar-nos dentro daquela borboleta com as cabeças baixas e com as costas arqueadas. O piloto tinha o lugar mais confortável. Tratava‐se de uma mulher francesa, algo percetível através da sua pronúncia. Era muito faladora e a dar para o velhote, magra e loira. Não falou comigo, mas trocou algumas palavras com o inspetor ao longo da viagem. Fiquei a saber mais tarde que ela tinha falado aos seus amigos em Nouakchott da encomenda secreta vinda de Dakar que iria entregar. O guarda maior e eu apertámo‐nos, com os joelhos encostados à cara, no assento de trás, de frente para o inspetor, que tinha um lugar um pouco melhor à nossa frente. O avião estava, obviamente, com excesso de carga.
O interrogador e o americano ficaram à espera até terem a certeza de que o avião tinha descolado. Eu não estava a prestar muita atenção às conversas entre o piloto e o inspetor, mas ouvi‐a, a certa altura, dizer‐lhe que a viagem seria de apenas 480 quilómetros e que demoraria entre 45 minutos e uma hora, dependendo da direção do vento. Isto parecia tão medieval. O inspetor tentou falar comigo, mas não havia nada para falar; a meu ver, já tinha sido tudo dito. Calculei que não tivesse nada para dizer que me pudesse ajudar, logo porque haveria de falar com ele?
Detesto viajar em aviões pequenos, porque abanam muito e porque penso sempre que o vento vai arrastar o avião consigo. No entanto desta vez foi diferente, não tive medo. De facto, queria que o avião se despenhasse, e que eu fosse o único sobrevivente. Saberia que direção tomar: estava no meu país, tinha nascido aqui e toda a gente me daria comida e abrigo. Estava mergulhado nos meus sonhos, mas o avião não se despenhou; em vez disso, aproximava‐se cada vez mais do seu destino. O vento estava a seu favor.
Isso é marado! A milhares de quilómetros de distância, senti o bafo quente desses outros indivíduos tratados de forma injusta a reconfortar‐me. Mantive‐me o tempo todo concentrado no Corão, ignorando o que me rodeava.
A minha companhia parecia estar a divertir‐se, verificando o estado do tempo e vendo a praia sobre a qual tínhamos voado durante o tempo todo. Não creio que o avião tivesse algum tipo de tecnologia de navegação, porque o piloto mantinha uma altitude ridiculamente baixa e orientava‐nos através da praia. Através da janela começava a ver as pequenas aldeias cobertas de areia em torno de Nouakchott, tão áridas quanto as suas perspetivas. Tinha sem dúvida ocorrido uma tempestade de areia mais cedo naquele dia; as pessoas atreviam‐se finalmente a sair à rua. Os subúrbios de Nouakchott tinham uma aparência mais miserável do que nunca, apinhados, pobres, sujos e sem nenhuma das infraestruturas essenciais à vida. Era o gueto de Kebba que eu conhecia, mas pior. O avião viajava a tão baixa altitude, que eu conseguia distinguir quem era quem entre as pessoas que andavam na rua, aparentemente desorientadas, por todo o lado.
Já tinha passado bastante tempo desde que eu vira o meu país pela última vez — de facto, desde agosto de 1993. Estava a regressar, mas desta vez como um suspeito de terrorismo que iria ser escondido num buraco secreto qualquer. Eu queria gritar a viva voz para o meu povo: «Aqui estou eu! Não sou um criminoso! Estou inocente! Sou simplesmente o tipo que vocês conheciam, não mudei!» Mas a minha voz estava abafada, tal como num pesadelo. Não conseguia reconhecer verdadeiramente nada, a planta da cidade tinha mudado de forma radical.
Apercebi‐me por fim de que o avião não se iria despenhar e de que eu não iria ter a oportunidade de falar com o meu povo. É fantástico, o quão difícil pode ser para alguém aceitar a sua infeliz situação. A chave para sobreviver a qualquer situação é ter consciência de que se está nela mesma. Quer quisesse, quer não, eu seria entregue precisamente às pessoas que não queria ver.
«Podes fazer‐me um favor?», perguntei ao inspetor.
«Claro!»
«Gostaria de informar a minha família de que me encontro no país.»
«Muito bem. Tens o número de telefone?»
«Sim, tenho.» O inspetor, contra todas as minhas expectativas, telefonou de facto para a minha família e falou‐lhes acerca da minha realidade. Além disso, os senegaleses realizaram uma declaração oficial à imprensa, afirmando que me tinham devolvido ao meu país. Tanto os mauritanos como os americanos ficaram lixados com isso.
«O que disseste ao inspetor?», perguntou‐me mais tarde o DSE mauritano, o directeur de la Sûrete de l’État.
«Nada.»
«Estás a mentir. Disseste‐lhe para telefonar à tua família.» Não era preciso ser‐se um David Copperfield para perceber que a chamada telefónica tinha sido intercetada.
A entrega foi rápida. Aterrámos perto de uma porta secundária do aeroporto, onde se encontravam dois homens à nossa espera, o inspetor mauritano e mais um tipo negro grande como o raio, muito provavelmente trazido para tratar do assunto — caso as coisas corressem para o torto!
«Onde está o chefe da Polícia do aeroporto?», perguntou o inspetor, olhando para o seu colega negro. Eu conhecia o chefe da Polícia do aeroporto: ele tinha estado uma vez na Alemanha, e eu dera‐lhe abrigo e ajudara‐o a comprar um Mercedes‐Benz. Tinha esperanças de que aparecesse, para que me visse e pudesse dar uma palavrinha a meu favor. Mas ele nunca apareceu. Nem deu uma palavrinha a meu favor: os Serviços de Informação mauritanos são de longe a maior autoridade. Mas eu senti que me estava a afogar e teria agarrado qualquer coisa que encontrasse.
«Serão escoltados até ao hotel para passarem o resto da noite», disse o inspetor aos seus convidados.
«Como estás?», perguntou, de forma pouco genuína, olhando para mim.
«Estou ótimo.»
«É tudo o que ele tem?», perguntou.
«Sim, é tudo.» Eu estava a ver todos os meus pertences à face da Terra a serem passados de um lado para o outro, como se eu já tivesse morrido.
«Vamos!», disse‐me o inspetor. O tipo negro, que nunca desviou os olhos de mim, agarrou na bagagem e empurrou‐me à sua frente em direção a uma pequena sala suja, junto ao portão secreto do aeroporto. Na sala, o fulano negro desenrolou o seu turbante preto e sujo com alguns 100 anos.
«Disfarça cuidadosamente a cara com este turbante», disse o inspetor. Tipicamente mauritano: o espírito beduíno ainda predomina. O inspetor deveria ter previsto que precisaria de um turbante para enrolar à volta da minha cabeça, mas na Mauritânia a organização é quase inexistente; tudo é deixado aos caprichos da sorte. Foi complicado, mas eu ainda não me tinha esquecido como se enrolava um turbante à minha cabeça. É algo que as pessoas do deserto têm de aprender. O turbante cheirava a suor acumulado. Era simplesmente nojento ter aquilo em torno da boca e do nariz; porém, aceitei obedientemente as ordens e sustive a respiração.
«Não olhes à tua volta», disse o inspetor quando saímos os três da sala, em direção ao carro estacionado da Polícia Secreta, um XXXXX. Sentei‐me no lugar do passageiro, o inspetor conduziu e o tipo negro sentou‐se no banco de trás, sem dizer uma palavra. Era altura do pôr do sol, mas não se conseguia saber exatamente, porque uma nuvem de areia cobria o horizonte. As ruas estavam vazias. Eu olhava ilegalmente à minha volta sempre que surgia uma oportunidade, mas quase não reconheci nada.
A viagem foi curta, cerca de dez minutos até ao edifício da Polícia de Segurança. Saímos do carro e entrámos no edifício, onde se estava outro guarda à nossa espera, XXXXX. O ambiente era ideal para mosquitos, os seres humanos eram os forasteiros naquele lugar: casa de banho nojenta, chão e paredes sujos, buracos que liga‐ vam todas as salas, formigas, aranhas, moscas.
«Revistem‐no meticulosamente», disse o inspetor a XXXXX.
«Dá‐me tudo o que tens», pediu‐me XXXXX com respeito, procurando evitar revistar‐me. Eu dei a XXXXX tudo o que tinha exceto o meu Corão de bolso. O inspetor deve ter‐se apercebido que eu tinha um, pois XXXXX voltou atrás e perguntou: «Tens um Corão?»
«Sim, tenho.»
«Dá‐mo! Eu disse‐te para me dares tudo.» Por essa altura, o guarda receava ser enviado de volta novamente, por isso revistou‐me com cuidado, mas não encontrou nada senão o meu Corão de bolso. Eu estava tão triste, cansado e aterrorizado que nem me conseguia sentar direito. Em vez disso, tapei a cara com o meu casaco e deixei‐me cair sobre o colchão com uma polegada de espessura, gasto e com uns 100 anos, a única coisa que havia naquela divisão. Eu queria dormir, descontrair a mente e não acordar antes de todas as coisas más terminarem. Quanta dor consigo aguentar?, perguntei a mim mesmo. Poderá a minha família intervir e salvar‐me? Será que usam eletricidade? Eu tinha lido histórias sobre pessoas que haviam sido torturadas até à morte. Como é que tinham conseguido aguentar? Tinha lido sobre heróis muçulmanos que tinham enfrentado a pena de morte de cabeça erguida. Como é que o zeram? Não sabia. Tudo o que sabia era que me sentia muito pequeno perante todos os grandes nomes que conhecia, e que estava com um medo de morte.
Embora os mosquitos me estivessem a desfazer, adormeci. De vez em quando acordava e perguntava a mim mesmo: Porque não me interrogam agora mesmo, fazem o que quiserem comigo e acabam com isto de uma vez por todas? Detesto esperar pela tortura; há um provérbio árabe que diz o seguinte: «Esperar pela tortura é pior do que a própria tortura.» Só posso confirmar este provérbio. Consegui fazer as minhas orações; como, não sei.
Por volta da meia‐noite, acordei com pessoas a andarem de um lado para o outro, a abrirem e a fecharem portas de forma anormal. Quando o guarda abriu a porta do meu quarto, vislumbrei o rosto de um amigo mauritano que por acaso estivera comigo há muito tempo, quando visitei o Afeganistão em 1992, durante a luta contra o comunismo. Ele parecia triste e abatido; Deve ter sido torturado dolorosamente, pensei. Quase enlouqueci, com a certeza de que iria sofrer pelo menos tanto quanto ele havia sofrido, dada a sua relação próxima com o presidente da Mauritânia e o poder da sua família — qualidades que eu não tinha. Pensei: O tipo deve ter falado de mim, de certeza que é essa a razão pela qual me trouxeram até aqui.
«Levanta‐te!», disseram os guardas. «Põe o teu turbante.» Enrolei o turbante sujo, reuni as minhas últimas forças e segui os guardas até à sala de interrogatório como uma ovelha a ser conduzida ao seu último destino, o matadouro.
Quando fui arrastado pelo tipo que vira anteriormente, apercebi‐me de que era apenas um reles guarda que não tinha conseguido manter o seu uniforme como deve ser. Estava sonolento e zonzo: devem tê‐lo chamado a meio do sono, e ainda não tinha lavado a cara. Não era o amigo que eu achara que era; a ansiedade, o pavor e o medo dominavam a minha mente. Senhor, Tende piedade! Estava algo aliviado. Teria eu cometido um crime? Não. Teria o meu amigo cometido um crime? Não. Teríamos conspirado para cometer um crime? Não. A única coisa que fizéramos juntos tinha sido uma viagem até ao Afeganistão, em fevereiro de 1992, para ajudar as pessoas a combaterem o comunismo. E, quanto a mim, isso não era nenhum crime, pelo menos na Mauritânia.
Então porque é que eu tinha medo? Porque um crime é algo relativo; é algo que o governo define e redefine conforme quer. A maior parte das pessoas não sabe realmente onde está a linha que separa a infração da lei do seu cumprimento. Se se for detido, a situação piora, porque a maior parte das pessoas acredita que o governo tem uma boa razão para a detenção. Ainda por cima, se eu pessoalmente tivesse de sofrer, não quereria que ninguém sofresse comigo. Pensei que tivessem detido o meu amigo por causa do Plano do Milénio, ainda que por ter estado no Afeganistão uma única vez.
Entrei na sala de interrogatório, que era o gabinete do DSE. A sala era grande e estava bem mobilada: sofá em couro, duas poltronas, mesinha de centro, armário, uma secretária grande, uma cadeira de couro, duas outras cadeiras para convidados pouco importantes e, como sempre, o retrato do presidente, transmitindo a fraqueza da lei e a força do governo. Desejei ter sido entregue aos EUA: pelo menos há lá coisas com que me poderia identificar, como a lei. Claro que, nos EUA, ultimamente, o governo e os políticos estão a ganhar cada vez mais terreno às custas da lei. O governo é muito inteligente; evoca o terrorismo no coração das pessoas para as convencer a desistirem da sua liberdade e da sua privacidade. Ainda assim, poderá demorar algum tempo até que o governo dos EUA deite completamente por terra a lei, tal como nos regimes comunistas e do Terceiro Mundo. Mas na verdade isso não é da minha conta, e graças a Deus o meu governo não detém a tecnologia para localizar beduínos no vasto deserto.
Estavam três tipos na sala de interrogatório: o DSE, o seu assistente e o seu escrivão. O DSE pediu‐lhes que me trouxessem as minhas coisas. Vasculharam meticulosamente tudo o que tinha; não deixaram pedra sobre pedra. Não falaram comigo, só falaram uns com os outros, sobretudo em sussurros, só para me enervarem. No final da busca, percorreram os meus documentos e puseram de lado os que acharam interessantes. Mais tarde, fizeram‐me perguntas acerca de toda e cada uma das palavras naqueles documentos.
«Vou interrogar‐te. Só te quero dizer, como aviso prévio, que é melhor dizeres‐me toda a verdade», disse o DSE com firmeza, fazendo um grande esforço para fazer uma pausa, enquanto fumava o seu cachimbo, que nunca retirou dos lábios.
«Claro que sim», respondi.
«Levem‐no de volta», ordenou o DSE aos guardas.
«Ouve, quero que me fales da tua vida toda e de como te juntaste ao movimento islâmico», disse o DSE, quando os guardas arrastaram o meu esqueleto para longe dos mosquitos e me levaram de novo para a sala de interrogatório.
Quando somos detidos pela primeira vez, há grandes probabilidades de não sermos muito abertos, e não há nada de errado com isso; apesar de sabermos que não cometemos nenhum crime, parece sensato. Sentimo‐nos muito confusos e queremos transmitir a imagem de estarmos tão inocentes quanto possível. Pensamos que fomos detidos sob uma suspeita mais ou menos razoável e não queremos cimentar essa suspeita. Além disso, as perguntas envolvem muitas coisas de que ninguém quer falar, como os amigos e a vida privada. Especialmente quando as suspeitas recaem sobre coisas como o terrorismo, o governo é muito severo. No interrogatório evitamos sempre falar sobre os amigos e sobre a nossa vida privada e íntima. E, por fim, ficamos realmente frustrados com a detenção, e além disso não devemos nada aos nossos interrogadores. Pelo contrário, eles é que nos devem mostrar a verdadeira causa da detenção, e deve caber‐nos decidir se comentamos ou se não dizemos nada. Se essa causa for suficiente para sermos detidos, podemos procurar representação profissional; se não for, bem, não deveríamos sequer ter sido detidos. É assim que funciona o mundo civilizado, e tudo o resto é ditadura. As ditaduras são regidas pelo caos.
Para ser honesto, agi como uma pessoa normal: tentei parecer tão inocente quanto um bebé. Tentei proteger a identidade de todas as pessoas que conhecesse, a menos que se tratasse de alguém bem conhecido da Polícia. Os interrogatórios prosseguiram desta forma, mas, quando abriram o cheiro canadiano, as coisas azedaram definitivamente.
O governo norte‐americano viu na minha detenção e na minha entrega à Mauritânia uma oportunidade única para revelar o plano de Ahmed Ressam, que naquela altura se recusava a cooperar com as autoridades norte‐americanas. Além disso, os EUA queriam saber mais pormenores acerca dos meus amigos, tanto no Canadá como na Alemanha, bem como acerca dos meus amigos fora desses países. Apesar de tudo, o meu primo e irmão XXXXX já era procurado, com uma recompensa de 5 milhões de dólares norte‐americanos. Os EUA também queriam saber mais acerca da jihad no Afeganistão, na Bósnia e na Chechénia. Informação de graça. Pela já referida e por outras razões que desconheço, os EUA conduziram o meu caso até onde foi possível. Rotularam‐me «O Cérebro do Plano do Milénio». Pediram a todos os países que fornecessem todas as informações que tivessem sobre mim, por mais pequenas que fossem, em particular ao Canadá e à Alemanha. E, uma vez que sou um tipo mesmo «mau», tiveram de forçar para me tramarem.
Para desconsolo do governo norte‐americano, nem as coisas eram bem aquilo que pareciam, nem o governo conseguiu aquilo que queria. Independentemente da genialidade do plano de alguém, o plano de Deus funciona sempre. Sentia que era como na canção «Me Against the World», do 2Pac. E aqui segue‐se o porquê.
Tudo o que os canadianos sabiam dizer era: «Vimo‐lo com X e Y, e são más pessoas.» «Vimo‐lo nesta ou naquela mesquita.» «Intercetámos as suas conversas telefónicas, mas não têm nada de importante!» Os americanos pediram aos canadianos que estes lhes fornecessem as transcrições das minhas conversas, mas depois de as terem editado. Claro que não faz qualquer sentido pegar em diferentes passagens de uma conversa inteira e tentar percebê‐la. Penso que os canadianos deveriam ter feito uma de duas coisas: ou se recusavam a entregar aos americanos qualquer conversa privada que tivesse tido lugar no seu país, ou lhes davam toda a conversa, na sua forma original, sem sequer a traduzirem.
Em vez disso, a partir das palavras que os canadianos escolheram partilhar com os seus colegas norte‐americanos, os interrogadores norte‐americanos ficaram magicamente presos a duas palavras durante mais de quatro horas: «chá» e «açúcar».
«O que queres dizer com chá e açúcar?»
Os Serviços de Informação canadianos desejavam que eu fosse um criminoso, para que pudessem compensar o seu erro quando XXXXX saiu clandestinamente do seu país para os EUA com explosivos. Os EUA culpavam o Canadá por terem sido um campo de preparação para ataques terroristas contra os EUA e foi por isso que os Serviços de Informação canadianos se passaram. Perderam completamente a compostura, tentando tudo para acalmar a raiva do seu irmão mais velho, os EUA. Começaram a vigiar as pessoas que achavam que eram más, incluindo eu. Lembro‐me de que, depois do plano XXXXX, os canadianos tentaram instalar duas câmaras, uma no meu quarto e outra no quarto do colega com quem eu partilhava a casa. Eu costumava ter o sono muito pesado. Ouvi vozes, mas não consegui perceber o que eram — ou, digamos, tive demasiada preguiça para acordar e ir ver de quem eram. O meu colega de quarto XXXXX era diferente; ele acordou e seguiu o ruído. Manteve‐se escondido e observou até o buraco minúsculo estar completamente aberto. O tipo no outro quarto soprou para o buraco e, quando espreitou, cou olhos no olhos com XXXXX.
XXXXX acordou‐me e contou‐me a história
«XXXXX, ouvi as mesmas vozes no meu quarto.» Disse‐lhe eu. «Vamos verificar!» A nossa curta investigação deu frutos: encontrámos dois buracos minúsculos no meu quarto.
«O que devemos fazer?», perguntou XXXXX.
«Chamamos a Polícia», disse eu.
«Muito bem, chama‐os!», disse XXXXX. Não utilizei propositadamente o nosso telefone; em vez disso, saí à rua e usei uma cabine telefónica para ligar para o serviço de emergência. Apareceram dois polícias, e eu expliquei‐lhes que o nosso vizinho, sem o nosso consentimento, tinha feito dois buracos na nossa casa, e que queríamos que ele fosse detido por esta ação ilegal contra nós. Basicamente, pedíamos um apoio adequado.
«Tapem os buracos e o problema fica resolvido», disse um dos polícias.
«A sério? Não sabia. O senhor é carpinteiro?», perguntei. «Olhe! Não lhe telefonei para lhe pedir um conselho sobre como arranjar a minha casa. Existe um crime óbvio por detrás disto, invasão de propriedade e violação da nossa privacidade. Se não cuidar de nós, trataremos de nós próprios. E já agora: preciso dos vossos cartões‐de‐visita», disse eu. Cada um deles deu‐nos um cartão‐de‐visita com o nome e o contacto de outro polícia no verso. Obviamente, aqueles polícias estavam a seguir umas ordens idiotas quaisquer para nos enganarem, mas para os Serviços de Informação canadianos era demasiado tarde. Durante os dias que se seguiram, não fizemos outra coisa senão sentarmo‐nos e gozarmos com o plano.
A ironia é que eu tinha vivido na Alemanha durante doze anos, e eles nunca forneceram qualquer informação incriminatória sobre mim, o que estava certo. Permaneci menos de dois meses no Canadá, e, no entanto, os americanos afirmaram que os canadianos tinham fornecido muita informação sobre mim. Os canadianos nem sequer me conhecem! Mas, uma vez que todo o trabalho de informação é baseado em «ses», a Mauritânia e os EUA começaram a interpretar a informação como queriam, de forma a poderem confirmar a teoria de que eu fora o cérebro por detrás do Plano do Milénio.
O interrogatório não parecia evoluir a meu favor. Continuava a repetir a minha história da jihad no Afeganistão em 1991 e início de 1992, o que não parecia impressionar o interrogador mauritano. A Mauritânia não quer saber de uma viagem até ao Afeganistão; compreendem‐na muito bem. Se tentarmos armar confusão no país, contudo, seremos detidos, independentemente de termos estado ou não no Afeganistão. Por outro lado, para o governo norte‐americano, uma simples visita ao Afeganistão, à Bósnia ou à Chechénia é o suficiente para ficarmos sob vigilância para o resto da vida e para nos tentarem prender. Todos os países árabes têm a mesma abordagem que a Mauritânia, exceto os que têm um regime comunista. Chego mesmo a pensar que os países árabes comunistas são pelo menos mais justos do que o governo norte‐americano neste aspeto, porque proíbem desde logo os seus cidadãos de participarem numa jihad. Entretanto, o governo norte‐americano processa pessoas com base em leis que não foram escritas.
O meu interrogador mauritano estava interessado nas minhas atividades no Canadá, que são inexistentes em termos criminais, mas ninguém estava disposto a acreditar em mim. Todas as minhas respostas às perguntas, «Fizeste isto ou aquilo enquanto estavas no Canadá?», eram «Não, não, não, não.» E então ficávamos completamente encalhados. Penso que parecia culpado, porque não tinha contado a ninguém toda a minha história sobre o Afeganistão, e achei que tinha de preencher as lacunas de forma a tornar o meu caso mais forte. O interrogador trouxera equipamento de lmagem com ele naquele dia. Mal o vi, comecei a tremer: eu sabia que seria obrigado a confessar, e que eles iriam transmitir tudo na televisão nacional, como em outubro de 1994, quando o governo mauritano deteve islamitas, os obrigou a confessar e transmitiu as suas confissões. Eu estava tão assustado, que os meus pés não conseguiam carregar o meu corpo. Era visível que estava a ser exercida muita pressão sobre o meu governo.
«Tenho sido muito paciente contigo, rapaz», disse o interrogador. «Tens de confessar, caso contrário vou entregar‐te à equipa especial.» Eu sabia que ele queria dizer a equipa de tortura. «Continuam a chegar relatórios de todos os lados, todos os dias», disse ele. Nos dias que antecederam esta conversa, eu não tinha conseguido dormir. Portas estavam constantemente a ser abertas e fechadas. Qualquer movimento à minha volta atingia‐me violentamente o coração. A sala onde me encontrava era ao lado do arquivo, e, através de um pequeno buraco, eu conseguia ver alguns cheiros e as suas etiquetas; comecei a alucinar e a ler papéis sobre mim que não existiam. Já não conseguia aguentar mais nada. E tortura? Nem pensar.
«Olhe, diretor! Não tenho sido completamente verdadeiro consigo e gostaria de partilhar toda a minha história», disse‐lhe. «Contudo, não quero partilhar a minha história no Afeganistão com o governo norte‐americano, porque eles não compreendem esta coisa da jihad, e eu não quero deitar mais achas para a fogueira.»
«Claro que não», disse o DSE. Os interrogadores estão habituados a mentir às pessoas; a função do interrogador é mentir, enganar e ludibriar. «Até posso mandar embora o meu escrivão e o meu assistente, se quiseres», prosseguiu.
«Não, não me importo que estejam aqui.» O DSE chamou o motorista e mandou‐o comprar comida. Trouxe salada de frango, que era algo de que eu gostava. Foi a minha primeira refeição desde que deixara o Senegal; estávamos agora em fevereiro de 2000.
«É tudo o que vais comer?», perguntou o DSE.
«Sim, estou cheio.»
«Não comes mesmo nada.»
«Sou assim.» Comecei a contar toda a história da minha jihad com todos os seus pormenores aborrecidos. «E quanto ao Canadá ou a um ataque contra os EUA, não tenho nada que ver com isso», concluí.
Nos dias que se seguiram, recebi tratamento e comida bem melhores, e todas as perguntas que ele me fazia e todas as respostas que eu dava eram consistentes em si próprias e com as informações que ele já tinha em sua posse. Quando o DSE soube que eu lhe estava a dizer a verdade, deixou de acreditar que os relatórios norte‐americanos continham a verdade absoluta e pô‐los de lado, se não mesmo no lixo.
XXXXX apareceu para me interrogar. Eram três deles, XXXXX. Evidentemente as autoridades mauritanas tinham partilhado todas as minhas entrevistas com XXXXX, pelo que XXXXX e os mauritanos tinham a mesma quantidade de informação.
Quando a equipa chegou, foi recebida em XXXXX deu‐me um aviso prévio no dia em que me foram interrogar.
«Mohamedou, não temos nada contra ti. No que nos diz respeito, és um homem livre», disse‐me. «Contudo, aquelas pessoas querem interrogar‐te. Gostaria que fosses forte e que fosses honesto com elas.»
«Como é que pode permitir que gente de fora me interrogue?»
«A decisão não é minha, mas é apenas uma formalidade», disse ele. Eu estava com muito medo, porque eu nunca tinha estado com interrogadores americanos, embora calculasse que não recorreriam à tortura para obter informações de forma forçada. No entanto todo aquele cenário fez com que eu me sentisse muito cético em relação à honestidade e à humanidade dos interrogadores americanos. Era mais ou menos como: «Não vamos ser nós a bater‐te, mas tu sabes onde estás!» Por isso eu sabia que XXXXX me queria(m) interrogar sob a pressão e a ameaça de um país não‐democrático.
A atmosfera estava pronta. Disseram‐me o que devia vestir e contar. Nunca me deram qualquer hipótese de tomar um duche ou de lavar a roupa suja. Eu deveria cheirar horrivelmente mal. Estava tão magro, devido ao meu encarceramento, que as minhas roupas já não me serviam; parecia um adolescente com calças largas. Mas, por mais irritado que estivesse, tentei parecer o mais confortável, amigável e normal que consegui.
XXXXX chegou por volta das 8 da tarde, e a sala de interrogatório tinha sido limpa para eles. Entrei na sala com um sorriso. Após os cumprimentos diplomáticos e das apresentações, sentei‐me numa cadeira dura e tentei descobrir o meu novo mundo.
O XXXXX começou a falar. «Viemos dos Estados Unidos para fazer algumas questões. Tens o direito de te manteres calmo. Também podes responder a algumas perguntas e não responder a outras. Se estivéssemos nos EUA, poderíamos arranjar‐te um advogado gratuitamente.»
Quase interrompi aquele absurdo para dizer: «Deixa‐te de merdas e faz‐me lá as perguntas!» Eu pensava: «Que mundo civilizado!» Na sala, encontravam‐se apenas os XXXXX interrogadores com um intérprete árabe. Os interrogadores mauritanos saíram da sala.
«Oh, muito obrigado. Não preciso de nenhum advogado», disse.
«Contudo, gostaríamos que respondesses às nossas perguntas.»
«Claro que vou responder», disse eu.
Começaram a perguntar‐me coisas sobre a minha viagem ao Afeganistão durante a guerra contra o comunismo, mostraram‐me um monte de fotografias, fizeram-me perguntas acerca do Canadá e quase nenhuma sobre a Alemanha. Quanto às fotografias e ao Canadá, fui absolutamente verdadeiro, mas retive deliberadamente algumas partes das minhas duas viagens ao Afeganistão em janeiro de 1991 e fevereiro 1992. Sabem porquê? Porque o governo norte‐americano não tem nada que ver com o que eu fiz para ajudar os meus irmãos afegãos contra os comunistas. Oh!, Senhor, supostamente os EUA estariam do nosso lado! Quando acabou a guerra, regressei à minha vida normal; não violei nenhuma lei mauritana ou alemã. Fui ao Afeganistão e regressei de lá legalmente. Quanto aos EUA, não sou um cidadão norte‐americano, nem nunca estive nos EUA; então, que tipo de lei poderei ter violado? Compreendo que, se entrasse nos EUA, e eles me detivessem devido a uma suspeita razoável, teria de explicar‐lhes toda a minha posição. E o Canadá? Bem, fizeram uma grande cena por eu ter estado no Canadá, porque um tipo árabe tentara atacá‐los a partir do Canadá. Eu expliquei com provas concretas que não tinha tido qualquer participação nisso. Agora, vão‐se foder e deixem‐me em paz.
Os interrogadores XXXXX disseram‐me que eu não estava dizer a verdade.
«Não, estava», menti. O lado bom desta história é que eu me estava nas tintas para aquilo que eles pensavam. XXXXX continuou a escrever as minhas respostas e a olhar para mim ao mesmo tempo. Perguntei‐me como é que conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo; porém, mais tarde fiquei a saber que os interrogadores XXXXX estudam a nossa linguagem corporal enquanto estamos a falar, o que é nada mais, nada menos, do que tretas. Há muitos fatores envolvidos num interrogatório e diferem de uma cultura para outra. Como XXXXX conhecia agora todo o meu caso, sugeri que XXXXX voltasse atrás e verificasse onde me tinha apanhado a mentir, só para ver a sua competência. Os interrogadores norte‐americanos também iam além da sua missão e faziam o que qualquer interrogador faria: iam à pesca, faziam perguntas acerca do Sudão, de Nairobi e de Dar es Salam. Como é que eu havia de ter conhecimento do que se passa nestes países, a menos que tivesse vários doppelgängers?
XXXXX ofereceu‐se para me pôr a trabalhar com eles. Penso que a oferta seria fútil, a menos que tivessem a certeza absoluta de que eu era um criminoso. Não sou polícia, mas compreendo como os criminosos se podem arrepender — mas eu, pessoalmente, não tinha feito nada para me arrepender. No dia seguinte, por volta da mesma hora, XXXXX apareceu mais uma vez, para tentar obter pelo menos a mesma quantidade de informação que eu tinha partilhado com os mauritanos, mas não houve maneira de me convencerem. Afinal, as autoridades mauritanas tinham partilhado tudo com eles. O XXXXX não me forçou de nenhuma forma pouco civilizada; agiram de maneira muito amigável. O chefe da equipa disse: «Já acabámos. Vamos regressar a casa», tal como Umm ‘Amr e o seu burro. XXXXX XXXXX deixou Nouakchott e eu fui liberto XXXXX.
«Aqueles tipos não têm qualquer tipo de prova», disse o DSE com tristeza. Sentia‐se verdadeiramente abusado. Em primeiro lugar, os mauritanos nem sequer me queriam entregar, porque seria uma situação sem vencedores: se eu fosse considerado culpado e me entregassem aos EUA, sentiriam a fúria da opinião pública; se eu não fosse considerado culpado, sentiriam a fúria do governo norte‐americano. Em qualquer dos casos, o presidente viria a perder o seu mandato.
Por isso, no final, devem ter feito um acordo do género por baixo da mesa:
«Não encontrámos nada que o implicasse, e vocês não nos forneceram nenhuma prova», devem ter dito os senegaleses. «Nestas circunstâncias, não o podemos deter. Mas, se o quiserem, levem‐no.»
«Não, não o podemos levar, porque primeiro precisamos de obter provas contra ele», respondeu o governo norte‐americano. «Bem, não queremos ter nada que ver com ele», disseram os senegaleses.
«Entreguem‐no aos mauritanos», sugeriu o governo norte‐americano.
«Não, não o queremos, fiquem lá com ele!», gritou o governo mauritano.
«Têm de ficar com ele», disse o governo norte‐americano, coagindo os mauritanos. Mas o governo mauritano prefere sempre manter a paz entre o povo e o governo. Não querem problemas.
«Estás livre», disse o DSE.
«Devo dar‐lhe tudo?»
«Sim, tudo», respondeu o DSE. Até me pediu que verificasse os meus pertences, mas eu estava tão entusiasmado, que não verifiquei nada. Sentia‐me como se o espírito maligno do medo tivesse deixado o meu peito.
«Muitíssimo obrigado», disse eu. O DSE deu a ordem ao seu assistente e escrivão para que me levassem a casa. Eram cerca das 2 da tarde quando partimos para minha casa.
«É melhor não falares com jornalistas», disse o inspetor.
«Não, não falarei.» E, de facto, nunca revelei o escândalo dos interrogadores estrangeiros a violar a soberania do meu país a jornalistas. Sentia‐me tão mal em mentir‐lhes.
«Vá lá, nós vimos o XXXXX.» Deus, os jornalistas são feiticeiros.
«Talvez estivessem a assistir ao meu interrogatório», disse eu, sem ser convincente.
Tentei reconhecer o caminho para minha casa, mas, acredite em mim, não reconheci nada até o carro da Polícia ter estacionado em frente à nossa porta e me ter deixado ali. Tinham‐se passado quase sete anos desde a última vez que eu vira a minha família. Tudo tinha mudado. As crianças tinham crescido e tinham‐se tornado homens e mulheres, os jovens caram mais velhos. A minha mãe forte era agora fraca. Ainda assim, eram todos felizes. A minha irmã XXXXX e a minha ex-mulher mal dormiam à noite, rezando para que Deus me aliviasse as dores e o sofrimento. Que Deus recompense todos os que ficaram do meu lado.
Estava toda a gente por perto, a minha tia, os sogros, os amigos. A minha família continuou a alimentar generosamente os visitantes, alguns dos quais tinham vindo só para me felicitar, outros para conversarem comigo, alguns só para conhecerem o homem que tinha chegado às notícias durante o último mês. Após os primeiros dias, eu e a minha família começámos a fazer planos para o meu futuro. Para encurtar uma longa história, a minha família queria que eu permanecesse no país, nem que fosse só para me verem todos os dias e desfrutarem da minha companhia. Disse a mim mesmo: Que se lixe. Saí, arranjei um emprego e estava a gostar de olhar para a cara bonita da minha mãe todas as manhãs. Mas não há alegria que dure para sempre.















