Título: “Apologia do Ócio / A Conversa e os Conversadores”
Autor: Robert Louis Stevenson
Editora: Antígona
Páginas: 88
Preço: 12,00€
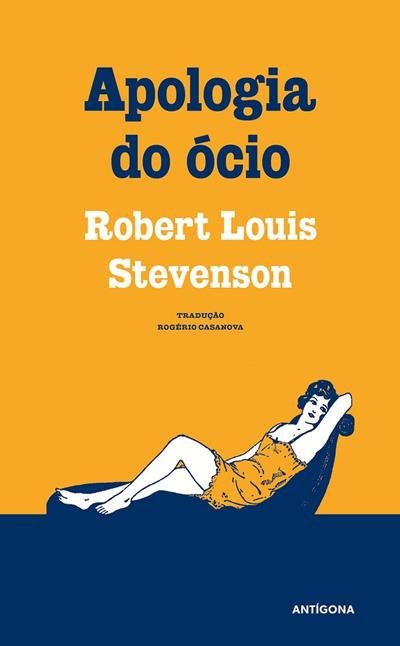
Conta-se que, numa manhã, um indivíduo madrugador censurou Lorenzo de Medici, o Magnífico, por este ter acordado muito tarde, juntando à sua censura a enumeração de todas as tarefas que ele próprio tinha realizado enquanto o estadista florentino dormia. Nada intimidado com a admoestação, Lorenzo de Medici terá respondido: “O que eu sonhei numa hora vale mais do que aquilo que haveis feito em quatro”. Não se sabe se Robert Louis Stevenson conhecia esta historieta, mas é certo que a mesma ilustra na perfeição aquilo que o autor escocês defende no texto Apologia do Ócio (1877), recentemente traduzido por Rogério Casanova e publicado pela Antígona numa edição que inclui ainda o ensaio A Conversa e os Conversadores (1882). A opção editorial de reunir estes dois textos revela-se profícua, uma vez que qualquer um deles se torna mais interessante depois da leitura daquele que o acompanha, quase como se ambos formassem uma conversa. Assim sendo, esta edição parece ter em conta as palavras de Stevenson, que sugere que uma boa conversa depende sobretudo da oportunidade de “encontrar a companhia ideal” (p.61). Postas as coisas nestes termos, parece que Apologia do Ócio ou A Conversa e os Conversadores não têm qualquer tipo de valor per se, o que não é verdade. Ainda que o primeiro seja significativamente mais interessante do que o segundo, o que em parte explica o facto de esta recensão se concentrar sobretudo no texto intitulado Apologia do Ócio, cada um dos ensaios possui as suas virtudes próprias.
Consciente de que as mais populares definições de ócio o caracterizam como mera inacção, Stevenson começa a sua apologia por apresentar a sua própria definição do termo:
O ócio (…) não consiste em fazer nada, mas sim em fazer muitas das coisas não reconhecidas pelas formulações dogmáticas da classe dominante” (p. 11).
Este esclarecimento contém, desde logo, três ideias fundamentais para perceber o resto do ensaio: 1) que Stevenson é avesso a aceitar formulações dogmáticas 2) que a burguesia, aqui designada como “classe dominante”, só reconhece mérito ao “trabalho”; 3) que Stevenson encara o ócio como uma actividade produtiva. Ao longo do ensaio, estas três ideias surgem repetidamente relacionadas entre si: por exemplo, a possibilidade de questionar aquilo que é elevado à categoria de dogma é algo que o ócio pode produzir, ao permitir uma reflexão demorada e sem os entraves colocados por qualquer necessidade de ordem prática, mas tal possibilidade é, geralmente, obstruída pelos apologistas do trabalho que, na sua adoração do negócio, diz Stevenson, “passam numa espécie de coma todas as horas que não dedicam ao frenético lufa-lufa diário”. (p. 22)
A ideia de que é a actividade laboral que impede os não-ociosos de entrar num estado de coma permanente indica a existência de um defeito na natureza destes; defeito esse que Oscar Wilde, poucos anos depois, identificou como “falta de imaginação”, chegando mesmo a afirmar que a acção “é o último recurso dos que não sabem sonhar”. Esta separação da humanidade em dois grupos distintos, que em Wilde apresenta contornos elitistas, é sublinhada por Stevenson logo no início do texto quando este afasta “os que laboram com entusiasmo numa actividade lucrativa” daqueles “que se contentam com o que têm” (p. 11). No argumento de Stevenson, esta separação, ainda que tenha momentos históricos em que se torna mais perceptível devido a contingências económicas e sociais, é uma separação presente ao longo dos séculos, daí que o autor recorde, entre outros exemplos célebres, a indiferença de Diógenes perante a oferta megalómana que lhe fez Alexandre, o Grande (p. 12). Contudo, a época vitoriana é, sem dúvida, um desses momentos em que a conversa a propósito da ociosidade atingiu a ferocidade que Stevenson afirma ser um ingrediente necessário tanto para uma boa batalha como para uma boa conversa. Aliás, deve-se salientar que as qualidades da conversa são tantas vezes caracterizadas com recurso a vocabulário de natureza bélica, em A Conversa e os Conversadores, que até o próprio Stevenson se vê na obrigação de pedir desculpa, no inicio da segunda parte do ensaio, por ter circunscrito o conceito de conversa ao conceito de debate (p. 63).
O jogo do gato e do homem
A grande virtude de Apologia do Ócio não reside na originalidade do seu argumento, pois as suas ideias principais estão já presentes na defesa da ‘vida contemplativa’ feita por Platão e Aristóteles, mas sim na maneira como inclui as particularidades do debate da época, ecoando com vivacidade muitas das vozes nele presentes, e na exposição de um drama pessoal do próprio autor. Deste modo, arrisco dizer que o ensaio de Stevenson é profundamente datado e profundamente intemporal.
Um dos principais efeitos da ascensão da burguesia ao longo de todo o século XIX foi a reformulação das características que conferiam autoridade social a alguém. Qualidades sanguíneas ou marciais deram lugar a competências de outra ordem, entre as quais a capacidade para conquistar, acumular e gerir fortunas de ordem material. Stevenson é apenas mais um de muitos a criticar a histeria em torno do ideal que exige uma devoção perpétua ao trabalho e que só pode ser sustentado “negligenciando todas as outras coisas” (p.23). Numa descrição que viria a tornar-se influente para todas as descrições futuras dos homens que seguem este modelo de vida, Thomas Carlyle chamou-lhes “Capitães da Indústria”, aludindo, ironicamente, à discrepância existente entre os feitos dos heróis de outrora e os feitos dos fanáticos pelo lucro. Para Carlyle, o que movia esses verdadeiros heróis não era o lucro, mas um certo impulso humano, a que uma personagem de Eça de Queiroz chamou ‘bisbilhotice’ e que, para a mesma personagem, é o que “por um lado leva a escutar às portas – e pelo outro a descobrir a América”. Stevenson chama “curiosidade” a esta “bisbilhotice” e afirma que aqueles que são obcecados pelo trabalho, devido ao facto de serem “desprovidos de curiosidade”, são incapazes de “desfrutar do exercício das suas faculdades pelo mero prazer de as exercer” (p. 22). Reconhecem-se nestas ideias, assim como ao longo de todo o ensaio, as vozes de dois intelectuais maiores do tempo de Stevenson: Matthew Arnold e John Henry Newman.
Muitos são os passos, em que Stevenson parece seguir o pensamento de Arnold, que, anos antes, num incisivo ataque ao espírito prático da época, mostrou como a palavra “curiosidade”, contrariamente ao que acontecia noutras línguas, tinha um sentido pejorativo na língua inglesa. Para Arnold, isso devia-se ao facto de, em Inglaterra, não existir uma actividade crítica desinteressada de considerações de ordem prática, o que fazia com que essa actividade fosse sempre desviada do caminho mais fértil, isto é, do caminho da verdade, para se entregar sempre incipientemente a uma qualquer necessidade prática. Quer Arnold, quer Stevenson, acreditavam que para o espírito burguês não havia dúvidas de que a curiosidade, tendo já matado o gato, poderia também matar o Homem, ao exigir-lhe que se afastasse da imediatez da prática e se entregasse a uma livre actividade do espírito, ou seja, àquilo a que a opinião comum apelida de ‘ociosidade’.
Como as faculdades de Artes e Humanidades sabem por experiência, para a opinião comum, de então e de agora, toda a aprendizagem que não é feita com “um objectivo definido” não é uma aprendizagem, mas sim uma divagação, o que significa que quem o faz nem sequer é merecedor da “sopa dos pobres” (p. 18). Neste ponto, Stevenson ataca a ideia, que então despontava e que hoje se tornou quase inquestionável, de que a educação é uma espécie de especialização num, e só num, determinado ramo de conhecimento. A defesa desta ideia passa habitualmente pelo argumento de que a especialização é uma garantia de êxito profissional e, consequentemente, pessoal. Mas Stevenson rejeita a ideia segundo a qual o êxito pessoal deriva do êxito profissional, afirmando o seguinte sobre as pessoas que acreditam nesse dogma: “Como se a alma humana não fosse já demasiado pequena, encolheram as suas ainda mais (…) e assim chegam aos quarenta anos, apáticos e indiferentes, as mentes esvaziadas de toda e qualquer matéria ou divertimento, sem um único pensamento para os ocupar”, concluindo, “Não creio que a isto se possa chamar Ter Êxito na vida” (p. 23).
Escola da vida
Para Stevenson a verdadeira educação não consiste num modelo que exige a memorização de “que a enfiteuse não é uma doença, nem um estilicídio um crime”, mas em encarar todas as ninharias que se descobrem na vadiagem quotidiana como dignos objectos de serem pensados. No seu argumento, é a vida, e não os livros, a verdadeira fonte de conhecimento, daí que o autor lhe chame “esse portentoso lugar de aprendizagem” e “a escola preferida de Dickens e de Balzac”. Não é, então, estranho que Stevenson aconselhe ao gazeteiro (o herói do seu texto) longos e ociosos passeios pelo campo, pois aí “talvez ele consiga afundar-se numa corrente de pensamentos gentis, e ver as coisas de uma nova perspectiva” (p. 16). A educação consiste, então, não num treino vocacional de carácter instrumental, mas sim na capacidade de estar pronto para ver “as coisas de uma nova perspectiva”, isto é, de estar preparado para pensar e raciocinar criticamente. Estamos, pois, perante um elogio da autonomia e da liberdade que faz recordar as ideias do cardeal John Henry Newman em A Ideia de Universidade. A universidade ideal, para Newman, consiste simplesmente numa comunidade de pensadores empenhados numa investigação intelectual que não tem outro fim para além da própria investigação. O grande propósito desta ideia de educação passa por ensinar os estudantes a pensar, argumentar, discriminar e analisar, alargando, consequentemente, o espírito que a especialização tende a limitar.
Poder-se-ia julgar que existe uma contradição no que tenho vindo a dizer, uma vez que Stevenson recomenda o ócio e não as aulas da universidade, mas uma análise mais atenta do texto e um pouco de conhecimento da biografia do autor mostram que a contradição não existe deveras.
Ora, se, por um lado, o autor defende que os livros não ensinam nada quando comparados com a vida; por outro lado, parece sugerir que os melhores produtos da vida são os romances de Dickens e Balzac. Não deixa também de ser curioso que a sua descrição da educação campestre, acima citada, tenha como inspiração o poema “There was a Boy”, de William Wordsworth. Como se isto não bastasse, Stevenson nunca se proíbe de invocar personagens de Shakespeare ou de citar directamente ensaios de William Hazzlit para clarificar alguns dos seus argumentos. Recomendar o afastamento dos livros através de um livro que está, directa e indirectamente, repleto de exemplos literários, parece permitir-nos pensar que estamos perante um caso de falta de sinceridade do género “faz o que diz São Tomás, não faças como ele faz”. Todavia, o que Stevenson nunca diz directamente, mas que o seu texto acaba por deixar claro é que para o autor há duas espécies de livros: os livros técnicos, que conduzem à especialização e ao estreitamento do espírito, e os livros da vida, que alargam o espírito: os livros técnicos e a literatura, sendo que a sua aversão pelos livros da primeira categoria encontra um par perfeito na sua paixão pelos livros da segunda, como nos revela a própria biografia do autor.
Em 1867, Stevenson entrou para a Universidade de Edimburgo para estudar engenharia, de modo a seguir os passos do pai e o avô paterno, ambos engenheiros respeitáveis. Porém, Stevenson nunca mostrou qualquer tipo de entusiasmo pelo curso que frequentava, dedicando a maior parte do seu tempo de aluno à “Sociedade Especulativa”, uma associação que organizava debates e palestras públicas e que terá sido fulcral para, entre outras coisas, a composição de A Conversa e os Conversadores e, mais importante, para o facto de Stevenson ter decidido abandonar o curso de engenharia para se tornar escritor. Ainda assim, o seu pai convenceu-o de que, dada a instabilidade financeira característica da vida de escritor, seria melhor formar-se em Direito, sugestão que Stevenson aceitou igualmente com pouco entusiasmo, apesar de ter conseguido terminar o curso. A educação oficial de Stevenson nunca foi aquela educação ampla defendida por Newman, mas sim uma educação virada para a especialização e que Stevenson sempre considerou que lhe estava a amputar o espírito. Apologia do Ócio é, então, uma proposta de alguém que se sente vítima da apologia da especialização. Sabendo isto, torna-se claro que este ensaio é intimamente autobiográfico, o que mostra que Oscar Wilde estava certo quando afirmou que a melhor crítica é sempre “o registo da alma de alguém”.
Jorge Almeida é aluno de doutoramento em Teoria da Literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

















