Título: “À Beira da Água”
Autor: Paul Bowles
Editora: Quetzal
Tradução: Vasco Teles de Menezes
Páginas: 512
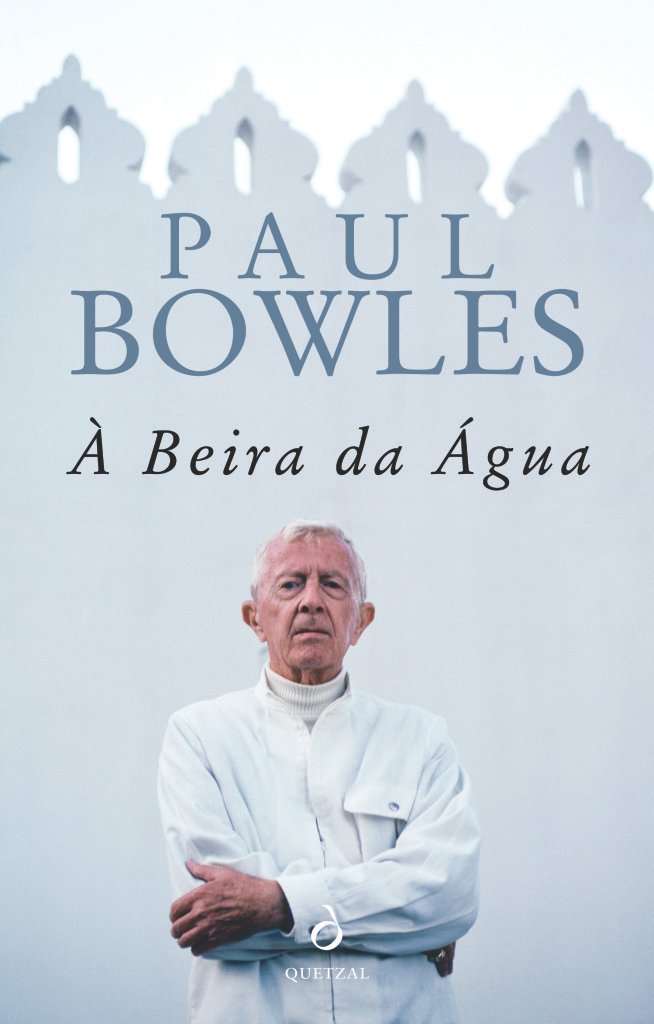
À Beira da Água é o primeiro de dois volumes que a Quetzal Editores irá dedicar aos contos de Paul Bowles; nestes, escritos entre 1946 e 1964, o que prevalece é a estranheza das situações que compõem cada uma das histórias. No entanto, esta sensação deve-se apenas à não-familiaridade com as pessoas e costumes dos lugares onde as histórias se passam. É, obviamente, apenas circunstancial (como as leituras que fazemos e a contiguidade entre elas) que haja em Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, uma passagem que descreve com uma adequação surpreendente aquilo que se passa nos contos de Bowles:
O que mais digo: convém nunca a gente entrar no meio de pessoas muito diferentes da gente. Mesmo que maldade própria não tenham, eles estão com vida cerrada no costume de si, o senhor é de externos, no sutil o senhor sofre perigos.”
O aviso que está a ser feito tem um único propósito: alertar-nos para o facto de haver sítios onde as coisas se fazem de um modo diferente daquele a que estamos habituados; ignorar essa diferença pode colocar-nos em situações inesperadas e prejudiciais.
Só esse desconhecimento da maneira como as coisas se fazem pode explicar o que acontece em “Um Episódio Longínquo”, onde a personagem denominada apenas “o Professor” cede ao seu capricho de coleccionar caixas feitas com úberes de camelo; inquirir acerca destas caixas é incorrer num desrespeito pelo carácter dos que vivem na cidade, uma vez que o comércio daquele tipo de mercadoria está a cargo de reguibats, membros de uma tribo que vive no deserto, desprezada, e temida, pelos cidadãos. Na sua ignorância, o Professor é dirigido a membros dessa tribo e feito cativo, sendo treinado a agir como se de um animal amestrado se tratasse: “por essa altura, já o Professor se encontrava muito mais bem treinado. Era capaz de fazer um salto mortal apoiado nas mãos, uma série de rosnares assustadores (…); e, quando os reguibats lhe tiraram as latas da cara, descobriram que era capaz de fazer umas admiráveis caretas enquanto dançava” (p. 50).
A qualificação que mais vezes surge associada ao nome de Bowles é a de “expatriado”, designando um ocidental caucasiano abastado que decidiu viver noutro sítio que não aquele onde nasceu (traço comum a muitas das suas personagens). No caso do autor, nascido em Nova Iorque, a sua predilecção recaiu sobre a América Central e, especialmente, o Norte de África, com incursões breves pela Índia e por ilhas ao largo do oceano Atlântico e do oceano Índico. No entanto, estes contos não tratam apenas de ocidentais que visitam lugares habitados por povos com crenças e costumes diferentes; na maior parte das histórias, há personagens estrangeiras, sim, mas estrangeiras no sentido de estranhas a uma comunidade.
No conto “Em Paso Rojo”, duas irmãs saem da cidade para visitar o irmão no rancho que adquiriu. Uma delas, Lucha, lamenta que o irmão, em tempos “o melhor dançarino de todos os membros do country club”, se tenha tornado um camponês: “Sabia que o rancho o tinha tornado feliz, tolerante e sensato; parecia-lhe triste que o irmão não pudesse ter sido essas coisas sem perder o lustre de pessoa civilizada” (p. 90). O rancho é então sinónimo de mundo não-civilizado, conceito para o qual muito contribui a convivência contínua com os índios que trabalham na propriedade. Chalía, a outra irmã, parece mais empenhada em participar dos hábitos deste lugar, mas as suas estratégias de participação falham porque assentam desde logo num princípio que mina qualquer tentativa de pertença: ela vê os índios, tal como Lucha, enquanto “animais que falam” (p. 89). Por isso, quando o índio que tenta seduzir a rejeita, Chalía concebe um esquema que leva a que ele seja despedido do rancho, abalando pela primeira vez a certeza do irmão quanto à natureza dos seus trabalhadores. O conto termina com Chalía “a pensar que tinha demorado surpreendentemente pouco tempo a habituar-se à vida em Paso Rojo e até, era obrigada a reconhecê-lo, a começar a gostar dela” (p. 112); o que lhe permitiu esta habituação foi ter sido bem-sucedida na sua forma de lidar com aquilo que não lhe agradava: Chalía aprendeu os termos em que poderia viver neste sítio novo.
O mesmo não acontece em “O Pastor Dowe em Tacaté”. Destacado para a localidade de Tacaté, o pastor Dowe tenta adaptar-se aos costumes locais para converter os habitantes à crença católica, fazendo cedências consecutivas relativamente às sessões dominicais, passando a intervalar o sermão com música e a distribuir barras de sal pela congregação: “Afinal de contas, que princípio é que eu estou a defender se não lhes der aquilo? Querem música. Querem sal. Vão aprender a querer Deus” (p. 166). Esta certeza, tal como a crença que lhe subjaz, vacila quando o pastor Dowe visita o local onde as duas divindades do povo de Tacaté vivem: uma delas é Hachakyum, o deus dos índios de Tacaté, e a outra é Metzabok. Este último é o criador de “todas as coisas que não pertencem aqui” (p. 159), a Tacaté, e é por essa razão que é dito ao pastor Dowe que Metzabok “é o seu deus” (p. 175): o pastor Dowe não pertence, nem nunca pertencerá, àquela comunidade, e prova disso é a sua fuga quando lhe oferecem para mulher uma criança índia de sete anos.
Como as coisas são
O que surpreende nos contos de Bowles, e parece ser nisso que a maior parte deles se foca, é que o modo de se passar a pertencer a uma comunidade a que somos estranhos consiste sempre num acto que, embora nunca qualificado moralmente, só pode ser descrito por nós (“os de externos”, segundo Guimarães Rosa) enquanto maldoso. Em “O Quarto Dia a seguir a Santa Cruz”, Ramón, o mais recente membro da tripulação de um navio, é ostensivamente ignorado pelos outros marinheiros até tratar cruelmente um pássaro que tenta abordar o navio; a partir desse momento, é reconhecido como um dos do grupo. Chalía torna-se capaz de viver em Paso Rojo quando maltrata e prejudica um índio e o pastor Dowe teria sido integrado por completo na comunidade de Tacaté caso tivesse cedido ao último dos costumes a que foi submetido.
Aprender e aceitar costumes implica aprender e aceitar as crenças que são inseparáveis desses costumes, e se certos hábitos não nos são familiares tal deve-se a não partilharmos das crenças que lhes estão subjacentes. As histórias de Bowles passam-se com pessoas que acreditam que comer corações de bebés recém-nascidos durante a gravidez confere à criança por nascer a força de trinta e sete homens; pessoas que acreditam que a mistura de sementes de uma planta alucinogénia, picos de porco-espinho em pó, mel, um lagarto enlatado e incenso é mágica e capaz de lançar maldições; pessoas que acreditam na existência de um espírito maligno que persegue “homens solteiros que estejam ao pé de árvores e de água doce não estagnada” (p. 460). Porém, nestes contos há também aqueles que acreditam que os seus sonhos têm um significado que lhes vai ser revelado no decurso da vida e os que crêem que, só por terem pensado num acontecimento (normalmente, a morte de alguém), esse vai concretizar-se. A primeira enumeração de crenças não difere em natureza destas segundas, que apesar de nos serem mais próximas se tornam tão estranhas quanto as primeiras por contaminação. É possível perceber, por isso, porque é que, quando a acção de alguns dos contos de Bowles tem lugar em Nova Iorque ou em Inglaterra, a tensão entre o estranho e o familiar permanece.
Por mais violenta ou aparentemente implausível que seja a sucessão dos acontecimentos em cada conto, o que sobressai sempre é a naturalidade com que Bowles os relata: a sua prosa é feita de frases curtas, num tom imparcial, de quem observa sem questionar. Apercebermo-nos desta naturalidade não diminui, antes contribui, para a nossa perplexidade, à semelhança do que sente o fotógrafo de “Tapiama”:
“Isto é tudo um absurdo.” Só podia desconfiar da extrema naturalidade com que tudo aquilo se estava a desenrolar (…). “As coisas não acontecem desta maneira”, disse para os seus botões, mas como, sem sombra de dúvida, era isso que se estava a passar, questionar fosse como fosse aquele processo só poderia levar à paranoia. (pp. 406-7)
Tal como em “Um Episódio Longínquo” não entendemos por que o Professor é tão facilmente guiado até aos reguibats, mesmo existindo todas as indicações de perigo, no conto “Tapiama” também estranhamos a prontidão com que o fotógrafo acede à interpelação de um barqueiro e é levado para um local que não conhece. A acção decorre como se o fotógrafo não detivesse qualquer poder de decisão, como se as coisas tivessem de se passar exactamente assim, por pouco razoável que isso nos possa parecer.
Os contos de Bowles, contudo, não são construídos de modo a imprimir um carácter de necessidade aos acontecimentos – é assim que as coisas se passam e não de outra maneira apenas porque é assim que as coisas se fazem nestes lugares. Tratando-se de contos escritos ao longo de dezoito anos, é perceptível o modo como Bowles experimenta várias estruturas, estilos e géneros, o que é compreensível; o que os anos não denotam é uma progressão qualitativa, indicadora de um maior domínio técnico da escrita: a qualidade dos contos é errática, especialmente no que toca à adequação da estrutura e da história que é contada. Mas há uma constante, que Bowles partilha com o narrador de Grande Sertão: Veredas: a convicção de que “viver é muito perigoso”.
Helena Carneiro é aluna de doutoramento no Programa em Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa.

















