Tente dizer o que é o “azul”, o “preto” ou o “vermelho”. Verá que não consegue enunciar nada de concreto, apenas nomear coisas que para si têm esta cor. Se pedir a alguém ao seu lado para lhe descrever o que é o verde, verá que a pessoa dirá coisas completamente diferentes das suas. Talvez até aquilo que para si é verde para a outra pessoa seja azul, ou amarelo. E nenhuma impressão estará errada. Precisamente porque as cores são, antes de mais, construções sociais, emocionais, psíquicas e só depois fisiológicas. Por isso a história das cores é tão rica e fascinante, cheia de metamorfoses, sonhos e pesadelos. Por isso quando uma cor entra na moda ela não é apenas um pigmento para exibir na passerelle mas um compósito cultural que atravessa os milénios, como explicam os fascinantes livros das cores de Michel Pastoureau, que a Orfeu Negro está a publicar. Em 2014 saiu Preto – História de Uma Cor e agora acaba de chegar às livrarias Azul – História de Uma Cor. Esta tetralogia inclui ainda a história do Vermelho e do Verde, cujas traduções a editora promete para breve.

Para o pintor impressionista Vincent Van Gogh, o céu da noite era azul claro. Porém, todos nós vemos aqui a noite.
O mundo está cheio de cores. Cada vez mais saturadas, intensas, brilhantes. A moda e o design, omnipresentes na nossa vida quotidiana, encarregam-se de colorir o mundo e as novas tecnologias permitem chegar a tonalidades cada vez mais criativas. A indústria do vestuário, dos automóveis ou da publicidade cria desejos por determinadas cores e faz obscurecer outras. Sim, as guerras económicas também influenciam as cores e é assim há muitos séculos. Basta olhar para a quantidade de palavras novas que entraram no nosso léxico nos últimos anos, apenas para nomearem novas tonalidades, para avaliarmos o crescente poder da cor. Até já existe um Instituto Internacional da Cor — a Pantone –, que determina (ou tenta) as cores que estão in e out num relatório que depois as várias indústrias seguem de forma mais ou menos submissa.
Porém, basta ler Pastoureau, historiador e especialista em simbologia ocidental, para perceber como tudo isto é efémero, pois as cores acabam sempre por se revoltar contra as leis que as tentam controlar. Sejam da religião, da economia, dos movimentos artísticos e mesmo da ciência ou da memória. Durante séculos as cores eram uma qualidade, um atributo. Hoje em dia são um conceito abstrato. Daqui a um ou dois séculos serão certamente outra coisa, defende o historiador. O verde, por exemplo, foi durante séculos a cor do veneno, do azar, foi uma variação do azul sem direito sequer a nome próprio. Hoje é a cor da liberdade e da ecologia. O amarelo, tão valorizado pelos povos antigos e ligado aos rituais do sol, foi, durante milénios, a cor dos proscritos — vestiam-se de amarelo os loucos, os judeus e as prostitutas. O vermelho, cor central da humanidade desde a pré-história, hoje símbolo do amor e da vida, foi quase banido da Europa durante os anos da Reforma e da Inquisição: era a cor do Diabo, do pecado.

Algumas atribuições sociais e emocionais das cores ao longo dos tempos , segundo Michel Pastoureau.
No princípio era as trevas, depois fez-se luz… e nasceram as cores
Ao contrário do que se possa pensar, as cores não vieram da Pantone, o preto não foi inventado pela mademoiselle Chanel para fazer o little black dress e o azul não nasceu para tingir calças de ganga. Na verdade, o azul, que hoje é a cor preferida da esmagadora maioria dos ocidentais, só ganhou importância no século XIII. Ou seja, nos primeiros mil anos do cristianismo, onde o céu tem um papel fundamental, o azul praticamente não existia. Na Grécia e na Roma antigas ele também quase não era nomeado, nem usado, ao ponto de ter havido cientistas que consideravam que este povos não conseguiam ver o azul. Foi preciso que os vitralistas das catedrais góticas do final do século XII começassem a usar o azul (e não o branco, o transparente ou o preto) para pintar o céu para que este passasse a dizer-se azul.

Preto – História de uma cor, o primeiro livro da tetralogia de Michel Pastoureau, foi publicado pela Orfeu Negro e custa 15€
No Génesis, na Bíblia e na Teoria do Big Bang, conta-se que primeiro houve a escuridão e depois fez-se luz (fiat lux!). O preto foi, segundo todas estas formas de explicar as origens, a primeira cor. Mas era mesmo uma cor? Ou apenas uma ausência de luz? Era símbolo de nascimento e fertilidade, ou símbolo de morte, devastação e terror? Era uma cor ou uma não-cor? Estas ambiguidades fazem do preto uma das matizes mais cativantes do mundo e o livro de Pastoreau mostra como, ao longo dos vários milénios, o negro oscilou entre ser a cor mais amada e a mais temida. A única que tem um bestiário fabuloso que vai do corvo ao urso, passando pelo lobo, até aos homens de outras raças.
Presente nas pinturas rupestres, pois o fogo permitia fazer vários pigmentos pretos, terá sido também a primeira cor a ser usada para tingir tecidos, logo seguida dos vermelhos e ocres e depois do branco, obtido através de vários tipos de pedras. Assim a primeira trilogia de cores foi o preto, o vermelho e o branco. Daí que todas as mitologias, contos de fadas e literaturas antigas girem sobretudo em volta destas três cores. Por isso o capuchinho da menina é vermelho, ela vai levar à avó um pote de manteiga branca e encontra o lobo mau, negro. O mesmo acontece na Branca de Neve, que é branca e come uma maçã vermelha, dada pela madrasta/bruxa vestida de negro.

Audrey Hepburn, a rainha do “vestinho preto”, a peça de roupa que mais contribuiu para a reabilitação desta cor controversa. (Foto: Keystone Features/Getty Images)
Para os povos antigos o negro era símbolo de fertilidade, na Roma antiga era uma cor de prestígio, ao passo que o azul era a cor do mal, associada aos povos bárbaros. Nascer de olhos azuis era considerado uma anormalidade, sinal de demência ou de malignidade. Por isso não há na literatura ou na poesia antigas qualquer descrição de água ou mar azul. A água é sempre verde, negra ou castanha. Com o catolicismo, o negro — niger, em latim — tornou-se símbolo do mal, ao ponto de durante séculos a igreja ter proibido que se comessem animais negros.
A dificuldade em obter pigmentos negros de boa qualidade era grande e a de obter azuis era ainda maior. Os tecidos eram tingidos com fumo, cascas de frutos e madeiras, o preto não era certamente aquilo que hoje consideramos preto e, em algumas culturas, como a latina, o roxo ou o azul escuro chamavam-se subniger. Eram tonalidades do negro, daí o roxo estar associado a cerimónias religiosas e a rituais fúnebres. Por isso nos primeiros séculos do cristianismo as cores dominavam e o negro quase desaparece — Deus era símbolo da luz, logo todo o colorido era uma forma de diálogo com o divino. Os tintureiros especializavam-se em tons de vermelho e suas variantes, em laranjas, rosas, brancos.
Mas este império da cor vai acabar no século XIV. A peste-negra, guerras várias e uma economia de rastos vão impor leis sumptuárias, que definiam o vestuário de cada classe social. Com estas leis foram proibidas muitas cores e os próprios monarcas vestiam-se de negro, tal como os camponeses. O negro volta a ser uma cor sem cor, o que viria a ser incrementado com a descoberta da imprensa. O mundo difundia-se nos livros e os livros eram a preto e branco. Logo passou a haver uma clivagem entre “o mundo a cores do real” e o “mundo a preto e branco dos livros”. Quando, na segunda metade de seiscentos, Isaac Newton descobre o espetro das cores, o negro não existe. Prova-se que é ausência de luz, deixa de ser considerado uma cor e assim se mantém praticamente até ao século XX. Aqui vai ganhar uma nova conotação e uma nova carga simbólica: a cor da transgressão… (e não vale contar o resto, para não ser spoiler).
Quando o arco-íris não tinha azul
A história do azul conta-se mais pela sua ausência do que pela sua presença. Esta quase inexistência é ainda mais curiosa quando hoje vemos azul em todo o lado: no céu, no mar, nas fardas de todo o tipo de autoridades, nas bandeiras de muitos países e de tudo o que são instituições internacionais, da ONU à União Europeia, nas calças de ganga, fardamento obrigatório da humanidade. Como alerta Pastoureau, talvez em breve deixemos de ver o azul, mas agora devido à sua omnipresença. Deixaremos de o sentir.
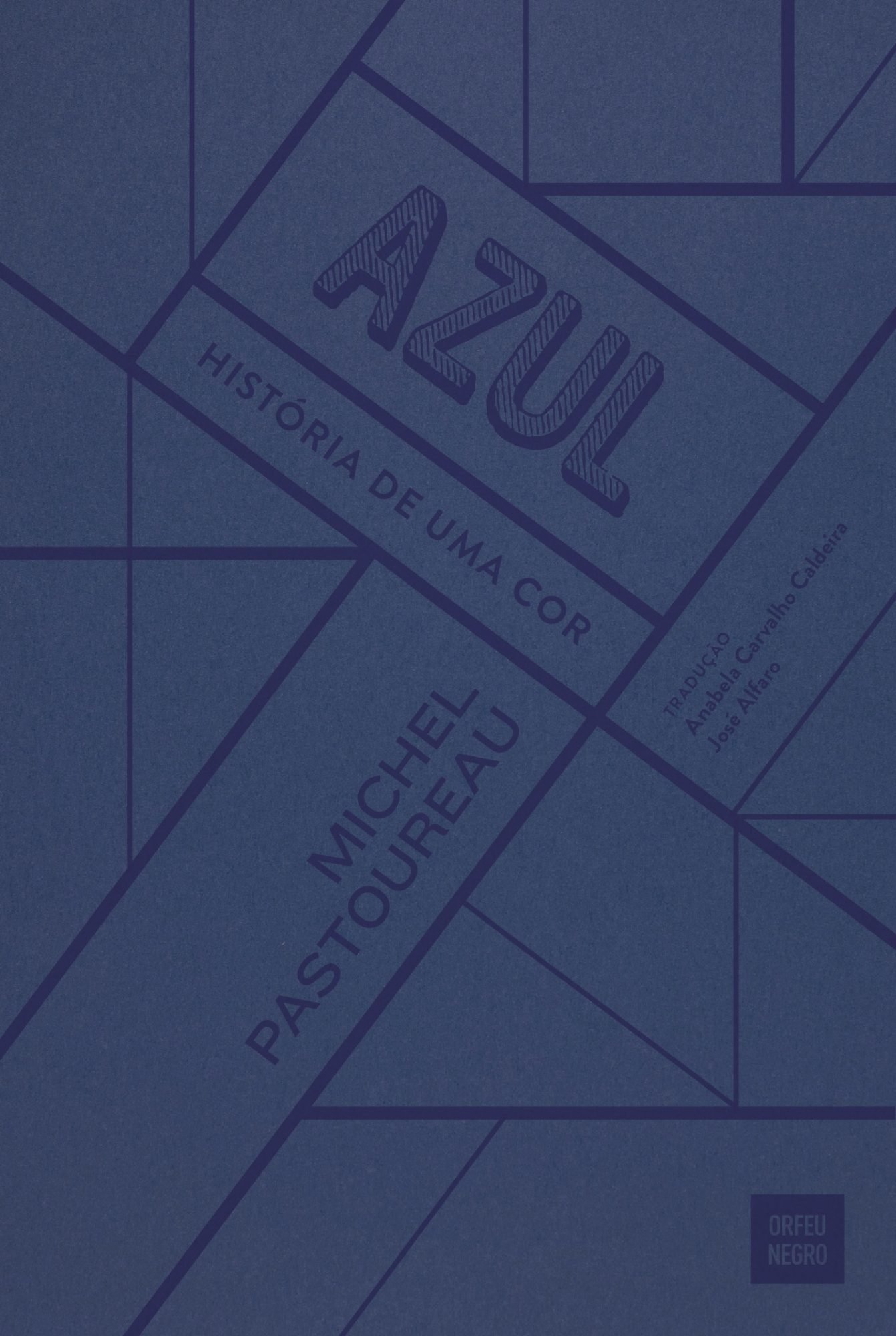
Azul – História de uma cor acaba de chegar às livarias. Custa também 15 euros.
Durante milénios, o céu, o mar, o arco-íris não tinham azul. Aquilo que hoje classificamos de azul era o cerúleo, mas esta palavra tanto servia para designar o verde como o roxo ou o azul. E a razão é muito simples: era muito difícil, na Europa, encontrar formas de produzir pigmentos de azul. O mesmo já não acontecia no Oriente ou nos países do Crescente Fértil que tinham indigueiros, de onde se poderia extrair o famoso índigo, que os árabes chamavam de azur e que ficou na nossa língua como azul.
De facto, foi a igreja católica a difundir o azul, não por casa do céu mas por causa do manto da Virgem. Esta opção artística aconteceu por volta do século XIII e, a partir daí, o azul ganhou autonomia do verde e do preto e propriedades positivas de pureza, leveza e paz. O furor foi de tal ordem que todos queriam vestir azuis (apesar da dificuldade em fabricá-lo). Os vitrais das igrejas passaram a usar esta matiz para fazer o fundo, contraponto das figuras de primeiro plano, e de repente o céu tornou-se azul aos olhos dos homens ocidentais. Houve mesmo guerras e lobbies com os tintureiros do vermelho que não se conformavam em perder o monopólio da indústria de tinturaria. Claro que estes azuis eram escuros, pois a produção de azuis claros e fortes só começou com os Descobrimentos e a facilidade em trazer índigo da Índia e das Américas.

A partir da segunda metade do século XX a ganga fez do azul uma cor incontornável. (Foto: Christian Marquardt/Getty Images)
E nunca mais o azul saiu de cena. Mesmo durante os anos da Reforma e da Inquisição, onde foram proibidas as cores, o azul conseguiu manter-se por ser considerado discreto. No século XX, a cor afirmou-se já não através da religião ou da política mas pelo uso das calças de ganga. Quase podemos dizer que o judeu Levi Strauss fez mais pelo azul do que séculos de cristianismo sempre a apontar para o céu.

















