Considera que o último grande romance que se produziu na literatura portuguesa no novo milénio foi Myra, de Maria Velho da Costa, e critica a obsessão dos romancistas e poetas do pós 25 de Abril pelo realismo de inspiração televisiva. A propósito do ensaio A Chama e as Cinzas, agora publicado na Bertrand, o ensaísta e tradutor João Barrento falou com o Observador e partiu em busca dos “pirilampos”: pequenas luzes que “irradiam no escuro da literatura e da poesia”, que não são fáceis de encontrar mas que ainda assim, são aquilo que o faz “acreditar no futuro”.
Neste ensaio que nasce em 1997, a convite de Vasco Graça Moura para a Feira do Livro de Frankfurt, Barrento traça um arco de uma vida, entre “o dia inicial inteiro e limpo”, cantado por Sophia, e a literatura em tempos de indigência dos dias que correm, onde, diz, “a literatura portuguesa tornou-se um reality-show”, onde a crítica e a interrogação do mundo “cederam lugar ao sentimentalismo”. Escritos originalmente em alemão, estes textos tiveram o título Nelken und Immortellen. Portugiesische Literatur der Gegenwart [“Cravos e Perpétuas. A literatura portuguesa contemporânea”] e estão também publicados na editora berlinense Tranvia.
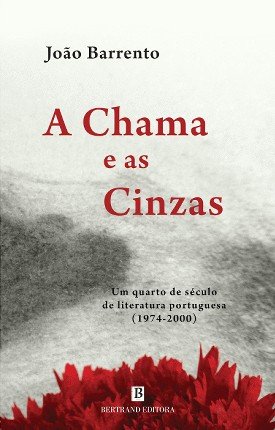
A Chama e as Cinzas tem a chancela da Bertrand. Preço. 14,40 euros
João Barrento traduziu muitas obras de poesia, ficção e filosofia de língua alemã: Rilke, Paul Celan, poetas expressionistas alemães, Robert Musil ou Walter Benjamin. Mas é também um ensaísta com cerca de duas dezenas de obras publicadas. Foi professor na Universidade de Hamburgo, na Universidade de Lisboa e na Universidade Nova. Atualmente é o responsável pelo espólio e divulgação da escritora Maria Gabriela Llansol.
Defende que a literatura portuguesa das décadas depois de Abril é um sismógrafo da realidade e que os mais interessantes desvios, as maiores audácias temáticas e estilísticas foram feitas por mulheres, em especial Maria Gabriela Llansol. É um traço geral acertado?
Depois de anos décadas de uma “escrita de escravos” debaixo da ditadura, o 25 de Abril e o que com ele adveio — fim do Império, Guerra Colonial, Europa — fizeram com que o mais obsessivo tema da literatura portuguesa fosse a Identidade. Quer através do romance histórico, onde o pano de fundo é sempre Portugal, seja para o corrigir e para redimir nostalgicamente os esquecidos da História, seja para criticar e auto-flagelar a condição de português, seja para satirizar ou para salvar a tal alma portuguesa.
É normal que depois da ditadura tudo o que estava subterraneamente guardado viesse à superfície. Mesmo os livros de Llansol, na sua atemporalidade, e ainda que remetam para a história humana, não deixam de tocar a história portuguesa. O mesmo aconteceu com a poesia em grupos como o do Cartucho (Joaquim Manuel Magalhães, João Miguel Fernandes Jorge, Helder Moura Pereira, António Franco Alexandre) que obrigaram a poesia a um regresso ao real. Mas um real que espelhava o novo Portugal, urbano, fortemente desencantado, profundamente melancólico, mesmo se irónico. É aqui que encontramos também poetas como Vasco Graça Moura, Fernando Pinto do Amaral, Luís Miguel Nava, Al Berto…
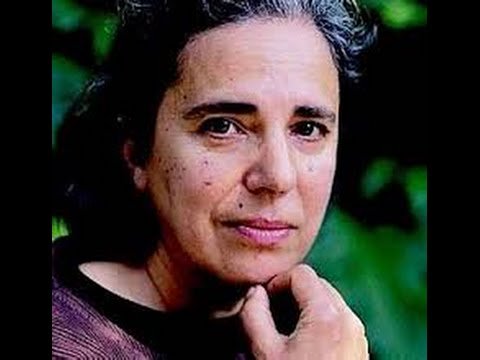
João Barrento tem dedicado os últimos anos ao estudo e divulgação de obra singular de Maria Gabriela Llansol
A importância das escritoras para a renovação da literatura portuguesa é algo que já vem dos anos 60 mas que se vai solidificar nos anos 80 e 90. Quer no romance, com Agustina, Lídia Jorge, Maria Velho da Costa, Teolinda Gersão, quer no conto com Maria Judite Carvalho, Teresa Veiga, Luísa Costa Gomes, quer em obra sem género definido como são os livros de Llansol ou Hélia Correia, foram as mulheres que mais arrojaram em termos temáticos, estilísticos. Elas introduzem uma desordem, com a polifonia, a meta-narrativa, a intertextualidade, uma nova ordem do simbólico que se manifesta na forma como usam os tempos, a autoreferencialidade, a subjetividade. Nas escritoras a busca de uma voz é a busca de um sentido e, nesse caminho, elas fizeram uma rebelião contra o discurso masculino que dominava a ficção portuguesa. Penso que o romance mais importante que foi escrito depois de 2000 foi Myra de Maria Velho da Costa, que continua a ser a nossa maior escritora viva. Não me parece que nada do que foi feito entretanto se possa comparar.
Nem casos em que a crítica foi unânime, como o de Dulce Maria Cardoso e o livro O Retorno, por exemplo?
Considero que estes romances que estão hoje a ser escritos sobre a Guerra Colonial, o pós-colonialismo, estão demasiado ancorados na linha documental e excessivamente personalizados nas experiências dos seus autores. Talvez esta nova geração necessite de reagir contra a visão mágica e mítica das obras anteriores, como as de Lídia Jorge, de Teolinda Gersão ou mesmo de António Lobo Antunes mas, na verdade, são obras que não rebentam os estereótipos dominantes relativamente a esta temática.
Escreve que a literatura, como a poesia, “não é apenas contar uma história”…
Claro que não. A literatura e a poesia são sobretudo um trabalho de estruturação de um olhar sobre o mundo e depois a colocação desse olhar sob a forma de linguagem. Uma linguagem que não se limite a contar factos (isso, lá está, é o que fazem os media) mas que dê a ver o invisível através do visível. Isto não é uma questão de rejeitar o realismo mas sim da forma como se pode dar a ver esse realismo. Não há certamente escritor mais realista que o Beckett e no entanto olhe-se para a linguagem dos livros dele…
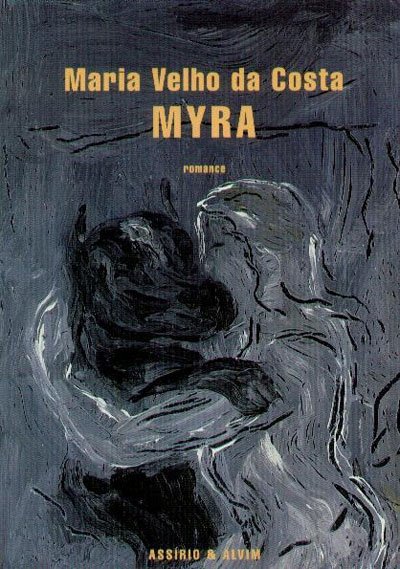
“Myra”, de 2006 é, para Barrento, o melhor romance que a literatura portuguesa produziu no novo milénio. Desde então Maria Velho da Costa não voltou a publicar.
No seu livro escreve que voltámos a uma ficção conservadora, que “parece estar totalmente refém da linguagem televisiva, do videoclip, e totalmente incapaz de interrogar criticamente a consciência do leitor e o mundo em redor”. Porquê?
A imposição do romance quase como sinónimo de literatura apagando a poesia e o conto, o realismo de cariz conservador e banal, a pobreza da linguagem, são sintomas de um mundo sem memória, onde a cultura, a arte e a literatura se regem por paradigmas economicistas. O único lugar onde ainda existem valores é na Bolsa. A vida das pessoas gira em torno do consumo e das vivências do corpo mas apenas na sua perspetiva hedonista. Logo, o simbólico, a letra, a palavra saem a perder. A tecnologia apaga a palavra. A literatura foi totalmente contaminada pela acumulação de atualidade, de informação, abdicando do espaço da História, da memória. Obriga-nos a um eterno presente onde imperam as imagens.
Sob esses escritores e poetas permanentemente sob os holofotes espreita a perda da capacidade de ler, o enfraquecimento da capacidade de enfrentar e decifrar enigmas, porque toda a sua capacidade simbólica está enfraquecida pelas mensagens dominantes, demasiado ruidosas e demasiado simplistas. Uma das grandes perdas do nosso tempo é essa capacidade imaginante só alcançável através da palavra, de uma imaginação que progride a partir da força da palavra.
Criou até uma série de siglas que usa para classificar essa nova “literatura realista” de que fala. Começou com RUST, para Margarida Rebelo Pinto. Que categorias são essas?
RUST significa Realismo Urbano Sentimental Total e criei esta sigla para a Margarida Rebelo Pinto, mas agora também lá colocaria o Valter Hugo Mãe dos últimos romances. Depois Tenho o Realismo Rural Não Total, RRNT, onde coloco o José Luís Peixoto e o Afonso Cruz, que é aquele rural exótico. Tenho ainda o Realismo Fantástico Total, o RFT dos romances do José Rodrigues dos Santos. Mas há outros, a lista seria infindável. Há agora também a moda da violência espetacular de um autor de quem já gostei mas que hoje não acho nada interessante que é o Paulo José Miranda. Na mesma linha li um livro do Valério Romão e achei que apesar de tudo ele tem mais recursos. De entre estes novos e mediáticos escritores o único cuja obra eu considero original é o Gonçalo M. Tavares. É um escritor douto, capaz de abarcar um largo espectro de temas, de formas de linguagem, é imensamente culto e consegue trazer essa cultura para dentro dos seus livros.
Quando aborda a poesia feita desde 1974 começa por citar Eduardo Lourenço: “É do silêncio de uma época que a poesia se alimenta”. Afirma que lhe interessam menos os poetas que se fixam nos seus universos pessoais “sem consequências”, e mais aqueles que na sua poesia “configuram o seu tempo”. Refere poetas ainda próximos do neo-realismo como Egito Gonçalves, até aos poetas reunidos em torno da revista Apócrifa. Mas o seu grande destaque vai para o grupo de poetas do Cartucho. Porquê estes?
O grupo de poetas do cartucho [surgiu em 1976 com a “publicação” de poemas em folhas amachucadas dentro de um cartucho de papel, como se fossem castanhas assadas] era uma reação ao grupo Poesia 61 e trouxeram não só ecos da poesia de Frank O’Hara ou Philip Larkin, da pop art, mas sobretudo trouxeram uma nova linguagem para falar do real quotidiano, que depois, nos anos 90, os Poetas Sem Qualidades tentaram imitar, embora sem os mesmos resultados. Porque enquanto os poetas do Cartucho estavam dentro do “real” de que falavam, os Poetas Sem Qualidades, na sua demanda nihilista total, posicionavam-se sempre fora desse “real”. Como se estivessem em cima, a ver o mundo lá em baixo. Por isso, considero que, até ao início do milénio, poetas mais fecundos foram aqueles que, sendo mais realistas, ficcionalizam o espaço lírico mas sem nunca abdicarem de um olhar interrogativo sobre o mundo, cultivando a abertura para novas direções poéticas. Como é o caso de Vasco Graça Moura, que faz isto chamando, ao mesmo tempo, as heranças da grande poesia europeia e portuguesa, de Dante a Camões, de Cesário a Alexandre O’Neill.

Joaquim Manuel Magalhães, fundador do grupo Cartucho, deixou de publicar em 2010, renega toda a sua obra e é um dos grandes poetas portugueses vivos.
Que percurso vê na poesia portuguesa das últimas décadas?
A poesia, como a arte em geral, é sempre a consequência de um tempo e de uma circunstância. Assim, desde os ano 70 a poesia portuguesa abandonou as suas obsessões com a metáfora e a ideologia e começou a traçar um caminho de aproximação ao “real” e à subjetividade. Isso originou projetos muito bons e outros menos, mas é certamente um reflexo do espírito do tempo. Dessa coisa que já se chamou pós-modernidade. A poesia portuguesa destes anos é uma reação a todas estas transformações sociais e emocionais, este “baldio de afetos” em que se transformaram as relações sociais, para usar uma expressão feliz do poeta Joaquim Manuel Magalhães. Penso que, recentemente, há a redescoberta de uma certa fé na poesia aliada a um olhar crítico e irreverente que muito me agrada e que está a acontecer com os poetas muito novos, na casa dos 20/30 anos. Entre eles destaco dois grupos: os criaturistas, Diogo Vaz Pinto, David Teles Pereira e Golgona Anghel ligados à revista Criatura que depois se transformou na editora Língua Morta. E os Apócrifos, um conjunto de poetas muito jovens ligados à revista Apócrifa, cuja primeira antologia vai sair em breve com prefácio meu. Também prefaciei, a pedido da editora [Maripoza Azul], o livro Groto Sato de Raquel Nobre Guerra. Era um bom livro. Infelizmente este novo dela, Senhor Roubado, já achei fraco. Mas o que importa é fazer.
Poetas que parecem estar mais próximos de nomes como Ruy Belo, Mário Cesariny, Herberto Helder…
Sim, esses poetas são como três grandes rios da poesia portuguesa, a sua obra é absolutamente singular, não se insere em tendências nem mesmo em grupos. São vozes que inauguraram qualquer coisa absolutamente nova na poesia portuguesa. Ruy Belo é o grande rio do Tempo, Herberto Helder é omnifágico, o grande devorador das experiências humanas. Cesariny é o grande destruidor dos lugares comuns. E hoje, nesta atmosfera opressiva em que vivemos, é preciso mais e mais irreverência. É preciso não esquecer que dentro do grande estômago deste mundo do consumo tudo cabe. Tudo está na iminência de ser digerido e desaparecer.
E é por isso que insiste que é preciso continuar a fazer, continuar a escrever e continuar a “procurar os pirilampos, um minúsculo brilho que só pode ser encontrado na escuridão”?
Não sou catastrofista, há muitos núcleos de resistência e gosto sobretudo dos que procuram superar-se a si mesmos. É aí que continuo a procurar os pirilampos.
Correção feita a 6 de dezembro: o posfácio do livro “Groto Sato”, de Raquel Nobre Guerra, foi feito a pedido da editora Maripoza Azul e não da autora.

















