Maria Filomena Molder é um dos segredos mais bem guardados da nossa cultura. Não porque esteja escondida, esquecida ou exilada. Escreve e publica, dá entrevistas, faz conferências em Portugal e no estrangeiro (apanhámo-la a meio caminho entre Florença e a preparação de uma conferência sobre o filme Jaime de António Reis e Margarida Cordeiro). Simplesmente porque pouca gente há, no nosso espaço público, que seja simultaneamente tão próxima e tão longínqua, tão incapturável pelos tópicos dos discursos vigentes nas artes, na sociedade, na filosofia. E, ainda assim, tão capaz de traduzir as suas contemplações, reflexões, memórias, rememorações numa escrita que nos põe dentro de uma intimidade profunda, não com ela, mas com nós mesmos.
Talvez por isso, a sua aventura filosófica, ética e estética consiga chegar a um enorme conjunto de leitores que, não pertencendo ao campo da filosofia, a encontram num ensaio sobre cinema, sobre artes plásticas, sobre poesia, sobre literatura, sobre viagens, a seguiram nas Conferências na Culturgest, a seguem nos textos que escreve para revistas prestigiadas ou quase clandestinas, para exposições.
Até 2013 era professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi discípula de Fernando Gil e pôs no mapa da cultura portuguesa um conjunto de filósofos e poetas alemães pouco estudados, como Walter Benjamin, Aby Warburg, Hermann Broch e outros muito estudados como Kant, Nietzsche, Goethe, mas aos quais ela chega a partir de um lugar novo, ousado, original que é a sua própria experiência na Terra. Ela é aquela que um dia, ao olhar para o Tejo a partir da rua da sua infância, percebeu surpreendida que já havia um mundo antes de ela chegar para o ver e que esse mundo estava à espera que ela viesse para o pensar e assim “salvar os dias todos”.

Maria Filomena Molder, numa fotografia que ela própria escolheu para se re(a)presentar. O facto de a imagem estar ligeiramente desfocada é uma das razões da escolha
Os dias são precisamente o mote desta conversa: chamou-lhes, no seu mais recente livro Dia Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais (Relógio d’ Água), um conjunto de ensaios que, tal como a viagem de Ulisses, são por vezes a travessia num mar difícil de vindimar, como o são para a própria autora que diz ter de esperar que aquilo que é dito possa ser escrito. Para ela não é imediato nem é líquido que consiga fazer esta passagem.Tal como, e pegando numa imagem da ensaísta Silvina Rodrigues Lopes, a literatura não existe sem atrito, também não existem bons livros que não oponham resistência aos seus leitores. Ainda que hoje nos queiram convencer do contrário, a obra é mais importante que a atenção que lhe é dedicada e no fim é sempre a obra que procura os seus leitores e não o contrário.
De biografia sabemos vagamente que nasceu em Campo de Ourique, cresceu no Restelo, que gostava sobretudo de ir ao cinema às matinés infantis de sábado à tarde onde, antes de o filme começar, havia uma bola de espelhos que girava sete vezes projetando no espaço cores e brilhos que se desdobravam até a sala cair na obscuridade. Que é mãe das artistas Catarina (cantora) e Adriana Molder (pintora) e é casada com o, também artista, Jorge Molder, que gosta de fazer pão e lavar roupa como as mulheres antigas, para dar formas belas à vida. Assegura que não se considera “a rainha do território benjaminiano” e diz, rindo, que “a culpa é das Ciências da Comunicação que puseram Walter Benjamin na moda”, apesar de ele ser um “filósofo muito difícil de meter o dente”. Lamenta a pouca atenção dada à obra de Fernando Gil e a não reedição das obras esgotadas do filósofo falecido em 2006: “um dos nossos pensadores mais extraordinários e um dos únicos filósofos que se dedicou a estudar obras da literatura portuguesa”.
Com o riso intacto da infância conta como lhe apetecia meter a boca e beber a cal com que se pintavam as casas antigamente, como gostava de roer a ponta das réguas de madeira. Esse riso, que foi a clave de sol desta entrevista, o leitor que o ouça nas entrelinhas…
O que estás a tentar fazer nem sempre tem bons resultados. Deita fora essa proximidade contigo, põe de lado esse feitiço da rememoração a quente. Põe o lamento na boca de outrem. Desfaz essa amizade com o teu próprio lamento. Deita pela borda fora os objectos sensíveis com os quais encheste a memória, alguns são surpreendentes, mas tens de te livrar deles e talvez te reapareçam desfigurados, macerados pelas ondas, transformados em pertenças do mar. Já não são mais teus, já não te protegem. Estão prontos para serem pastos das tuas chamas. Assim como os tens são refractários ao fogo, não consegues transformá-los em cinzas. E é isso por que anseias, sem saberes como fazê-lo. Tenta o que te disse. Requer uma disciplina feroz, uma frieza, um desprendimento, a que terás de obedecer sem teres de te decidir. Às vezes, sem dares por nada, já começaste a experiência que, também inadvertidamente, interrompes, e de novo te prendes amorosamente às tuas lembranças. Não encostes o ouvido à concha, o segredo que ouvias foi enterrado. Agora desce entre os mortos. Ao terceiro dia, ressurreição. Isso não sei.»
Motivos obrigados in: Dia Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais
No seu livro Símbolo, Analogia e Afinidade, fala sobre a afinidade como aquilo que não é da ordem da razão, nem pode dizer-se discursivamente, pois é da ordem do sentimento. Quais são as afinidades eletivas essenciais da sua vida?
Antes de responder à sua pergunta, acho que seria bom salientar que a afinidade tem uma inteligibilidade própria, incluindo as suas pedras-de-toque, exemplos que permitem uma aferição, como seja, pai-filho, mestre-discípulo, e as suas evidências, como é o caso de ela nada ter a ver com a semelhança, antes com aquilo a que Wittgenstein chama “ar de família”. Aliás, é bom lembrar que em alemão a palavra para afinidade é “Verwandtschaft”, que também quer dizer parentesco. O que não poderia ser mais instrutivo. Portanto as comparações não levam à afinidade se pretendermos estabelecer uma ratio, uma proporção. A veneração é um dos exemplos/pedra-de-toque que mais impressiona, pois a desproporção que é própria da afinidade está mais à vista: veneramos aquilo que tem grandeza, o que se eleva acima de nós, sentimo-nos também elevados e, por isso, protegidos. De outro modo, a grandeza reconhecida poderia ter um efeito devastador sobre nós.
Quanto às afinidades electivas, o meu primeiro movimento é falar de dias cinzentos, de vento, do oiro do dia (que foi nome de Editora), e logo o electivo parece contrariar a minha resposta espontânea. Mas, se formos ter com Goethe e a obra cujo título retomou na sua pergunta, verificamos que as afinidades electivas não procedem de uma escolha e que a palavra escolha está usada como se fosse a resposta a uma atracção irresistível, provocada, no caso, pela entrada em cena na vida de um casal de dois novos elementos. Primeiro, um outro homem e, de seguida, uma outra mulher, e é este segundo elemento estranho que vai provocar uma reviravolta na relação inicial, fazendo emergir a alteração que o primeiro elemento estranho já começava a introduzir. Nada de decisões reflectidas nem de movimentos da vontade. A imagem das afinidades electivas, que logo no início do romance é posta na boca de Edward (em consonância com o segundo elemento masculino), matando a curiosidade à sua mulher, Charlotte, procede da química (consideradas as suas reacções à luz de um entendimento passional): “as afinidades só se tornam interessantes quando provocam separações”.
A seguirmos Goethe, teríamos de entender as afinidades electivas no interior de um jogo de pertenças fatais, que surgem contra todas as regras da moral da época e são hostis mesmo a algumas convicções alheias à moral estabelecida. Os protagonistas desse jogo são sujeitos a sofrimentos vários sem vislumbre de consolação. Mas, habitualmente, não é assim que as coisas se passam, no momento em que se responde a uma pergunta como a sua e se revelam os nossos gostos e amores. E, no entanto, parece que teremos sempre de pagar a dívida a Goethe, pois o sentimento de familiaridade imprevisível que nos assalta quando conhecemos alguém, seja real seja personagem de um livro ou de um filme, revela qualquer coisa que estava oculto ou adormecido e foi despertado. Por ser inelutável tem qualquer coisa de angustiante. Aí temos a sensação que acabámos de nascer para a vida ou que começámos a viver num mundo que acaba de nascer.
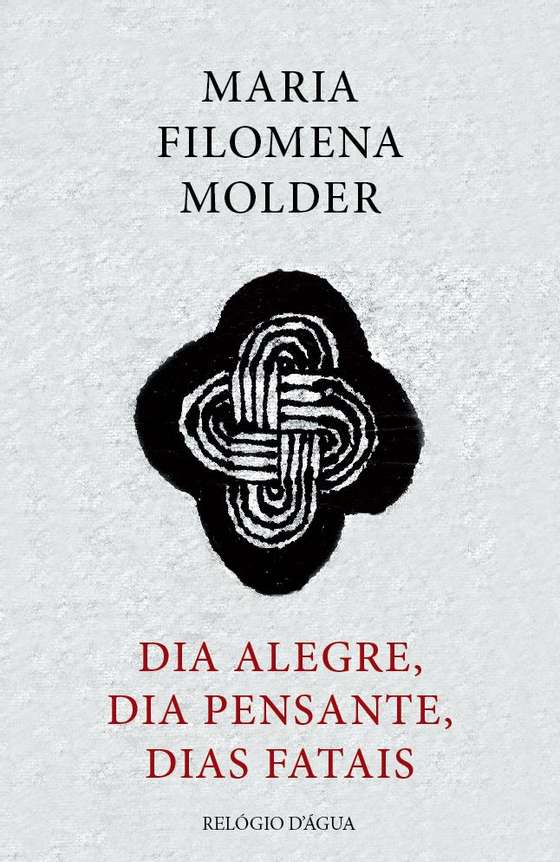
Dia Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais, de Maria Filomena Molder, Relógio D’Agua, 15.30 €
O texto que abre este seu novo livro é sobre um desenho que a sua mãe fazia e que sempre achou misterioso. As perplexidades da infância nunca deixaram de a acompanhar?
As palavras que escrevi sobre o desenho da minha mãe são uma homenagem à minha mãe, sob a forma de comunicação de um segredo que permanece intacto. E têm a ver seguramente com uma das perplexidades da minha infância que sempre me acompanham. Os dias cinzentos. O cair das aves com a calma, o calor abrasador do estio (daí o meu amor pelo Sá de Miranda). O cair da noite. Adormecer. Acordar. Os sons dos eléctricos. As fogueiras. Os nomes das coisas. Lembro-me que pelos meus quatro anos reparei pela primeira vez na palavra “cómico”, da qual duas mulheres falavam entre si. O que é “cómico”? Perguntava eu fascinada por esses sons que queriam dizer uma coisa que eu não sabia. Transporto isso comigo constantemente esse surpreender uma coisa entendida por outros, que me é desconhecida. O amor pelas ruínas, etc. e tal tem a ver com isto.
A consciência da morte adquire-se muito cedo e é, segundo Hermann Broch, aquilo que cria em nós uma “vontade de valores”. É essa consciência de que morremos sós que nos leva a querer dar à vida formas belas. E, no entanto, hoje esconde-se a morte às crianças com medo do trauma. Devíamos ler mais Hermann Broch?
Começamos a ter medo da morte e a observá-la desde a infância, associamos-lhe várias coisas como o sono, a obscuridade, a escuridão, a queda. Lembro-me bem quando ia dormir a casa da minha avó materna, em Campo de Ourique. Ela levantava-se muito cedo para comprar leite e manteiga fresca na leitaria e eu acordava e, ao pressentir que ela tinha ido embora, que tinha saído, invadia-me uma sensação assustadora de perda. A saída dela, por mais breve que fosse, trazia-me a consciência da ausência, da morte. Em Hermann Broch há uma experiência determinante na vida humana: a consciência de que se morre só. E é ela que engendra valores, como fazer pão ou fazer um poema. Ambos darão forma à vida e, por isso, são éticos; o estético é a visibilidade desse dar forma. Em Broch o ético e o estético são inseparáveis.
Depois de Rebuçados Venezianos, uma recolha de ensaios de 2016, onde se debruçava essencialmente sobre o trabalho de artistas plásticos, como Louise Bourgeois, Lourdes Castro, Antony Gormley, Vieira da Silva, reúne agora ensaios sobretudo sobre poetas, mas também memórias, fragmentos, indagações, rememorações. Que dias são estes? E porque escolheu este título, que usa num ensaio sobre o poeta alemão Hölderlin, para o livro?
Habitualmente escolho para título dos livros que reúnem escritos dispersos – e a maior parte dos meus livros estão nesta situação, com a excepção de três – o título de um deles. E, neste caso, escolhi o título do texto sobre Hölderlin. Gosto muito desse título que reúne partes de versos de diferentes poemas e de diferentes anos. Nele está tudo o que importa e se impõe na nossa vida: a alegria, o pensamento, a fatalidade. Os dois singulares e o plural pertencem também a Hölderlin.

Maria Filomena Molder e a gata Lili. Foto de Jorge Molder
Diz que só escreve por encomenda porque prefere ler. E decidiu abdicar de muitos autores que hipoteticamente lhe interessariam “para escavar, o mais profundamente possível dentro destes tesouros: Hermann Broch, Walter Benjamin, Giorgio Colli, Kant , Goethe, Dante, Wittgenstein, Fernando Gil…
Ler bem é melhor que ler mal. Em todo o caso, serão sempre alguns livros (bem ou mal lidos). Devorar livros é uma coisa que faz parte da minha vida e tem seguramente a ver com um sentimento precoce de solidão e com as tais afinidades que exigem uma dedicação a tempo inteiro. Voltar aos mesmos livros, eis o grande prazer, o grande desafio. Mas não faço disto nenhuma regra de vida. Há tantos livros que vêm ter connosco sem avisarem! Por outro lado, há muitas razões desconhecidas que nos levam a ler certos livros e a ver certos filmes, que nós próprios não consideramos bons. Vá-se lá a entender…
Esse desejo de aprofundamento, de estudo de um autor, de uma mundividência, é totalmente contracorrente com o nosso tempo em que somos inundados de “novidades”, de “génios”, sem que nos seja ensinado o valor do tempo fundamental a uma leitura séria. Tal como Broch ou Benjamin, a Maria Filomena Molder é uma autora “inactual”, inadaptada por causa desse “desejo de fazer frente ao dia, recolher as suas cinzas ?”
A tendência maior é a de recolher as cinzas do dia. Nela se inscreve a outra tendência, o desejo de fazer frente ao dia. Sou uma contemplativa pessimista, evitando fazer do pessimismo um caderno de encargos. É um combate sem fim.
Este Dia Alegre… tem sido considerado um dos seus livros mais difíceis. Isto tendo em conta que, provavelmente, é uma das nossas filósofas mais lidas dentro e fora do campo da filosofia. Tinha noção que estes textos exigiriam um esforço suplementar dos leitores?
Sim, já me disseram isso, que era o mais difícil. Quanto à pergunta, não sei. Na verdade, não costumo pensar no esforço que os leitores terão de fazer para ler o que escrevo. Por outro lado, como se trata quase sempre de textos já anteriormente publicados, alguém já os leu. E, antes disso, alguém já os ouviu. É raríssimo que aquilo que escrevo não tenha origem nalguma coisa que disse a pessoas que me estão a ouvir em aulas, conferências, etc., a convite de alguém. Daí a encomenda. Em todo o caso, falar não é escrever (como se enganam os defensores do absurdo Acordo Ortográfico!) e com a escrita engendra-se uma distância que não poderá ser apagada. É nessa distância que fazem a sua entrada muitas coisas estranhas aos olhos e ouvidos dos leitores.
Apesar de o nascimento da filosofia se cruzar historicamente com o nascimento da Tragédia e da importância do teatro, esta é uma das artes que diz “ter resistência” e o seu fascínio pela figura do actor prefere explorá-lo no cinema…
Não é por acaso que surgem na mesma altura. A tragédia é uma forma da cultura grega se ver a si própria, é o seu momento crítico. O teatro representa o momento crítico da vida de uma cultura, por isso ele é tão importante. Aqui em Portugal quem faz isso muito bem é o Jorge Silva Melo, embora exista muita gente nova a fazer coisas, mas cujo trabalho precisa de ser estabilizado para se poder asseverar que é uma crítica ao contemporâneo ou outra coisa. Confesso que tenho uma resistência ao teatro português actual. Se, por um lado, há mais atenção ao dia, ao presente, por outro há uma leviandade em relação aos textos clássicos que é considerá-los inacessíveis. Depois há a chamada “actualização dos textos clássicos”, uma aldrabice. No entanto há excepções que têm de ser sublinhadas. Além disso, há actores e, especialmente, actrizes extraordinários como podemos ver no cinema português.
Nesta obra, como em anteriores, está subjacente a ideia de que o que lhe interessa pensar são as polaridades, os opostos irresolúveis e, por isso, os mais problemáticos, como Dia e Noite, Vida e Morte, a proximidade e a lonjura, etc. Essas polaridades, curiosamente, têm sido bastante exploradas pela máquina capitalista, que as faz ressurgir continuamente, não como aporias, mas como fantasmas que se podem controlar através do ato de comprar. O Medo e o Desejo, Eros e Tanatos são as formas mais eficazes de nos controlar?
Em primeiro lugar, vou demorar-me no conceito de “problemático”, na versão que melhor me calha, aquela que considera que entre dois pontos de vista opostos não está a solução, como habitualmente se acredita, mas o problema, isto é, aquilo que queremos compreender. O problemático é, assim, uma determinação crítica do acto de conhecer, que aponta para a sua incerteza, parcialidade e incompletude. Pertence a Goethe esta versão. Em segundo lugar, as polaridades, também um conceito goethiano, são conjuntos de pares de opostos (muitos deles forças). Acrescentando mais alguns àqueles que mencionou: inspiração/expiração; contracção e expansão; luz e escuridão. Insusceptíveis de superação (entre os dois opostos não aparece um terceiro elemento que os resolvesse), são capazes de intensificação. O que é isto? Um nova forma ou um novo aspecto da polaridade se manifestar, uma metamorfose.
Concordo com o que diz sobre a exploração fantasmática das polaridades, sobretudo dessas de que falou. Por exemplo, vida e morte. Tende-se a acreditar que a morte é um acidente e que poderíamos viver para sempre, se os tubos não entupissem & etc. Isto é uma forma de ideologia que atacou a medicina e transborda todos os dias para os jornais. Por outro lado, a obsessão com a segurança, isto é a confusão entre estar vivo e sentir-se absolutamente seguro é outra forma ideológica que tomou conta de todos os campos da nossa cultura, passando por cima da compreensão precoce em qualquer criança do risco que é viver (aventura, desconhecido, perigo). O medo aumenta exponencialmente e quanto dinheiro se ganha com isto!
Voltando à morte. “Gostaria de morrer a cavalo”, confessa Montaigne, em viagem, se possível incógnito. A ele horroriza-o morrer em casa, devido a todas as corveias sociais exigidas por familiares, amigos e conhecidos. Por sua vez, Colli não perde ocasião para nos lembrar que tudo o que vem à vida é uma expressão do fundo, do poço da vida (às vezes chama-se Mães) e que qualquer expressão conhece o brilho – seja ele um instante – e o esgotamento. Trata-se de aceitar isto, sem lamento nem ressentimento. Mas o melhor é a morte do avô no filme A Terra de Alexandr Dovzhenko. Deitado sob as macieiras, como nunca as vimos, por entre as inúmeras maçãs que filhos e netos andaram a apanhar, olhando as ondas largas das searas, sorri docemente. Ergue-se por momentos, pede uma maçã e mordisca-a, limpa a boca e o sorriso regressa, uma luz toca-lhe na boca e faz brilhar tudo em redor. Cruza os braços sobre o peito e deixa-se cair. Nestes três casos, vê-se bem como as polaridades resistem a qualquer superação, e também assistimos a uma espécie de metamorfose que nos dá a vê-las como se fosse pela primeira vez.
Num dos ensaios escreve sobre o trabalho de Aby Warburg com os índios Pueblo e fá-lo para discutir a impossibilidade da síntese. E, no entanto, hoje a síntese tornou-se um operador essencial, desde o pensamento, aos produtos alimentares. Procuramos sínteses em vez de procurarmos problemáticas, substâncias complexas?
Warburg é um historiador de arte que inventou uma disciplina ainda sem nome, como nos ensinou Robert Klein, acrescentando que se inventam hoje em dia (anos sessenta do séc. XX) muitos nomes para disciplinas que não existem. Estou convencida de que essa disciplina warburguiana ainda não recebeu o nome e que o seu segredo ficou guardado nos escritos e na vida dele. Warburg é um goethiano convicto (e também nietzschiano). Daí essa atenção às polaridades e essa capacidade de surpreender afinidades, que vemos em acção na sua conferência sobre o ritual da serpente entre os Índios Pueblo (ritual a que ele não assistiu directamente, tendo recorrido a todo o género de informações presenciais). Ele não só observa as polaridades em que assenta o ritual como aquelas que o pressupõem, e ainda as relaciona com as polaridades que na nossa cultura, desde os Gregos, estão simbolicamente vinculadas à serpente: vida e morte, desejo e medo, elemento ctónico e elemento redentor (lembre-se a serpente de Asclépio, cuja imagem ainda se pode ver nalgumas farmácias). Mas Warburg não se fica por aqui, pois faz-nos ver o contraste com o homem da civilização tecnológica vigente, que ele faz coincidir com a figura barbuda do Tio Sam, aquele que já não consegue reconhecer a polaridade da serpente e apenas trabalha em vista da sua eliminação, o que é uma das sínteses mais perversas. O que tem a ver com aquilo a que se refere na sua pergunta, enquanto uma maneira de cortar os cordões simbólicos que seguram a nossa vida.

“O Jorge[Molder] às vezes apanha-me assim de olhos fechados”, explica Maria Filomena Molder
Não, não sinto que essa seja uma preocupação minha. Goethe diz que aquele que está vivo quer produzir efeitos naqueles que estão vivos, mas isso não é um movimento voluntário, antes uma sábia instrução que se recebe ao nascer. Eu não quero estar a par dos problemas actuais, são eles que se insinuam na minha vida por causa dela mesma, como é o caso da eutanásia.
Não tem televisão, não tem telemóvel, não está em nenhuma rede social e não vai pesquisar no Google o que pode pesquisar num livro. Como é que vive com a pressão que este novo mundo faz (só pelo facto de todos se comportarem da mesma forma e isso condicionar toda a realidade em nosso redor) sobre os que resistem a esta exacerbação da comunicação? Como consegue criar silêncio ao seu redor?
É tudo preguiça, não gostar de ser apanhada, sensibilidade aos sons. A coisa pior da televisão é aquele ruído sincopado como uma sequência de esgares, sem descanso. Também a luz que emite, o que é muito notório quando vemos alguém a ver televisão, parece que está a ser bombardeado. Por outro lado, convém não omitir que, embora tenha resistido muito tempo ao computador, ele faz parte agora da minha vida. É verdade que o ecrã do computador também é penoso, mas deixa-nos mais sozinhos connosco próprios, coisa que as redes sociais impedem seguramente.
Àquela lista dos meus autores que há pouco apresentou, e que nunca estará completa, acrescento apenas mais um nome: Nietzsche. E bem a propósito, pois é ele que sublinha o perigo de estar sempre a responder aos estímulos (uma vida que se limita a reagir é uma vida doente, dirá Deleuze, muito nietzscheanamente). Sendo o estímulo, não uma coisa que nos afecta, ser afectado é o coração da nossa vida, mas uma agressão que interfere, interrompe, domina e corrompe essa possibilidade de ser afectado. Resistir aos estímulos é uma condição para a saúde da nossa espontaneidade criativa.
Não nos deixam em paz…
É terrível que não nos deixem em paz, que queiram que nós saibamos tudo, conheçamos tudo, vamos a todos os lugares. Nós próprios já interiorizamos esse desejo que não é um amor pelo longínquo, mas uma ansiedade de estar em todo o lado. Ouça o que escreveu Goethe num Máxima a propósito disto:
” Sou obrigado a considerar como a maior desgraça da nossa época, uma época que não deixa amadurecer nada, o consumir o momento seguinte no momento que está a passar, desperdiçar o dia no dia e assim viver sempre ao Deus dará, sem nada ter diante de si para seguir. Até já temos jornais para todas as horas do dia e não seria difícil a uma pessoa esperta intercalar ainda outros pelo meio. Deste modo tudo o que cada um empreende, imagina, até mesmo o que tenciona fazer, tudo isso é arrastado para o domínio público. A ninguém é permitido ter as suas alegrias ou sofrer as suas dores a não ser como passatempo dos outros e assim damos por nós a saltar de casa em casa de cidade em cidade de continente em continente tudo a grande velocidade…”
Da “novilingua” da comunicação virtual ao triunfo do pensamento racional sobre o pensamento simbólico, do Acordo Ortográfico que nos destrói a memória interior das palavras e da cultura à perda de ritmo na nossa oralidade. Muitas são as coisas que a desconsolam na vida da nossa Língua, da nossa Cultura…
Lamento que as pessoas favoráveis ao Acordo Ortográfico, e sobretudo os políticos que o aceitaram e promoveram, coagindo à sua prática, não tenham tomado em consideração as críticas fundamentais que linguistas, tradutores, professores de literatura, de grande relevo, apresentaram e continuam a apresentar. Muitas vezes aponta-se a dedo aqueles que são contra o AO, apelidando-os de neocolonialistas, o que recentemente ouvimos da boca do nosso primeiro-Ministro. Trata-se de uma acusação que, nos tempos que correm, exerce um efeito mágico. Quer dizer, prescinde-se da argumentação e converte-se a acusação num facto. Outro aspecto doentio da vida portuguesa tem lugar nas nossas Universidades com a chamada “praxe”, um exercício grotesco, nalguns casos letal, de servidão voluntária, sobre a qual Etienne La Boétie, o amigo de Montaigne, escreveu um admirável discurso (deveria ser de leitura obrigatória). Numa época em que a autoridade (uma relação de afinidade) se confunde com autoritarismo, ganhou-se medo em exercê-la e as “autoridades” assobiaram para o lado, mais tempo do que seria suportável. No entanto, neste momento, alguns dos responsáveis universitários já tomaram decisões claras. Porém não se registou crise no empreendimento “praxístico”, pois chefes, instrutores, executantes e respectivo rebanho de futuros servos e futuros chefes, etc., transitaram para a praça pública. Alguns sociólogos e psicólogos mostram-se compreensivos.
E há também a articulação vocal da Língua Portuguesa…
Na televisão articula-se muito mal a Língua e o pior, o pior, são os políticos. A musicalidade da língua está a desaparecer numas cavidades bocais que parecem estar cada vez mais frouxas, é assustador, pavoroso. Fala-se para dentro, o traduzir o mundo pela palavra está agora numa zona obscura, de preguiça, usa-se indiscriminadamente palavras inglesas. Saber inglês tornou-se um valor em si, já aprender bem português não tem a menor relevância. Quando afinal ninguém pode saber falar bem uma língua estrangeira, se não souber falar bem a sua língua materna. Claro que é bom saber muitas línguas estrangeiras, quanto mais viajantes são os povos mais rica é a sua cultura, mas isto não invalida a exigência de escrever e articular bem a nossa língua. Veja se os ingleses ou os franceses mutilaram a sua língua, nomeadamente as suas palavras originárias do latim como nós fizemos neste acordo que só tem vantagens para o Brasil. Nós destruímos ainda mais a relação da nossa língua com o latim, com a etimologia tirando os “p” e os “c”, por exemplo, mas depois ficamos muito contentes, porque escrevemos em inglês palavras vindas do latim que os ingleses não mudariam para estarem mais próximos do inglês falado na América, se fosse o caso…
A poesia e o trabalho dos poetas tem sido fundamental para o seu percurso, mesmo daqueles que a quem não chamamos poetas como Aby Warburg, Clarice Lispector. Hermann Broch. poetas que vão surgindo neste livro colocam-nos sempre no acto de nomear para fazer existir, ou seja no poder da palavra como constituinte do pensamento. A leitura de poesia é uma espécie de “respiração boca-a-boca” entre poeta e leitor, como escreve no texto Confissão de uma Estranheza?
Uma curiosidade por causa do que diz sobre “aqueles a quem não chamamos poetas”. Na caso de Broch era assim que ele se apresentava, como Dichter (poeta), sobretudo no que se refere à obra A Morte de Virgílio. Respiração boca a boca é o modo que encontrei para entender o que diz Kleist num breve e extraordinário texto que levei muito tempo a digerir. Descobri esse texto – que li na tradução do José Miranda Justo –, através de uma nota de Wittgenstein que aponta para a estranheza de uma das suas passagens. Andei um ano a tentar decifrar o texto de Kleist e quase dois anos a desenrolar a estranheza sentida por Wittgenstein, de modo a pô-lo em harmonia com ela. Eis a passagem: “a coisa de que o poeta gostaria mais seria poder transmitir os pensamentos em si, sem palavras”. O que tem a ver com o tal sopro, que é insubmisso às coacções retóricas ou estéticas.
Duvido que os leitores de hoje em dia prescindam de escavar nos poemas. São poucos, nunca foram muitos[os leitores]. Mas agora dá-se mais por isso. É verdade que poesia está cada vez mais retirada, como não poderia deixar de ser numa época de indústria cultural que, ainda assim, esforçando-se por deitar mão à poesia, não o consegue satisfatoriamente, pois a poesia resiste – a língua materna é dessa resistência uma condição – a sujeitar-se às leis imperialistas do mercado, como acontece com a arte e ainda mais com a arquitectura. Hölderlin já pergunta: porquê poetas em época de indigência? Ele não responde e como poderia eu responder? Seria possível uma época que não tivesse os seus poetas?
Talvez aquela ideia benjaminiana, tão estranha aos nossos hábitos, que o inesquecível permanece inesquecível, mesmo que todos os homens se tivessem esquecido, venha aqui auxiliar-nos, aceitando que a resolução desse enigma nos faz ver melhor as coisas. Quer dizer, esquecer o inesquecível é um sinal da miséria humana, não a prova de que o inesquecível poderá ser esquecido. Daí que a nossa tarefa seja a de despertar o que foi esquecido ou quase, como Mendelssohn fez em relação a Bach. E que dizer do Livro de Cesário Verde?
Entre poetas herméticos e poetas não herméticos, não faço escolha. Nada se compreende se não vier de um movimento espontâneo nosso, que terá de se tornar uma disciplina: respiração boca a boca.
Por falar em poetas difíceis, sei que tem uma admiração enorme sobre Agustina, e irá em breve participar no Colóquio Internacional dedicado à autora, que decorre no final de Novembro, na UTAD. Como viu a decisão da Academia das Ciências em propor Agustina Bessa-Luís ao prémio Nobel em “parceria” com Manuel Alegre?
Não gosto das escolhas ex-aequo e também não tenho boa ideia das parcerias. Em política, é o que se vê, observam-se constantemente os mal-entendidos em que estão enredadas e os seus efeitos perversos. Indo direita à sua pergunta, a própria Agustina vem em meu auxílio, quando comenta a chamada compreensão à portuguesa, isto é, essa coisa de ser compreensivo, de fechar os olhos, de prescindir de julgar e de fazer justiça, preferindo a tábua rasa das diferenças reais entre as pessoas, evitando estabelecer hierarquias para não ofender ou magoar este e aquele, numa ignorância penosa, contrária à vida. Ser compreensivo é anti-agónico, e não só Heraclito me ensinou que Polemos, a guerra, é o pai de todas as coisas, como Guerreiro é o meu nome materno, e não consigo evitar dar-lhe vazão. Ignorava essa proposta da Academia das Ciências. O meu voto vai, claro, para a Agustina.
Recorre a Goethe e depois a Herberto Helder para falar do carácter inabsorvível e de certa forma fatal da Beleza. Se o Belo fosse possível ou fosse constante como tantas utopias o desenham, ser-nos-ia insuportável. O Belo seria o fim do Belo?
Deixe-me ir ter com Baudelaire, o poeta moderno, por excelência. Que os poetas e os artistas modernos sejam para ele “caçadores perdidos nos grandes bosques” diz tudo sobre o que está em causa. Não é só o sentimento de exílio em relação à cidade dos homens, a cidade indiferente, surda ao canto poético. Mas também a consciência devastadora de que o lugar das origens, “os grandes bosques”, já não é o lugar das Musas, cada um marcado pela solicitude divina. Não, agora é um lugar de errância e aflição.
E a beleza? Baudelaire imaginou-a de duas maneiras. Por um lado, como um esgrimista com o qual o ele trava todos os combates possíveis. Se nesse combate o poeta ganhar, não há poema; se ganhar o seu adversário, o poeta sucumbe, gritando de susto, e temos poema. Leia-se o terceiro poema dos Pequenos poemas em prosa, “O confiteor do artista”. Por outro lado, a beleza apresenta-se a si própria como uma mulher incapaz de emoções: “E nunca choro e nunca rio”, inspirando ao poeta “um amor eterno e mudo como a matéria”. É nos “estudos austeros” que lhe dedicam que os poetas “consomem os seus dias”. Leia-se “A beleza” das Flores do Mal. Austeridade, frieza e mudez, eis os atributos da beleza moderna. Em rigor, nos poetas antigos, medievais e renascentistas, não se poderá reconhecer uma tal visão. Esses poetas que menciona são herdeiros de Baudelaire, mesmo que não possam deixar de fazer parte da série dos antigos. Em todos eles a beleza é uma promessa, é um olhar vazio, uma fatalidade. Eles já sabiam que o belo era o fim da belo, quer dizer, já tinha ocorrido esse paradoxo do belo se tornar relativo ao gosto privado de cada um. E os poetas desembaraçaram-se como puderam desse desastre. Por exemplo, que o belo seja tido como uma promessa impede a sua submissão ao desbarato do gosto privado, ao mesmo tempo que há sempre o risco da promessa não ser cumprida.
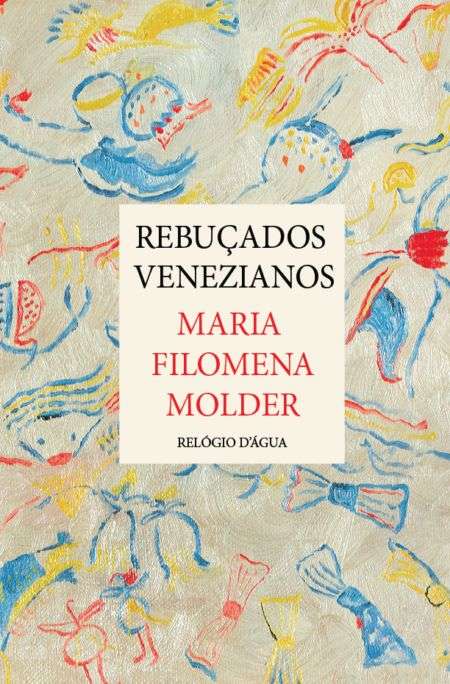
O volume de ensaios Rebuçados Venezianos, de 2016, na Relógio d´Água, 17.10 euros
E isso do “Contemporâneo” é uma coisa de vivos, de mortos ou de ambos? A palavra que se tornou jargão de discursos artísticos, políticos, científicos e de venda de banha da cobra, significa realmente o quê?
Convém aqui aplicar a fórmula de Aldo Rossi: “A cidade é um acampamento de vivos e mortos”. A arte também. Se formos à etimologia, contemporâneo vai dar no mesmo que moderno. Curioso, não é? Pois os exercícios acrobáticos que se fizeram para estabilizar, até ao anquilosamento, as suas diferenças e mesmo a sua oposição, foram de monta. Deram para vários circos.
Benjamin afirma que, num sentido excêntrico, em todas as épocas os homens foram modernos, isto é, todos eles estiveram diante de um abismo. Sentido excêntrico significa não-historicista, o mesmo sentido que faz com cada poeta e cada artista descubra a sua própria tradição, a sua própria história da poesia ou da arte, onde poderão estar, lado a lado, uma maquete suméria de um túmulo e uma escultura do Chillida; um verso de Homero e outro de António Reis.
Escrever nas entrelinhas, como Clarice Lispector, é escrever superando as analogias, sempre racionais, e integrar o enigma, integrar o não dito no que é dito, integrar formas de obscuridade numa Cultura onde as artes se converteram em produção industrial. Resta-nos ser contra a corrente como Chillida não ver, não viver a arte como refúgio mas como intempérie?
As analogias cessam sempre, afirma Lispector. Ideia que não poderia ser mais poderosa e fértil, porque é verdadeira. E isto, mesmo se é uma evidência que não pode haver analogias falsas. As duas coisas dão muito que pensar. A segunda tem a ver com a capacidade humana de atender às diferenças e semelhanças dos seres que habitam o mundo, e de formar desse modo uma comunidade compreensiva, que vai da filosofia à ciência e a todas as técnicas, que, em rigor, obedecem não só às formas, forças e atitudes dos corpos humanos (por exemplo, um lápis, uma cadeira ou um computador), como à relação entre corpos, humanos ou outros, e elementos (por exemplo, um barco ou um avião). A primeira tem a ver com as afinidades, com essa terra à qual as analogias não têm acesso. É Robert Klein a falar das obscuridades que os artistas modernos temem aceitar, como seja a beleza ou o modelo. Sabemos que a crítica da arte tentou a certa altura erradicar todas as obscuridades, reduzindo a arte a um conceito instrumental. Agora estamos em pleno reinado da clareza colonialista. Como dizia o Fernando Gil, mesmo na arte dita programática há quem consiga manter incólume a sua criatividade, às vezes sem dar por isso, e lá se vai o programa, documento de uma época, para os estudos sociológicos ou coisa do género. Sim, Chillida acerta em cheio, intempérie é e será sempre a arte, e o artista um fora-da-lei, venha ele donde vier; já refúgio é uma resposta a um estímulo, um aguaceiro ou a directiva de uma Bienal.
Joaquim Manuel Magalhães, um dos nossos grandes poetas vivos, que deixou de escrever em 2010, com o livro Um Toldo Vermelho, onde ele nos dá os poemas que ele acha que merecem ser salvos e como ele acha que merecem ser salvos. E no entanto a faca não corta o fogo e as cinzas são férteis. Virgílio também desejou queimar a Eneida. Isto é o exercício impossível de nos prepararmos para a morte?
Sublinho “o exercício impossível”. E socorro-me para começar de Gilgameš, o homem que não queria morrer e que acabou por aceitar a sua mortalidade, em princípio o autor do primeiro poema. Contar o que se passou desde que o medo de morrer atormentou a alma de Gilgameš é uma das formas daquela aceitação, a poesia poderá ser isto. E socorro-me ainda de Broch que, por várias vezes escreveu, sobretudo em cartas, que se sentia como alguém que está a escrever à pressa para conseguir ainda colocar o seu livro na Biblioteca de Alexandria antes do fogo ser ateado. Esta é outra forma de aceitação, marcada a ferros com a consciência de que o poeta é como um sonâmbulo dotado de uma lucidez intacta ao tomar a seu cargo, sem reservas, aquilo que foi chamado a fazer por não se sabe quem, convicto de que as chamas irão sempre devorar aquilo que tiver feito. As chamas têm a ver com muita coisa, incluindo a indústria cultural.
Mas queimar, cortar, deitar fora os seus próprios poemas, embora não se possa separar do que acabei de dizer, é outra coisa. Por um lado, trata-se de deitar fogo (Joaquim Manuel Magalhães) ou pedir directamente a outrém que deite fogo (Virgílio e Kafka), em vez de ser a vítima voluntária da maldição de Alexandria. Naqueles dois casos, sabemos que os amigos respectivos não cumpriram a promessa. E por isso, como acontece com Joaquim Manuel Magalhães, convém não deixar as searas próprias em mãos alheias. Em Le diable probablement, Bresson dá-nos a ver uma promessa daquele tipo que se cumpriu, um pacto entre dois amigos, um que deseja morrer, mas não se quer matar, e outro, a quem o primeiro pede para o matar sem ele dar por isso, e entrega-lhe um revólver. Eles caminham lado a lado por um pequeno bosque (ou um parque, já não me lembro), conversando. A pouco e pouco, o primeiro começa a adiantar-se, continuando a conversar, subitamente o segundo dispara e aquele que deseja morrer, morre no meio de uma frase, surpreendido. Mas ainda não chega, a destruição dos poemas – que é levada a cabo de inúmeras maneiras – no caso de J. J. Magalhães é uma forma de ele lidar com a sua poesia, um procedimento precoce, que com Um Toldo Vermelho tomou formas extremas. No entanto, quem, de entre nós, poderá asseverar que este é o último livro do poeta?
Como alguém que conhece e pensa o mundo das artes plásticas, o que lhe parece este caso da exposição de Robert Mapplethorpe em Serralves?
“O artista não tem vergonha das suas experiências, explora-as”. Subscrevo estas palavras de Nietzsche (que, em vez de artista, escreve poeta).
Nota: Maria Filomena Molder pediu ao Observador para que as suas respostas fossem transcritas sem usar as regras do novo Acordo Ortográfico
















