Título: O Riso
Autor: Henri Bergson
Editor: Relógio d’Água
Páginas: 128
Preço: 15,00€
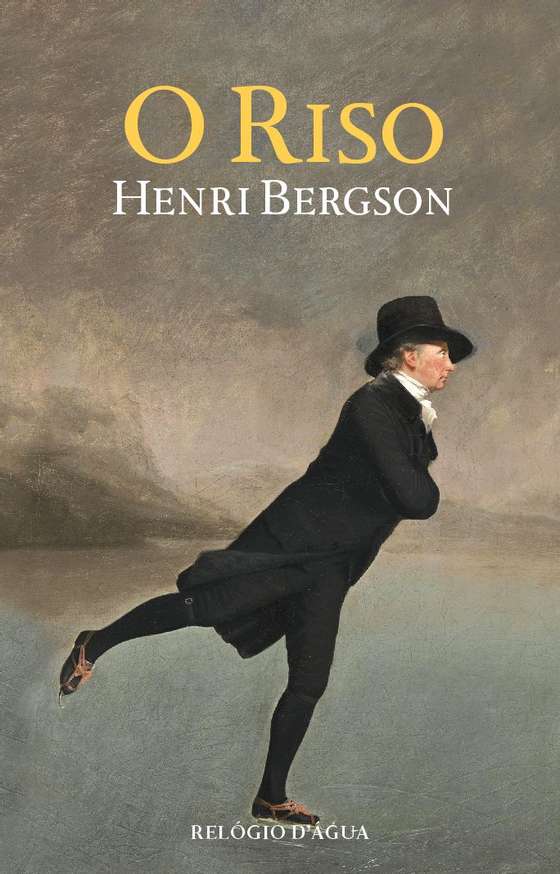
As discussões a que, sob títulos semelhantes ao deste artigo, humoristas nos habituaram em redes sociais tendem a ser invariavelmente desinteressantes porque entrincheiradas. A um canto, temos os adeptos da liberdade de expressão, a clamar contra a censura e a imposição forçada dos bons e brandos costumes a um campo que, segundo as suas investigações rigorosas, vive da transgressão. O fascismo, garantem, está já aqui à porta. No canto oposto, encontramos os que juram a pés juntos que, como aliás na vida, no humor não vale tudo, que ofender não tem piada e que a transgressão tem limites. Para sustentar a razoabilidade desta posição e assim gerar consternação, este grupo não hesita em fazer-se secundar pelo cancro, pela trissomia ou pelo luto a envolver a morte ou a amputação recente de artistas da nossa praça.
Talvez ler O Riso, de Henri Bergson, que a Relógio d’Água agora recupera, ajude a tornar esta discussão menos sensaborona. O conjunto de três ensaios, publicados originalmente na Revue de Paris em 1899, tem como premissa tentar compreender os processos de fabricação do cómico em vez de o reduzir a fórmulas simples e vastas, como as que o definem como um ‘contraste intelectual’ ou um ‘absurdo sensível’, visto que essas fórmulas não distinguem com exatidão coisas que nos fazem rir de que coisas a que não achamos piada.
Para Bergson, o riso tem uma função purgativa. Segundo o filósofo francês, rimo-nos do mecanizado, da rigidez do mecanismo (“Resolve-se deste modo o pequeno enigma proposto por Pascal numa passagem dos seus Pensamentos: ‘Dois rostos semelhantes, dos quais nenhum em particular nos faz rir, fazem-nos rir juntos pela sua semelhança’. Da mesma maneira se poderia dizer: ‘Os gestos de um orador, não sendo nenhum deles ridículo por si só, fazem-nos rir pela sua repetição’. Porque a vida viva não deveria repetir-se. Onde há repetição, semelhança completa, suspeitamos da existência de um mecanismo funcionando por trás do ser vivo” (p. 31)) Tornamo-nos risíveis, portanto, quando nos autonomizamos e permitimos que a vida e o hábito ajam por nós, quando perdemos a elasticidade e nos abandonamos ao ponto de nos tornarmos caricaturais. Por isso, ao contrário do que acontece nas grandes tragédias, as comédias podem sempre, para Bergson, ter como títulos abstrações em vez de nomes de personagens. Podem chamar-se “O Avarento” em vez de “Antígona”.
No entanto, a mecanização não basta. Para se gerar o riso, é necessário que um grupo de pessoas (o riso, defende Bergson, é sempre um riso comunitário) dirija a sua atenção para um membro que reduz ao silêncio e do qual momentaneamente se afasta. Feito isto, para que se possa rir, o grupo tem de se tornar insensível em relação ao sujeito que excluiu. Daqui decorre, evidentemente, que redes sociais que reduzem pessoas a duzentos e oitenta caracteres ou menos sirvam na perfeição o cómico, por permitirem tornar pessoas em abstrações, retirando-as de um envolvimento que as humanize. Tornar pessoas num conjunto pequeno de palavras descontextualizadas provoca, por isso, um riso tão fácil como o que é gerado por piadas acerca de comunidades percecionadas como diferentes da nossa (ciganos, loiras, alentejanos, etc.).
O problema do riso torna-se então evidente. O riso é incompatível com a sensibilidade. Se, por um lado, o riso tem um lado purgativo e útil, ao atacar tanto a vaidade, que humilha invariavelmente, como a mecanização das nossas vidas, por outro, o riso “nem sempre tem ocasião de ver para onde se dirige. O riso castiga certos defeitos pouco mais ou menos como a doença castiga certos excessos, ferindo inocentes, poupando culpados, visando um resultado geral e não podendo conceder a cada caso individual a honra de o examinar separadamente” (p.121). Rimo-nos, mais do que dos defeitos e dos erros dos outros, das excentricidades que permitem individualizá-los e que nos tornam insensíveis em relação a eles.
Bergson mostra, assim, que a discussão dos limites do humor é uma discussão que não pode ser resolvida de forma universal. Não existe nenhuma piada que não deva ser feita, mas não existe também nenhum salvo-conduto moral para o riso. Se, no limite, todas as piadas são permissíveis, não deve isso significar que aquilo que nos faz rir não nos diga coisas acerca de nós próprios, que não nos ensine quem somos ou que não nos permita identificar e corrigir erros. Rir é sempre, como aliás qualquer outra atividade humana, um gesto moral e que pode, por isso, ser errado. Ainda assim, a causa do erro não está necessariamente na piada, mas no que nela nos faz rir.
Talvez um exemplo ajude a compreender o que tem vindo aqui a ser dito. Há umas semanas, não sei exatamente como, encontrei o printscreen de um debate numa rede social à volta da pergunta: Com que pessoa da história da humanidade gostaria de passar uma noite escaldante? A esta questão absolutamente central, um homem (chamemos-lhe, para simplificar, Carlos) respondeu que desejaria sentir de novo junto a si o corpo da sua mulher, que morrera de cancro há nove anos. Não contente, acrescentou ainda alguns breves caracteres (menos de duzentos e oitenta, lá está) acerca da perenidade do amor humano. Logo em baixo, um outro participante no fórum (chamemos-lhe, para simplificar, André) explicou que também ele escolhia a falecida esposa de Carlos. A moralidade do riso que podemos ou não soltar diante desta resposta não é aferível pela piada em si. Podemo-nos rir da insensibilidade de André, mas podemos rir-nos também do enorme desajuste entre o que é perguntado e o que é dito por Carlos. Aí, André estaria a corrigir, de forma bastante violenta, o comportamento de Carlos, fazendo-o ver que um fórum de perguntas parvas na Internet não seria o lugar ideal nem para procurar consolo para a sua dor nem para dar espaço às suas considerações sobre a injustiça do mundo, encaminhando-o, quem sabe, para um psicólogo necessariamente mais apto a ajudá-lo. Ao rirmo-nos de Carlos, podemos, por isso, estarmo-nos a rir de nós próprios, a corrigir a expressão desadequada com que tantas vezes revestimos os nossos sentimentos, a aliviar a angústia que sentimos pela empatia que Carlos inicialmente gerou em nós ou simplesmente a reconhecer o absurdo de, podendo escolher ter um encontro com qualquer pessoa da história da humanidade, André não ter optado por Cleópatra, mas por alguém acerca de quem sabe apenas estar morta e ter sido amada por Carlos.
Aprendemos, portanto, com Bergson, a ver o humor como um mecanismo humano e, por ser humano, complexo, acerca do qual é extraordinariamente difícil pronunciarmo-nos moralmente de forma definitiva. A hilaridade que uma coisa tem para nós nunca é, como André nos mostra, devida a um só motivo, pelo que, ainda que ao nos rirmos estejamos a agir moralmente, não é possível purificar o humor por processos normativos ou exclusões temáticas. A discussão acerca dos limites do humor é, então, uma discussão acerca de nós próprios e do quão pouco nos conhecemos muito mais do que uma discussão acerca de se um tumor pode ou não ter graça.
joaopvala@gmail.com

















