Título: Uma Viagem aos Açores, ou Ilhas Ocidentais
Autor: Manuel B. F. Henriques
Prefácio: Ricardo Manuel Madruga da Costa
Capa: Angelina Caixeiro
Editor: Instituto Açoriano de Cultura
Páginas: 233, edição bilingue
Preço: 15 €
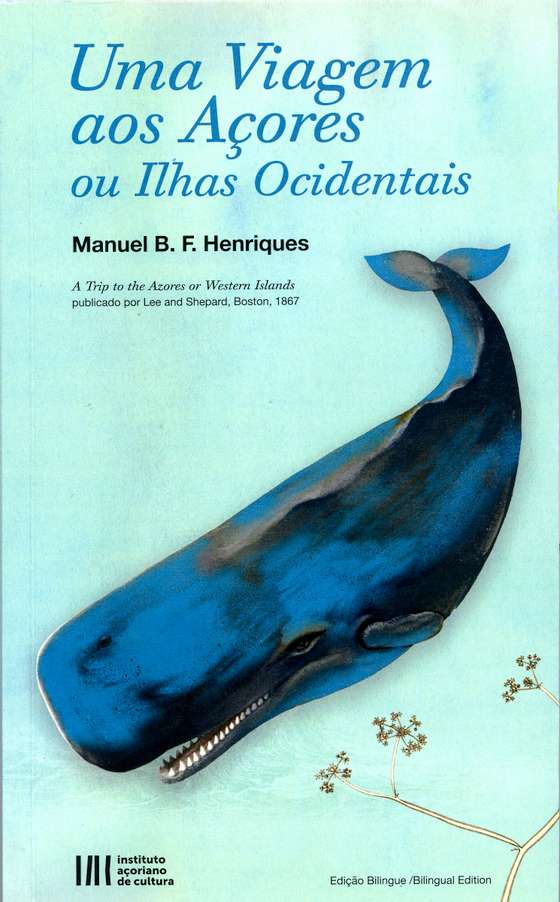
Não pára de crescer — e de surpreender — a atividade editorial relativa ao arquipélago dos Açores, com a redescoberta de livros esquecidos ou a escrita de novos. Não há, de facto, região do país que se lhe compare neste domínio. Depois de Viajantes nos Açores. O olhar estrangeiro sobre as Ilhas desde o século XVI de Maria das Mercês Pacheco (Artes e Letras, 448 pp.), uma antologia bilingue aqui comentada, em poucos meses saíram o livro de que me ocupo hoje e dois outros: Impressões Insulares. Nos Açores com o quinhentista Gaspar Frutuoso de Joaquim M. Palma (Companhia das Ilhas, 317 pp.), um viajante “a lugares esquecidos onde pressente o verdadeiro rosto do mundo”; e Rodeado de Ilha de João Miguel Fernandes Jorge (Relógio d’Água, 312 pp.), compilação de narrativas breves e alguns escritos de arte pelo poeta continental que mais longa atenção dedicou àquelas paragens atlânticas, também autor dum singular prefácio a Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemésio. Numa altura em que — hasteando o excelente estandarte “Somos reconhecidos pela natureza, queremos ser reconhecidos pela cultura” — Ponta Delgada partilha e discute com todo o arquipélago a sua candidatura a capital europeia da cultura 2027 (enfrentando, porém, a concorrência de uma dezena de outras, como Coimbra, Leiria, Guarda e Faro, que buscam receber um balão de oxigénio, mais dinheiro de fora e um módico de impulso vital que manifestamente perderam), este crescimento exponencial da bibliografia açórica é a prova provada de que algo está a borbulhar por ali e que a expressão “arquipélago de escritores” ganha cada vez maior sentido, e legitimidade.
O Instituto Açoriano de Cultura, de Angra de Heroísmo, tem tido em tudo isto um papel exemplar. Dois anos depois de ter lançado Viagens Geológicas aos Açores, do vulcanólogo francês Ferdinand André Fouqué (1828-1904), resgatando, também em edição bilingue, dois extensos relatos publicados em janeiro e abril de 1873 na influente Revue des Deux Mondes de Paris — no seguimento das visitas científicas de 1867 e 1872 —, dá à estampa este guia para viajantes norte-americanos escrito por Manuel Borges de Freitas Henriques (1826-73), publicado em Boston em 1867, e o primeiro do seu género. Referido por Pedro da Silveira como uma das obras a editar, numa espécie de programa cultural coletivo “deixado em testamento” em 2006, o livro teve em ponto de mira “a apetência pelas viagens transatlânticas que a abstinência causada pelos anos [1861-65] da Guerra Civil forçara” (Madruga da Costa, p. 9), a que de imediato Mark Twain deu expressão literária colorida no seu relato da viagem do cruzeiro do vapor Quaker City à Europa e à Terra Santa. Tem a extrema singularidade de ser “um livro no qual, pela primeira vez, um autor natural do arquipélago dá corpo a um trabalho deste género editado em língua inglesa” (id., p. 5).
Não é estranhar o pequeno “oportunismo comercial” de Freitas Henriques. Exportador especializado na boa laranja faialense para os Estados Unidos, era um prestigiado homem de negócios com interesses diretos no transporte de carga e passageiros de e para os Açores, as afamadas “ilhas ocidentais” da primeira cartografia e escala quase certa na navegação entre esses dois continentes do hemisfério norte. Enquanto estudou no Liceu da Horta, este florentino de Santa Cruz pôde acompanhar de perto o intenso movimento portuário — a atividade baleeira da frota americana no seu auge, a exportação de citrinos já em marcha —, e prever num minuto todas as suas novas potencialidades pós-1865. Além disso, a sua investidura enquanto cônsul de Portugal em Boston, em Outubro de 1967, conferia ao seu livrinho sobre os Açores, ainda muito fresco de tinta, o bem simpático tónus adicional duma “introdução geral”, em que modos de cortesia locais, vantagem cambial e recomendações turísticas também são dadas a conhecer.
Freitas Henriques aproveitou bem a sua longa temporada no arquipélago, para tentar vender sobretudo madeira americana (p. 68) e coletar pelas ilhas emigrantes para o novo mundo (“tantos passageiros quantos pudéssemos”, p. 71; e, segundo ele, no estrito respeito das “leis de emigração muito rigorosas”, p. 93). Preparando Uma Viagem aos Açores, ou Ilhas Ocidentais como relato convenientemente feito na primeira pessoa, enquanto observador direto da sua terra natal há quase duas décadas deixada para trás, estofou-o com informações colhidas em fontes locais fidedignas, não declaradas, que outras não poderiam ter sido que as de “uma elite instruída e culta” (p. 17), se não mesmo — como Ricardo Madruga da Costa bem conjetura — as do seu antigo professor António Lourenço da Silveira Macedo (1818-91), o destacado historiador do distrito ocidental. Dispunha também de alguma bibliografia, como a narrativa dos Irmãos Bullar (Londres, 1841), a de John W. Webster (Boston, 1821), a do Capitão Edward Boid (Londres, 1835 — e não 1834, como vem na p. 14), e a de Thomas Wentworth Higginson (Atlantic Monthly, 1860) que se admite conhecesse. Os anos passados na Horta, entre anglófilos e a “melhor sociedade” de estrangeiros residentes, como o seu “velho amigo e colega de escola, W. H. Lane, agente do Lloyd’s [em 1866]” (p. 101), ou as filhas duma dama americana, que iria rever em Ponta Delgada (p. 87), certamente lhe facilitaram estantes de livros como estes. A sua elogiada fluência em inglês e francês não poderia ter sido conquistada apenas com conversação.
Foi exatamente do porto do Faial que em 1848 Manuel Borges embarcou num barco baleeiro em busca de aventura. Não o fez, como muitas centenas de jovens patrícios, por absoluto imperativo de sobrevivência, como ilustra Donald Warrin em Assim Acaba Este Dia. Os Portugueses na baleação americana, 1765-1927 (a sair nos próximos dias pelo Núcleo Cultural da Horta). Nascido nas Flores em berço privilegiado, outro e aparentemente insondável terá sido o motivo para subir — aliás, clandestinamente — a bordo do Arnolda norte-americano, que o levou numa campanha de quatro anos pelo Pacífico, com paragem final em New Bedford, 1852. A extrema dureza do ofício é imaginável, mas, como se depreende de uma das primeiras páginas do livro, a vida de marinheiro era-lhe muito apetecida. O “antigo” (p. 97), “inquieto oceano” é, diz ele, “a única casa do genuíno, generoso e galhardo marinheiro”. “A sua alegria é plena quando, olhando para cima, contempla a luz e a aérea simetria dos mastros e das velas inchadas do seu navio, e o seu coração vibra de orgulho ao vê-lo altivo, rasgando o seu caminho por entre as ondas […] As suas esperanças desabrocham ao contemplar o céu magnificamente azul, repleto de planetas brilhantes e de miríades de estrelas tremeluzentes, e os poucos objetos à sua volta iluminados pelo doce luar”. Refere, contudo, “aventurosas travessias atrás das baleias, em paragens nada convidativas” (p. 35), e admite que o mar nem é sempre benevolente, pois tem “pontuais explosões de cólera, quando o mais corajoso dos marinheiros receia confiar a sua vida à sua superfície” (p. 98). “Que fonte de alegria e infortúnio, de ímpeto e de desânimo, de regozijo e sofrimento, de esperança e desespero, de ambição e desilusão!” (p. 24). (Mal sabia ele que, poucos anos depois, o desastre da sua atividade de armador, em 1870-73, o levaria ao suicídio…)
O pioneiro estudo biográfico que em 2010 George Monteiro (1932-2019) lhe dedicou não permitiu esclarecer que fez, afinal, Henriques entre a sua primeira chegada aos Estados Unidos em 1852 e o ano 1863. Porém, quando diz que a escuna em que viajou de volta aos Açores lhe parecia “uma concha de berbigão, quando comparada com aqueles [navios] em que já havia navegado durante seis anos da minha até aqui acidentada existência” (p. 23), é de supor que nos anos 1852-54 participou numa segunda campanha baleeira, antes de se fixar em Boston como comerciante e tipógrafo-editor, e em poucos anos alcançar prestígio social na comunidade portuguesa emigrante.
O facto de ter sido trancador (o homem do arpão em riste), de ter esculpido em dente de baleia o retrato de Awilda, famosa pirata dinamarquesa, e de querer ter sido um armador bem sucedido dá-lhe sólidos créditos de “homem do mar”. Terá casado e enviuvado uma primeira vez, antes de se juntar em 1866 à irlandesa-americana Grace Madigan, um ano depois de ter sido editor de Testamento de D. Burro, Pai dos Asnos, do padre Camões, uma sátira em verso heroico a gentes da sua ilha, clero muito incluído, capaz de em 1983 ter despertado a atenção — e não é dizer pouco! — de Aníbal Fernandes e da editora & etc, de Vítor Silva Tavares e Paulo da Costa Domingos. É muito provável que Freitas Henriques tenha tido acesso a um dos manuscritos em circulação desta obra “obscena” que levou o seu autor ao afastamento definitivo das suas funções de vigário e a uma escandalosa decrepitude, pois no início da sua carreira eclesiástica seus pais — como escreve Francisco Gomes na Enciclopédia Açoriana — haviam ajudado muitíssimo o talentoso padre e professor, porém bastante maltratado socialmente enquanto novo por ser filho enjeitado, e que a impressão do livro em Boston fosse já uma preparação do seu regresso às Flores, com o efeito duma importante — embora muito tardia — reparação póstuma (o padre e poeta Camões falecera em 1827).
O livro é continuamente trespassado por referências a vulcões e sismos, sublinhando a natureza do arquipélago a que todos se habituaram. Certa vez, conta ele (p. 59), um jogo de cartas de salão no Faial foi interrompido e logo placidamente retomado — como se nada tivesse sucedido — após um abalo que fez todos abandonarem prudentemente a sala onde estavam. Quando a escuna passou pelas longas costas de São Jorge e Pico, puderam “usufruir do seu cenário, que comungava do belo e do sublime, embora sugerisse algo de medonho quando contemplávamos aquelas suas zonas em que os vestígios das assoladoras forças vulcânicas eram inconfundíveis” (p. 68). Descrição dos vinhedos picarotos vai no mesmo sentido de espanto e increditude: “Nos vinhedos não se vê quase nenhuma terra vegetal” (p. 62). Outras observações mostram a diversidade entre ilhas e todo o ar do tempo, da roupa aos chapéus até à água para serviço doméstico: “A maior parte das pessoas de ambos os sexos das classes mais baixas de todas as ilhas anda descalça, a não ser no Pico, onde em geral se usam sandálias em couro cru, presas em volta do tornozelo por laços de pele, provavelmente para protegerem os pés da extraordinária rugosidade das escórias vulcânicas disseminadas pelo solo” (p. 116); “Nas Flores, toda a água é obtida a partir de fontes públicas e de nascentes; no Faial e em São Miguel, a partir de furos públicos, fontes e cisternas privadas. A água potável do Faial é bastante salobra. Esta é uma das mais belas ilhas, com a água de pior qualidade” (p. 111).
A precaridade das infra-estruturas rodoviárias e portuárias também lhe mereceram comentário: “O trompete também se fazia ouvir intervaladamente, especialmente quando nos aproximávamos de troços estreitos ou difíceis, como uma advertência aos condutores das viaturas que vinham da direção oposta, ou para que a estrada fosse atempadamente desobstruída de modo a não gerar atrasos” (São Miguel, p. 92); “O ancoradouro ostentava traços de ter sido, outrora, bastante bom; mas está atualmente delapidado, e os degraus que se tem de subir são pouco melhores do que calhaus escorregadios” (São Jorge, p. 62). A pobreza e a ausência de assistencialismo também: “O facto de não existirem abrigos para indigentes nas ilhas está na base da existência de tantos mendigos”, em tão elevado número que são “a primeira coisa que atrai o olhar de um estrangeiro ao desembarcar nos Açores”, “particularmente aos sábados, o habitual dia de mendicância nas ilhas” (p. 109). E nota, abordando a inevitabilidade da emigração: “Nos anos mais recentes tem havido alguma controvérsia entre autores insulares acerca da questão da população; alguns lamentam um imaginário decréscimo populacional causado pela emigração anual para o Brasil e Estados Unidos, enquanto outros afirmam com convicção, e provam-no cabalmente, que o número de habitantes excede de longe a capacidade das indústrias de os empregar” (p. 35).
Nas últimas linhas do seu livro Manuel Borges de Freitas Henriques deixa um sugestivo convite à descoberta dos Açores por estrangeiros, a pretexto de ter feito “pouca justiça” ao seu tema: “É como se eu tivesse por instantes levantado o grosso véu que encobre uma bela pintura, e o tivesse deixado recair antes que o observador pudesse notar os mais belos toques dados por aquele grande, insuperável artista que é a Natureza” (p. 120). Algo que o seu apontamento sobre o Pico e as suas mutáveis nuvens tenta fixar, como pode: “Essas nuvens são por vezes parecidas com solenes massas de vapor iluminado, brumas ligeiras ou compactos e perlados cúmulos de neve; outras vezes revestem-se das cores mais ricas e vistosas; e à luz da tarde parecem tingidas de bronze ou púrpura, ou douradas e roxas, num sumptuoso esplendor. Mas sejam quais forem as suas tonalidades, o aspeto da inteira montanha é sempre mutável, num grau maior ou menor, tanto que não espanta o comentário comum formulado por quem a viu, de que dificilmente o cone parece ser o mesmo quando se olha para ele mais do que uma vez; por mais que haja nuvens ou que o sol resplandeça, o aspeto da montanha será sempre variável, embora as suas feições permaneçam inalteradas” (p. 63). Um escritório ali defronte é que era…

















