Não é uma historiografia da Costa da Caparica, lugar que há muito é de eleição para a escritora portuguesa, mas antes uma viagem pelos diferentes tempos daquele pedaço da costa portuguesa. Luísa Costa Gomes estreia-se este mês no catálogo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o livro “Da Costa”, publicado na coleção Retratos.
A própria escritora descreveu estas páginas como o retrato vivido de um pequeno mundo, onde também ela habita. Há 30 anos, como conta logo na introdução, que entra e sai da mesma casa, faz o mesmo caminho. E um dia pergunta-se: que sítio é este onde vivo? Para responder à pergunta, ouviu um sem-fim de pessoas. No final, a viagem à procura de respostas leva o leitor pelas praias da Costa, pela Cova de Vapor, pelas quintas onde em tempos viveram famílias fidalgas, acabando nos Cooperativistas.
E é no areal da Costa da Caparica que começa esta pré-publicação.
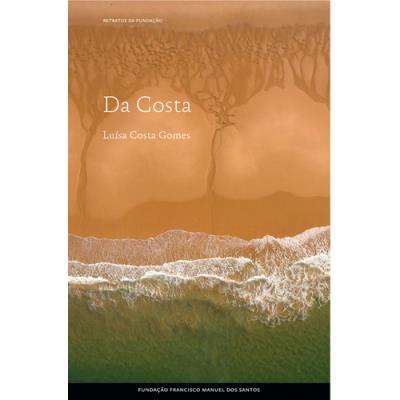
“Olhando a imensidão do areal da Costa na maré-baixa, temos dificuldade em imaginar que não tivesse sido sempre uma praia. Mas, na verdade, o troço de mar da Trafaria à Fonte da Telha só ganhou foros de praia recentemente, desde os anos trinta do século xx.
Em Costa Fronteira, Francisco Silva enuncia os factores que impediram durante séculos o povoamento da Costa, sendo o primeiro a imprevisibilidade do comportamento do mar: «as tempestades, as marés vivas, faziam da faixa de areia litoral, representada na cartografia pelo menos desde o século xvi, um território alagadiço e pantanoso, coberto por dunas móveis e juncais».
Não se tratava, no entanto, de uma ria, mas de terras alagadas pelas águas que escorriam da arriba e de areais que tinham configuração bem diferente da que agora têm. «Nenhuma razão justificava o povoamento deste lugar inóspito e insalubre. A Costa, como se designava toda a frente atlântica do concelho de Almada, não era mais do que simplesmente a costa, o limite, a fronteira, o lugar onde o continente termina […].»
O cimo da Rocha — nome que os pescadores depois deram à arriba fóssil —, onde os frades Capuchos de Lourenço Pires de Távora, conselheiro e amigo de D. Sebastião, se instalaram em 1558 num lugar «ermo e afastado das povoações, definia desde então o espaço humanizado no concelho de Almada». Para cá da arriba não havia nada. Mas a abundância do peixe que vinha no leito do Tejo desaguar aqui acabou por provocar o povoamento, primeiro durante apenas alguns meses no Verão, para a safra da sardinha, depois estabelecendo duas comunidades de pescadores, uma oriunda de Ílhavo, outra de Olhão.
«Atribui-se a data de 1770 à fixação nas praias da Costa das primeiras famílias de pescadores conduzidos na nova morada pelos mestres de redes José Rapaz, natural de Ílhavo e José Gonçalves Bexiga, de Olhão.»
Para marcarem a intenção de não regressarem às terras de origem, construíram «com tábuas a primeira igreja e dedicaram-na a Nossa Senhora da Conceição».
A rivalidade entre as duas comunidades começou no estabelecimento em duas zonas distintas da Costa, sendo que «os ílhavos instalaram-se a norte enquanto os algarvios construíram as suas barracas a sul. Entre os dois aglomerados encontrava-se o local onde as dunas atingiam a maior elevação sobre o imenso areal, a que chamaram o Alto. Desse local, os pescadores iam ver o mar e decidir os lanços. Quando os alcatrazes desciam a pique, mergulhando no mar, era sinal de peixe na costa, quando as ondas do mar transpunham a praia e lhes vinham lamber os pés descalços era sinal de fome na barraca».
Separados da população de Almada pela arriba fóssil, uma linha perpendicular ao mar dividia os ílhavos dos olhanenses: a Rua dos Pescadores.
O isolamento obrigou à solidariedade entre as duas comunidades, criando o «cofre do quinhão das companhas», um embrião de associação mutualista, «para o qual cada companha contribuía com um quinhão proporcionalmente retirado do produto da venda do pescado» e que serviu para financiar a construção do Poço da Vila, em 1879, e assim ter água potável, e o cemitério, no ano seguinte.
«Da praia e do mar chegava o único sustento das populações da Costa, dada a total impossibilidade de qualquer prática agrícola nas estéreis areias», continua Francisco Silva.
«Um dos estigmas que marcou a comunidade piscatória da Costa relacionava-se com a necessidade de dispor de muitos braços para pescar», pois, além de todas as actividades ligadas à arte xávega, a forma de pesca tradicional trazida pelos pescadores, era preciso ainda varar as embarcações fora do alcance do mar, transportar as cordas e as redes e tudo isto se fazia a pulso pela areia acima.
Pescava-se de Junho a Outubro em o mar deixando, no resto do tempo procurava-se trabalho nas redondezas.
«O isolamento geográfico, o afastamento das autoridades e da administração do concelho de Almada, tornavam estas costas um destino privilegiado para quem fugia à justiça ou não queria ser por ela incomodado. O sustento era o mínimo, mas não se inquiria sobre a moralidade dos forasteiros. […] Por se abrigarem nas barracas onde as companhas guardavam as redes e outros aprestos, estes “pescadores” eram conhecidos por Barraqueiros, de que se conheciam as alcunhas mas raramente os apelidos, contribuindo para criar má fama à Costa da Caparica que, até aos primeiros anos do século xx, tinha a imagem de local de frequência pouco recomendável ou até mesmo perigoso.»
Essa imagem poderá alterar-se, mas até muito tarde mantém-se no, chamemos-lhe assim, «inconsciente colectivo», a fantasia de um lugar muito remoto, selvagem, de topografia imprecisa, em que nomes não referenciam exactamente sítios, mas áreas de gesto largo, a Fonte da Telha fica algures para ali, a Trafaria algures para acolá. Esta vagueza opõe-se à segurança claustrofóbica da cidade pombalina, com a gente bem arrumada em prateleiras do rés-do-chão ao quarto andar.
A ideia de lugar «além» ainda hoje impede a passagem da ponte a muito boa gente. Há a noção de que de Lisboa à Caparica é muito longe, e o caminho arriscado, sendo menor a distância psicológica no sentido inverso. Lisboa é centrípeta na imaginação e é sempre melhor ir para lá do que vir de lá.
A primeira vez que vi a Costa da Caparica, no final dos anos sessenta, era um dia chuvoso de Primavera, e o sítio feioso e triste como a noite. Lembro uma Rua dos Pescadores cinzenta, fechada, pingada daquela humidade marinha insidiosa que nos fazia querer fugir a choramingar.
A Costa da Caparica é um desses lugares, como o Algarve, que tem a obrigação de mostrar boa cara ao turista. A outros lugares, nada se exige.
Quem se lembra de querer bom tempo em Vieira de Leiria, ou na Figueira da Foz? Em Odeceixe? Mas quem atravessou a ponte, quem demorou duas horas a atravessar a ponte, vindo de sítios que são sítios de pleno direito, onde chove e faz sol e tudo o que lhe apetece, não aceita nevoeiro, como em Odeceixe, ou em Santa Cruz, que têm por logótipo a neblina matinal.
Quem chega exige calor, sol e – opcional, é certo – uma brisa. Água decente para um banho de mar revigorante.
Toda esta margem sul sofre ainda, aliás, deste injusto grau de exigência. Não bastam dezasseis quilómetros de praias atlânticas de areia fina a dez minutos de Lisboa, nem apoios de praia que se estendem ao longo do paredão. Não chegam festivais e caldeiradas. Não chegam parques, piscinas, «equipamentos» de fazer inveja a todas as outras margens.
Tem de se ter o Verão eterno, bom e barato, ou foge-nos a freguesia para os Algarves e as costas espanholas.
[…]

MÁRIO CRUZ/LUSA
La plage
Quando a Duquesa de Berry inaugurou em 1820 a saison dos banhos de mar na plage em Dieppe, uma estância favorita dos ingleses, repicaram os sinos ao meio-dia em ponto e houve salvas de canhão. Esta Duquesa de Berry não era a Condessa de Barry, amante de Luís XV.
Para quem não conheça nem uma nem outra, a confusão é impossível, e aqui se revela ainda outra benesse da ignorância. Como quer que seja, a senhora de Berry entrou muito bem ataviada no mar gelado da Alta Normandia pela mão do seu médico.
O homem trajava casaca e luvas brancas, talvez por causa do frio. A sua função era, por um lado, inspeccionar a qualidade da água, mas a mais relevante, a sua função simbólica, era ligar, para os séculos seguintes, a atmosfera marítima a um benefício para a classe social que dela publicamente usufruísse.
A nova nobreza dava a sua bênção à humidade e à corrente de ar, de que por exemplo os fidalgos portugueses do Antigo Regime se protegiam como o diabo da cruz, nos palácios e palacetes que não conheciam o asseio, muito menos o conforto.
A saúde deixou de estar exclusivamente à mercê do capricho divino, dos pecados pessoais e colectivos e ao cuidado de amuletos, rezas, santos e benzeduras; e fez o seu caminho para o lado do controlo humano, da responsabilização pela manutenção do mecanismo corporal e da boa biologia.
O mar começava a sua epopeia regeneradora, depois de ter ameaçado o Homem pelos séculos com os seus adamastores. Agora era uma atmosfera benéfica, produzia fósforo e iodo e esses elementos faziam bem. Mas a ideia de que o que faz bem também deve dar prazer ia demorar a impor-se.
A nobreza que vinha pelo menos desde o século xvi buscar às suas quintas de Almada grande parte do rendimento para se apresentar dignamente na corte usava a Margem Sul, a que se chamava Lisboa Oriental, para desenfado da cidade, para recreação, para recolhimento, às vezes para exílio ou fuga do alcance de algum monarca mais irritadiço; usava os campos e bosques até à lagoa de Albufeira para caçar e a costa, a praia das pescarias, para piqueniques ocasionais, como o que José Trazimundo, Marquês de Fronteira, neto da Marquesa de Alorna, descreve nas suas Memórias.
«Minha avó residia de Verão em Almada, na antiga casa de meus avós», escreve ele. Trata-se da Quinta do Conde, que usava ainda o nome do Conde de Assumar, no que hoje é a Rua Capitão Leitão, uma das principais da cidade de Almada. O jovem Trazimundo recebera uma carta da avó, convocando-o a ele e ao irmão para virem ajudar a preparar o aniversário da tia Henriqueta.
Trazimundo e o irmão acharam a travessia «longa e não muito divertida» e quando chegaram não encontraram ninguém em casa. A avó tinha deixado recado para irem ter à Costa, «onde estavam em uma grande pescaria».
Muito caracteristicamente, no entanto, a Marquesa de Alorna insistira em fazer-se transportar no seu paquebote, um carroção muito pouco adequado ao caminho. Ia com o capelão, trajado a rigor, e o cocheiro com a libré da antiga casa de Alorna.
«[…] A equipagem e a parelha eram tão velhas como a dona e o cocheiro, o caminho arenoso e impraticável para qualquer equipagem.»
Os jovens alugaram cavalos e partiram a toda a brida para a Costa, encontrando pelo caminho umas mulheres que lhes perguntaram «se éramos os meninos da Senhora Condessa de Oyhenhausen» (nome injusto, aponho eu, para gente tão simples) e os informaram, com a pressa que sempre há em comunicar acontecimentos desagradáveis, que a «avó e o avô estavam enterrados na areia» e «os machos quase mortos».
Intrigados pelo aparecimento deste novo avô, já que o legítimo estava morto há mais de vinte anos, os irmãos espicaçaram os cavalos e encontraram o velho cocheiro «desamparado ao pé da carruagem, rogando mil pragas a sua ama, dizendo que nunca mais havia de servir poetas e que o resto das nossas tias se tinha adiantado, seguindo minha avó com Monsenhor Cherubini».
Mais à frente, encontraram-na os netos no preparo que mais uma vez confirmou no jovem Trazimundo a imagem de uma senhora de idade teimosa e excêntrica, mas a quem faltava o passo seguinte na loucura para ser verdadeiramente quixotesca. Iam ela e o capelão montados em mulas de moleiro e seguidos do moço de traseira.
«Encontrámos a caravana, dirigida por nossa boa avó, montada em uma das tais mulas, tendo posto por cima da touca e cabeleira loura um grande chapéu de palha que lhe havia emprestado um pescador da Costa, por causa do grande calor, conseguindo resolver o seu companheiro a fazer o mesmo, pondo sobre a calva empoada um chapéu semelhante. Monsenhor ia de casaca à romana e meias encarnadas e o moleiro levava-lhe na mão o chapéu de três cantos. O velho moço de traseira seguia a caravana, cansadíssimo e de péssimo humor e Monsenhor, perdido de riso, exclamava, apontando para minha avó: Que caricatura! Que graça! Que espírito! Que talento! Assim chegámos à Costa, onde fomos recebidos pela outra parte do rancho que se tinha adiantado, e o Mestre de desenho Luiz Tomé de Miranda, que era da partida, fez uma espécie de caricatura da entrada de minha avó e de seu companheiro, Monsenhor Cherubini, a qual muito sinto ter perdido.»
N’As Praias de Portugal (Guia do Banhista e do Viajante), primeira grande recensão dos banhos de mar portugueses, publicada em 1876, Ramalho Ortigão não menciona a Costa da Caparica e praticamente nada entre Lisboa e Setúbal. Inclui, no capítulo das «praias obscuras», duas linhas telegráficas sobre o Porto Brandão, sendo uma delas: «magnífica vista para a margem oposta do Tejo». A Fonte da Pipa, mais para o lado de Cacilhas, é «um lugar árido, abafado, triste. Poucas casas sem mobília. Pequenos preços».
É preciso dizer que São Martinho do Porto, São Pedro de Moel e Santa Cruz também entram no mesmo capítulo das praias obscuras. Mas a lagoa de Albufeira, pertença do Almoxarifado do Alfeite, o «retiro predilecto» de D. Pedro V, que aí vinha pescar e caçar coelhos, maçaricos e patos, achou Ramalho «de uma grande melancolia simpática, de um encanto profundamente penetrante.
A água tranquila da grande lagoa, o áspero aspecto da charneca, a grande solidão, a planície, o profundo silêncio, infundem uma pacificação e um sentimento de serenidade inefável».
Foi na lagoa que a «Ramalhal figura» fisgou um polvo contra uma rocha «com uma navalha americana que o seu amigo Eça de Queirós lhe mandou de presente das margens do Niagara». Embora a pesca fosse proibida sem autorização do concessionário anual, Ramalho tranquiliza-se com o argumento de que «a rocha não é água» e passa adiante.
Como passa adiante da «imensa vida azul» que tanto há-de impressionar Raul Brandão em 1923. Será ele talvez o primeiro a ver as praias da Costa e o morro vermelho para sobre eles escrever com verdadeira empatia.”

















