Índice
Índice
Corpo confuso e enorme, enrodilhado em heranças contraditórias e novidades, moldado por regras abstractas e experiências quotidianas, ferido constantemente por sentenças eruditas e acometido por invenções populares, tão intrincado que uma simples mudança pode revolver todo o seu edifício, custa a acreditar que possa ser usado por qualquer boca impúbere.
Mais custa, ainda, perceber como é que uma lógica tão facilmente apreendida pode ser tão difícil de explicar: qual é a lógica da língua? Como é que qualquer criança sabe entrar – com maior ou menor mestria – num jogo de símbolos, em que a junção de sons produz significados diferentes, e sábio nenhum consegue explicar cabalmente a chave do código?
A tarefa complica-se ainda mais no caso da escrita: já não é apenas um som que corresponde a um objecto, mas um traço, que corresponde a um som, que corresponde a um objecto. Acresce a isto que, para serem compreendidos, os traços têm de ser limitados. Isto é: o assentimento do traço que corresponde ao som tem de ser comum, tem de ter regra. Por outro lado, para que os sons tenham significado, têm de ter certas especificidades maiores do que eles. O som de cozer e coser pode ser igual, mas a escrita deve ser diferente para indicar significados diferentes. Temos, assim, um número limitado de letras, menor do que o número de sons a que têm de corresponder, e ao mesmo tempo sons iguais a que têm de corresponder letras diferentes.
É desta diferença entre oralidade e escrita que nasce a ortografia. Não por acaso, a nossa primeira Gramática de Linguagem Portuguesa só surge depois de Gutenberg. A difusão da palavra escrita traz com ela a evidência de que o mecanismo oral, sem correções, não funcionaria na escrita. A confusão nas grafias, com “s” e “ç” distribuídos ao acaso, consoantes dobradas a esmo e sem critério, “f” e “ph” à mercê da gana de cada escritor, levou alguns eruditos a quererem pôr ordem na mesa e definir as regras da ortografia.

A primeira “Gramática da Linguagem Portuguesa”, de Fernão de Oliveira
As primeiras ortografias, como as Regras que ensinam a maneira de escrever e a ortografia da língua portuguesa, de Pêro de Magalhães Gândavo, centram-se mais nas dificuldades do que nos fundamentos da escrita. Como são tratados práticos, estão mais preocupados em explicitar os casos em que se deve usar “m” ou “n” antes de consoante do que em corroborar ou contestar a origem da língua sugerida por S. Agostinho nas Confissões; no entanto, nem o facto de se centrarem nos casos duvidosos nos impede de perceber uma teoria de base na origem das decisões ortográficas.
O que se escreve e o que se devia escrever
Para Gândavo, como para Fernão de Oliveira, o autor da nossa primeira Gramática, o critério primordial de decisão seria a proximidade da origem (o mais das vezes latina, claro). Defendem a manutenção das consoantes mudas quando a palavra latina de que deriva a portuguesa as tivesse, e quando alteram a grafia de origem, fazem-no apenas pelo esforço de distinção das posições gramaticais. Gândavo defendia – contra o latim – que à conjugação do verbo ser na terceira pessoa do singular (ainda sem acento, na altura) se antepusesse um “h” para distinguir do copulativo “e”. É – ou he, para os já convencidos – claríssima a tentativa de precisar o que na oralidade é confuso; ao mesmo tempo, trata-se também de uma gramática quase de elite.
O objectivo destes autores passa sempre por aproximar a língua, não daquela que se fala, mas daquela que lhe dá origem. Não só como modo de distinção entre fonemas, nem apenas numa tentativa de oferecer uma lógica já existente à ortografia do português, mas até como forma de aproximar, pela língua, o Homem de um Universo considerado superior. O latim, tanto para Oliveira como para Gândavo, é considerado a mais perfeita das línguas e um reflexo de uma civilização mais completa. A aproximação do português ao latim seria, também assim, uma forma de civilizar as lusas gentes.
Ora, este é um dos pontos mais interessantes no estudo da ortografia: nunca a sua concepção esteve separada de uma filosofia própria sobre o Homem. Do mesmo modo que uma sociedade alcandorada num princípio tradicional tem como basilar a ideia de que há um saber prévio de que o homem decaído se procura aproximar, também a ortografia do tempo toma a língua por corrompida e a tarefa do homem, mesmo no falar e escrever, como necessitadas de ascese, de um esforço de elevação. A língua, para Oliveira e para Gândavo, é educadora.
Fernão de Oliveira explica-o muito bem quando define a língua como uma forma de perenidade e ganho de sabedoria: o facto de o latim ser universal torna a sua civilização universal; o facto de ser universal agrega a cultura das margens, que se traduz para latim, e converte-a, já que todos a percebem. A língua está, assim, ligada à civilização. Para estes gramáticos há claramente uma civilização, ou um modo de vida, mais adequado aos destinos do Homem. A adequação procurada na ortografia não é, assim, entre como se fala e como se escreve, mas entre como se devia falar e como se devia escrever. Não interessa como se faz, mas como se pode e deve fazer.
Embora não fosse a única, esta era com certeza a perspectiva dominante durante o século XVI. É também neste espírito que escreve João de Barros a sua gramática, e que se lavram as opiniões mais fortes na famosa querela da língua, que nos chegou de Itália após longa e tumultuosa paragem em França.
Escrever como se diz
Curiosamente, também a ortografia segue o ritmo de uma das grandes ramificações da querela da língua: a querela dos Antigos e Modernos. Se a princípio, na Academia Francesa, Desmarets e os irmãos Perrault eram os únicos (ou quase) a defenderem a supremacia dos Modernos sobre os Antigos, no final do século XVIII a balança já invertera completamente os pesos. Sem querer dar peso excessivo a genealogias infindáveis, é fácil perceber que a força ganha em Oxford pelo nominalismo, o novo fôlego das doutrinas do conhecimento empírico e a moda da soberania popular alteraram até a concepção da ortografia. A ideia nominalista de que os nomes não são mais do que flatus voces, puros abstractos sem existência real, torna mais fácil dessacralizar a língua e expatriá-la de um património prévio. As grandes tentativas racionalistas — em que Leibniz pôs tanto empenho — de uma língua falada por todos, de um esperanto disseminado, criado de origem mais claro e mais simples, são a prova de uma crença na possibilidade de fabricar uma língua a partir da imaginação.
As teses de Locke e Hume sedimentaram a crença de que a engorda de experiências traria sempre vantagem sobre o conhecimento antigo, pelo que desapareceram os pruridos que agarravam as línguas modernas às suas origens; mesmo a ideia de soberania popular, à Rosseau ou à Voltaire, põe a tónica da língua no povo e transfere a correcção, já não para um modo primordial, mas para o modo de falar actual. Não é portanto de estranhar que, no Verdadeiro Método de Estudar, Verney proponha uma revolução completa na ortografia portuguesa. Já diz que os homens devem escrever “da mesma sorte que o pronunciam”, eliminar os dois “s” e quaisquer outras letras dobradas.
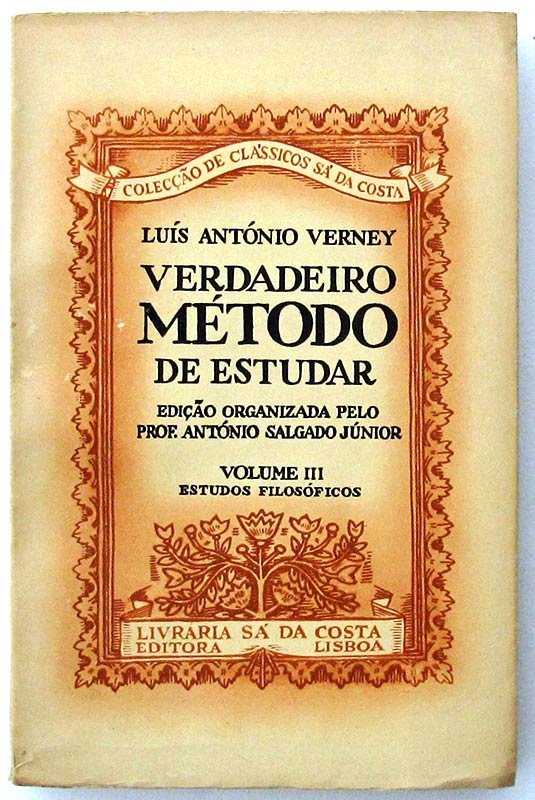
“O Verdadeiro Método de Estudar”, de Luis António Verney
A argumentação é tipicamente iluminista: dá o exemplo dos países estrangeiros em que “já se faz” como ele diz, como quem quer criar um complexo de inferioridade e apontar a direcção do progresso. Advoga o escrever como se fala, como quem está a dirigir-se pelo pulsar do povo e não por tradições obsoletas. Ao mesmo tempo, contudo, confirma que “todos os homens de boa doutrina” pensam como ele e assenta a defesa da sua tese na modernidade das propostas. Verney, bom homem do seu século, defende, mesmo na língua, os interesses do povo, ainda que os interesses do povo não sejam os que o povo defende. A sua ortografia é, assim, uma versão esclarecida da oralidade, depurada pela simplificação da escrita a partir da adequação de cada som a cada letra. “S” ler-se-ia sempre “ss” e, quando o som fosse “z”, seria “z” a letra que se escreveria.
Os gramáticos posteriores, porém, já no século XIX, pensavam de maneira muito diferente. Embora para Verney, à boa maneira cartesiana, simplificar seja unir, a gramática oitocentista traz objecções a esta tese. A distinção de significado pela letra, quando não o distingue o som, não cria confusão – retira-a de onde ela está. A existência de duplas grafias é confusa, sim, mas apenas quando se usam duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa; agora, quando a ortografia pode aumentar a precisão linguística, deve separar o que pode ser separado. É útil, já que o não pode perceber pelo som, que o falante possa perceber pela escrita a diferença entre cozer e coser; é útil a intenção de Verney de unificar, sobretudo porque a ortografia, durante vários séculos, é apenas do interesse de uma cúpula de eruditos e para uso pessoal; não há uma institucionalização (embora haja um quantum óbvio de regra consuetudinária), pelo que a multiplicidade de grafias torna qualquer esforço de unificação louvável. O problema é que a ortografia de Verney, baseada apenas nos fonemas, é em vários aspectos contrária àquela que se tornou a palavra de ordem da linguística dos séculos seguintes: o espírito da língua.
Serão os “cavalos” “cadeiras”?
Quando saiu o Curso de Linguística Geral, de Saussure, já a reforma ortográfica de 1911 tinha cinco anos; no entanto, o livro de Saussure vem (no meio de muitos outros desenvolvimentos) dar expressão acabada a uma concepção ortográfica, não tão desenvolvida ainda nas suas consequências, mas já muito em voga no princípio do século XX. Saussure explica que há, nas várias línguas, uma lógica própria que é património comum de todas elas e que ultrapassa o próprio significado das palavras. Quando uma palavra entra numa língua, entra numa teia de relações que supera largamente o significado da palavra; isto é, apesar de a relação entre um objecto e o símbolo que a representa parecer ser arbitrária, não é, ao mesmo tempo, livre.
Um sujeito não pode decidir que vai passar a chamar aos objectos (significantes, na linguagem de Saussure) outros nomes que não aqueles que já lhe são dados. Se passar a chamar cavalos às cadeiras, ninguém me vai perceber: isto porque aquilo que na relação simples entre significante e significado é arbitrário, na teia de relações da língua já está decidido. Deixando de lado as futuras implicações estruturalistas das teses de Saussure, e sabendo que só abusivamente podemos assemelhar os filólogos portugueses do princípio do século XX ao linguista suíço, a apropriação de alguns conceitos de Saussure parece-nos útil para explicar as teses de Gonçalves Viana ou Cândido de Figueiredo, entre outros.
Também no princípio do século, enquanto Saussure dava as aulas que viriam a constituir o seu livro, em Portugal se procurava – mais singelamente – adaptar a língua ao seu próprio espírito. As investigações de Carolina Michaelis e Leite de Vasconcelos renovavam o interesse pela tradição linguística portuguesa; Gonçalves Viana, com as suas Bases de Ortografia Portuguesa, retomava o esforço de uniformizar a ortografia; Cândido Figueiredo, por sua vez, numas rubricas de jornal muito apreciadas, popularizava o interesse pelo assunto ensinando o que se não deve dizer a partir de um espírito, em certa medida, semelhante: mais até do que as questões antigas, de primado do étimo ou da fonética, segundo Cândido de Figueiredo havia um espírito da língua constantemente contrariado pelo linguajar moderno. Para dar um exemplo do próprio autor, seria um absurdo escrever ramalhete, já que o sufixo “-alho”, de ramalho, sempre foi um aumentativo e o sufixo “-ete” um diminutivo; acabaríamos, assim, por ter uma palavra, ao mesmo tempo, aumentada e diminuída: nada a contraria foneticamente, nem sequer etimologicamente, mas há duas regras tácitas em conflito que invalidariam o uso da palavra.

Ferdinand de Saussure
A acção conjunta destes sábios, ao mesmo tempo académica e popular, de teoria e observação, fez crescer o interesse pela uniformização da língua; a isto também não terão sido estranhos um certo espírito positivista de institucionalização e de cientifização das esferas sociais e humanas, bem como a vontade Republicana de mostrar o alcance da sua Ordem Nova. Certo é que, em 1911, um conselho dos grandes filólogos portugueses define os termos da primeira reforma ortográfica e, com isso, da primeira uniformização da língua. O espírito é, em parte, comum a todos os gramáticos de todos os tempos – resolver os problemas das duplas grafias e da arbitrariedade confusa da escrita – e em parte do seu próprio tempo: encontrar as regras escondidas que provocam a evolução no falar e alçá-las a decisor e criador de jurisprudência linguística.
A esta reforma juntou-se, por vontade própria, o Brasil. Embora depois surjam cruzados que encontram, volta e meia, erros e absurdos em palavras que vão entrando no vocabulário (Vasco Botelho do Amaral, Sá-Nogueira ou Rodrigues Lapa, só para citar os mais interessantes), podemos dizer que, até 1990 os vários acordos e reformas pouco mais têm sido do que acertos a este acordo primordial. O acordo de 1990 é, de todos, o que mais se afasta do primeiro: recupera algumas duplas-grafias, verdadeiro demónio dos gramáticos nos últimos cinco séculos e privilegia por vezes a adequação da grafia à escrita, contra a habitual preferência pela distinção como norma de clareza. Talvez seja, em certos aspectos, mais iluminista, ou herdeiro de novas correntes de vanguarda ainda pouco conhecidas do vulgo; é político, com certeza, mesmo que não reduzamos a política a baixezas comerciais; é político, sim, porque como já no século XVI dizia Fernão de Oliveira, a língua pode ser um instrumento de poder e factor de perenidade. E hoje, como ontem, o Homem faz tudo para se manter vivo: a ele e àquilo que, como a língua, o representa.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.














