No dia morte de Leonard Cohen saía a trilogia You’re Living For Nothing Now (Pierre von Kleist, 2016), de André Príncipe, título tirado a um verso de “Famous Blue Raincoat”. Em conversa no seu atelier, em Lisboa, Príncipe diz que encontrou neste título “um amigo” há quase uma década. Este primeiro I-novel abrange cinco anos da sua vida como fotógrafo e cineasta, procurando mostrar como foi estar vivo entre vivo entre 2009 e 2013.
Quem acompanha o seu trabalho reconhecerá viagens, lugares, episódios e temas de livros e de filmes anteriores, assim como uma vida que se confunde necessariamente com os bastidores do começo heróico da Pierre von Kleist, editora que construiu com José Pedro Cortes. Quem chega a ele pela primeira vez corre o perigo de ser sugado para uma espiral de vida embalada pela valsa triste de Cohen. Vida e morte, peso e leveza, controlo e descontrolo, fugacidade e permanência, estes três livros formam já não um Bildungsroman, mas um retrato do amadurecimento de um artista e, além disso, das dúvidas associadas ao amadurecimento. Por exemplo: como mostrar o inefável? Capturando a percepção de que as partes de uma vida se iluminam e transformam mutuamente, a forma (qualquer que ela seja) do fotolivro parece dar a André Príncipe uma possibilidade de resposta. Mas, mais do que um fotolivro em três partes, You’re Living For Nothing Now é uma reflexão destemida sobre como mostrar uma vida.
You’re Living For Nothing Now será lançado esta quinta-feira às 22h, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, em conjunto com o lançamento do DVD “Cavalo-Dinheiro” de Pedro Costa e do livro Família Aeminium de Pedro Costa e Rui Chafes.
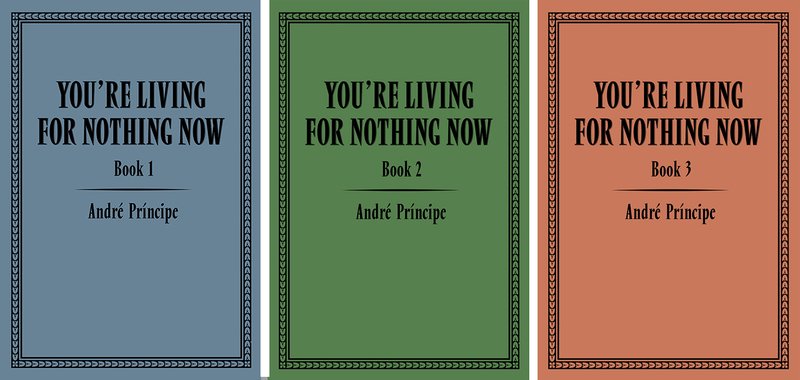
Os três volumes de “You’re Living for Nothing Now”, de André Príncipe (Pierre von Kleist)
Ao título do teu livro, que é um verso de Cohen (de “Famous Blue Raincoat”): “You’re living for nothing now” [“vives para nada”], segue-se, na canção, o verso “I hope you’re keeping some kind of record” [“espero que guardes algum registo”], que serve aqui de subtítulo. Isto sugere que o livro é uma espécie de documento. Como concilias essa ideia com a ideia forte de construção criativa, de uma ficção, que lhe subjaz?
Na fotografia, pela natureza da relação com o real, a conversa sobre o que é ficção e o que é documentário é muito presente. O que é uma “ficção” e o que é um “documento”? Essas palavras gastaram-se e já não são boas para falarmos do que deve ser. Qual é o melhor documento sobre a Rússia do século XIX? É o Tolstói, o Dostoiésvski. Qual é o melhor documento sobre a juventude nos anos 1960? É seguramente o Dylan e o Cohen. O verdadeiro documento — porque o assunto é humano — é o documento que usa a ficção. Porque nós usamos a ficção. Não é o passaporte, nem o BI. Eu sou quem inventei ser, tu és o que eu acho que tu és, do sítio onde eu estou.
A fotografia e também o cinema têm esta coisa de que gosto muito: as imagens são feitas por objectivas desta maneira analógica: uma analogia, uma comparação com o real. Ou seja, não sabemos bem o que fazemos. Quem sabe este livro daqui a setenta anos possa ser um livro sobre uma vida antes da terceira guerra mundial? — ou uma coisa qualquer que nós não sabemos o que é. O Lisboa Cidade Triste e Alegre foi feito num espírito, mas, hoje, passados cinquenta anos, a leitura é completamente diferente. Mostrar Alfama, o Bairro Alto, os bairros populares, era dissidente. Hoje parece-nos concordante com o resto. Isso é feito de um lado objectivo e de um lado subjectivo; de um lado documental ou de um lado ficcional. As duas coisas são os dois lados da mesma moeda. Às vezes sai cara, outras sai coroa. Tem que estar misturado. “You’re Leaving for Nothing Now… Some Kind of Record” está bem dito, não é? porque é “some kind of record”.
Como vês a função da maneira de sequenciar para a construção de “some kind of record”?
Dei-te exemplos de documentos. Eu usei a palavra “documento”, mas não são documentos. O Tolstói não é considerado um documento, o Dostoiévski também não e o Dylan muito menos. São poetas, autores. São romances, obras de ficção. Mas, o que eu estou a dizer é que aqueles são os melhores documentos. A minha grande pulsão é ficcional. (Venho da literatura e, depois, do cinema.) “Ficcional” no sentido de exprimir algo, de organizar o mundo. Há muitos outros autores, e amigos meus, cuja grande pulsão é realmente a de documentar. É uma luta contra o tempo. Parar, mostrar aquilo: “a casa da minha avó vai ser destruída”, “estas lojas estão a desaparecer”, “a minha mãe está a envelhecer”. O que eles querem é fixar aquilo e depois a organização não interessa tanto. Mas, para mim, o primeiro momento é um desejo de ficção.
Antes da sequenciação, há uma outra coisa que tem que ver com uma certa qualidade, chamemos-lhe, poética, das imagens. Não há nenhuma imagem de nenhum filme, de nenhum autor de ficção científica, ou seja o que for, por mais extravagante que seja, melhor do que imagens que estão a acontecer neste momento enquanto nós falamos aqui. Neste momento, por todo o mundo (numa casa, não sei onde; num topo de uma montanha, não sei), estão a acontecer — se tu tiveres a câmara no sítio certo, etc. — imagens mais profundas do que qualquer coisa que possas imaginar. O lado documental do meu trabalho tem a ver com esta crença. Eu posso encenar; posso ter uma ideia para uma fotografia. Mas interessa-me muito menos as ideias e interessa-me muito mais uma certa qualidade, uma certa luz, ou uma certa coisa em que não pensei. Isto ainda antes da sequenciação.
Depois, há a sequenciação em si. Para estes livros, e pela primeira vez, não usei sempre a mesma estratégia para sequenciar as imagens. Há alturas narrativas; há alturas não narrativas; e há alturas para reiterar certas coisas, para pôr lado a lado outras, ver o que é que acontece quando pomos lado a lado isto com aquilo. Mas, pela dimensão do trabalho, há alturas em que a sequenciação se torna de tal forma abstracta, que é oposta à narrativa. O que está a acontecer são então conjugações de cores, são gestos e olhares, e são movimentos de corpos, são vectores, linhas, e coisas deste estilo. A certa altura é isso que está a acontecer — e é só isso que está a acontecer. Este livro está do lado da vida, não está do lado da fotografia, nem da arte, pode ser mais confuso.
Estes três livros abrangem um período da tua vida marcado, em parte, por viagens. A viagem e a ideia de viagem são aspectos muito importantes do teu trabalho.
Bom, eu sempre quis (e sempre pensei sobre como) viver a vida. Desde pequeno sempre quis viver aventuras. Sou uma pessoa física, do desporto; sempre detestei universidades, escolas… Cresci no Porto e não viajávamos muito, e eu — pelos livros, pelos mapas, pelos filmes — eu sempre quis viajar. E viajar sempre foi sinónimo de perder-me e de descobrir-me: descobrir-me no mundo. Descobrir o mundo e descobrir-me no mundo era uma e a mesma coisa. A ideia era conhecer pessoas, perder o pé, não saber quando é que volto. Para mim viajar é isso. É para me conhecer a mim tanto quanto para conhecer o mundo onde eu estou. Claro que, no centro deste livro, além das viagens está também uma relação que tive, e está também uma cidade onde vivo, e essas viagens já não… — o livro chama-se “2009 a 2013”. Já não tenho vinte anos, já não tenho trinta anos… Essas viagens, essas durações, essas deambulações, já têm uma outra forma e já… coexistem. Passaram a estar lado a lado com uma outra coisa, uma outra vivência, uma relação, neste caso, uma relação com uma mulher. Por isso, estes livros têm mais ingredientes. É tanto sobre viajar, como sobre não viajar.
Ainda assim, até que ponto te parece importante para o trabalho fotográfico a ideia de uma pessoa se deixar perder, de procurar perder-se?
Ver tudo como se fosse pela primeira vez. O Cohen (agora vi-o ali [apontando para uma imagem de Leonard Cohen colada na parede do atelier ao lado da sua secretária] lembrei-me do que ele disse sobre isso: “o trabalho do poeta é: quando acordar, perguntar-se se está num estado de graça e se estiver num estado de graça, então fazer o seu trabalho. E se não estiver num estado de graça, pensar no que é que pode fazer para chegar a esse estado de graça.” Ele diz “estado de graça” e é o mais bem dito, não é? Mas o que é isso? É ver as coisas. Sentir as coisas. E a viagem faz isso. A viagem muda-nos todo o tempo. Ou seja, eu vou para Bulgária, só que não tenho nada que fazer lá, não tenho nenhum sítio para onde ir. Não tenho ninguém para ver. E portanto eu tenho que responsabilizar-me por cada minuto de uma maneira absolutamente… revolucionada em relação ao meu dia a dia.
Desse ponto de vista, a viagem é uma actividade estritamente análoga à da fotografia. Quer dizer, não existe qualquer razão última para fotografares isto em vez daquilo, ou desta maneira em vez daquela, ou para ir pela esquerda ou pela direita.
Exacto. E, para estares nesse estado, podes usar drogas, às vezes (é parecido, não é?), ou álcool, ou sexo. Há muitas maneiras. Mesmo a sobriedade extrema. Mas trata-se desse estar com as coisas — ou contra as coisas, contra as outras pessoas, contra o mundo. Trata-se de… [hesita] de criar um estado… Os artistas dizem: “ah, criar, a criação e tal”, mas no fundo é isso. Eu apenas não considero que haja uma distinção entre isso, que seja do trabalho, e o que é existencial, em mim. É a mesma coisa.
Daí a maneira diarística como te relacionas com a fotografia?
Sim: diarística neste sentido. “Diarística”, para mim, significa “todos os dias”, “dia a dia”. Não quer dizer “autobiográfico”, ou “confissões íntimas”. Não é o sentido da literatura para a palavra “diarística”. (O Cohen diz: “o trabalho do poeta é, ao acordar todos os dias, perguntar-se se está num estado de graça.” É neste sentido.) Depois, porque fotografar é uma coisa técnica, como tocar piano. Eu suponho que tudo é assim: escrever também é assim. É como num desporto. Se não treinares todos os dias, ou se não treinares regularmente, perdes a destreza, não consegues fazer as imagens que fazes. Perdes a rapidez, etc. Nesse sentido, a fotografia é como tocar um instrumento. Tem que haver uma certa disciplina diária para esse lado técnico fluir.
Recapitulando, vês a fotografia como uma coisa que conjuga a prática diária, uma busca da graça e, além disso, uma terceira coisa — que reclama uma tradição japonesa. Estou a pensar na ideia do I-novel.
Está sempre entre parênteses o “eu” na fotografia, não é? Na fotografia, num certo sentido, tudo é um “I-novel”. Num romance eu posso pôr a minha personagem na senhora Rosa e tal, mas o fotógrafo não pode, realmente. Quer dizer, pode, mas isso são já outras coisas… É sempre um I-novel, um eu-no-mundo. Quando comecei a fotografar havia esta ideia: a busca do fotográfico. Havia o peso da pintura… O Cartier-Bresson era bem fotográfico mas depois o Frank era ainda mais fotográfico, ainda mais livre — e ainda mais… livre. Eu a cresci a pensar nisso. Quero que as minhas coisas sejam realmente fotográficas. E como era isso? Pela técnica? Pelo enquadramento? Os temas? Era por uma série de coisas que nós tentávamos fazer. Mas à medida que fui ganhando alguma confiança, deixei de me preocupar com isso. Deixei de me preocupar com resolver tudo dentro de cada imagem.
Podes descrever melhor essa aspiração a resolver dentro de uma única imagem?
Dantes havia todos estes pensamentos sobre a síntese, sobre sintetizar. Tipo: “pá, aquele gajo é genial, tirou uma fotografia daquele sítio — seja Trás-os-Montes — aquela imagem do cavalo-de-pau e do sobreiro aquilo é Trás-os-Montes.” Falava-se assim. Depois eu deixei de pensar nisso. Passou a interessar-me a ideia do fora de campo: o espaço que tu crias mentalmente no espectador através da associação de imagens. Aquelas sequências dos filmes de terror, daquele quarto que eles nunca te mostram, que passa a ser o teu terror. Tu vais povoar o teu quarto com os teus próprios terrores, que são diferentes para cada um.
Mas percebi recentemente, ao voltar ao Prado e a outros museus, que as minhas fotografias tinham muito de pintura, algo contra o qual eu lutava no princípio. É como estas coisas que eu tenho aqui [explica, apontando para uma reprodução de “La Maja Desnuda”, pendurada à esquerda de outras imagens, entre elas, retratos de Robert Frank e de Cohen]. Isto é o Goya. Isto é uma coisa relacional: é ela a olhar para ele como numa fotografia. E vi muitas outras coisas: os animais, a escala, a luz, os sítios, a fotografia: encontrei-me em muitas coisas que tinham a ver com todos estes séculos de pessoas a fazer imagens. Já não tem que ver com ser ou não fotográfico, isso já está conseguido. Relacionas-te com o mundo; não tens que te preocupar com isso.
Poderias falar um pouco sobre a função, neste trabalho, das marcas da materialidade. Refiro-me à maneira como deixas à vista os crops imperfeitos dos negativos, etc. Qual a sua razão de ser?
Uma das suas razões de ser é a questão (muito prática) da resolução do layout do livro. Objectos parecidos com estes eram muitas vezes cadernos de recortes — coisas mais espontâneas; e eu estava a fazer o livro no computador. Muitas destas imagens saíram directamente do scanner para o computador, nunca existiram como objecto impresso. Fui eu que digitalizei todas as imagens e gostei precisamente de todas estas imprecisões, e de todos essas coisas meio únicas de cada uma das imagens, desse lado táctil, material. Trazê-las para a página (que era muitas vezes um fundo branco) foi uma coisa que fazia sentido, para mim. Pareciam fundir melhor. Lembra-te de que tudo, a sequenciação, etc. — tudo isto tem que ver com uma mundivisão. Cropar ou não a fotografia tinha a ver com isso.
Por outro lado, também é uma homenagem — homenagem não é bem a palavra… — uma forma de acentuar uma nova consciência de que a película pode não estar connosco muito mais tempo: de que fotografar em película é um acto de resistência, quando não o era. Era o normal, era simplesmente assim. E agora é um acto de resistência, ao qual o mundo resiste, e pelo qual tens de lutar. Fazer isto assim é um modo de alinhar pela película e de estar deste lado. Esses crops não geométricos, com bocados da película visível são um modo de aceitar a matéria, as imperfeições. Não é que queira pôr esse aspecto no centro. (Há muitos fotógrafos contemporâneos que trabalham só sobre isto: sobre a matéria da película e não interessa já o mundo ou sobre o que é a imagem). Mas não quero escondê-lo.
Voltando agora a este livro, ou livros, gostava de saber como é que os diferencias e o que é que orienta a organização de cada um, e a sua posição na trilogia.
Além da possibilidade de, mentalmente, manobrar melhor a longa extensão de imagens, a principal razão que me fez decidir pelos três livros, em vez de um só, foi a de poder fazer três princípios e três fins. Claro que o fim do terceiro livro é o fim verdadeiramente final, que seria sempre diferente.
Além disso, senti também que ao fazer três livros deveria haver um livro, provavelmente o último, no qual deveria haver — não é bem uma causalidade — mas deveria haver, assim, um efeito, uma consequência do ritmo dos primeiros dois livros. Então, no terceiro livro tudo se torna mais rarefeito. É como se tivéssemos subido e então começa a haver menos imagens, e imagens só verticais, que ocupam toda a página (o livro tem este formato vertical). E começa a haver muito mais causalidade entre as imagens, muito mais raccord. Há muitas partes dos livros em que as imagens não têm um raccord, em que uma não liga com a outra. É apenas porque uma é azul e a outra amarela que estão uma ao lado da outra, ou porque uma pessoa olha para a esquerda e a outra olha para a direita, mas no terceiro livro começa a haver uma espécie de…

André Príncipe
Encaixamento?
Sim, um raccord.
Não é a primeira vez que os animais têm um papel importante no teu trabalho.
Os animais são uma lembrança de que se poderia viver de outra maneira, uma lembrança de outros tempos, uma lembrança do que esquecemos. São, também, o “outro” neste sentido original de serem uma outra forma de inteligência: esta coisa que nós procuramos nos outros planetas, mas que está aqui ao lado. A outra forma de inteligência são os animais. “Inteligência” não no sentido que damos à palavra; “inteligência” em sentido lato, de uma relação óptima com o mundo. E porque eu gosto.
Estes livros organizam-se um pouco em torno de algumas tensões e dicotomias: peso e leveza, o efémero e o permanente. Por um lado, fixas o efémero e o instável, mas, por outro, também a duração, ou um género de mudanças que apenas se percebem ao longo de um período maior.
Na fotografia tudo é efémero. Por exemplo, eu fotografo e sequencio três imagens de um pardal que veio comer umas migalhas de pão e que depois desapareceu. Isto dito assim tem a ver com o efémero. Mas se eu disser: “Portugal assinou o acordo para a entrada na União Europeia”, não é nada efémero. Tem um sabor histórico, de décadas e consequências. Ou por exemplo o fim da segunda guerra. Agora, se fotografares, é igual. O que é? É um gajo a assinar um papel com uma caneta? Uns tanques numa rua e as pessoas a gritar? Eu ponho no livro uma fotografia, digamos, do meu casamento, como as fotografias que as pessoas têm nos álbuns de família, imagens do nascimento, de coisas que não são efémeras, coisas que vão mudar uma vida. É só uma imagem. A fotografia é uma coisa superficial. É a coisa mais superficial do mundo. Se a comparares com a literatura, com o cinema, é tremendo. A fotografia é uma superfície. É isto [comenta, apontado para um pedaço de papel]: isto é uma fotografia. Mais superficial do que isto é impossível. Não há. Se isto te angustiar e isto te limitar… — está certo. Mas se tu o abraçares e não o tentares contrariar, se aceitares o facto de que a fotografia é uma coisa muito, muito, muito superficial (de que é a coisa mais superficial que existe), então, podes trabalhar com isso. Podes trabalhar essa fragilidade.
É por esta razão que me interessa muito a sequência de imagens, e não só a imagem em si. Interessa-me muito isto de pôr coisas lado a lado. Não quer dizer que todas as coisas tenham a mesma importância. Um pardal que venha comer umas migalhas de pão não tem a mesma importância que eu casar. Ou se calhar até devia ter. Interessam-me estas renegociações todas. O facto de estarem lado a lado…
Transforma-as?
Sim, transforma-as de uma maneira que eu não sei e de uma maneira que tem a ver com o meu desejo; e tem a ver, no fundo, com a ideia da morte, que preside à fotografia.
Como assim, a ideia da morte que preside à fotografia?
A fotografia é sobre a morte. Não há nada mais sobre a morte que a fotografia. A fotografia é sobre vida e morte. Tudo é. Mas na fotografia isto está muito extremado. Eu fotografo-te a ti, aqui, agora — e acabou-se, já foi. A fotografia é entrar e sair do tempo. Tu andas a brincar com entrar e sair do tempo. Nós somos apenas humanos. Mas é isso, a fotografia é essa tentação. Todo o movimento do livro é circular [ilustra, voltando bruscamente ao livro]. E este círculo, onde estás no mesmo sítio, mas não estás lá, mas estás… a fotografia tem a ver bastante com isso. O que eu quero expressar neste livro é uma mundivisão: a minha mundivisão, como é que foi estar vivo. E preciso destas coisas todas. Estou interessado nestes vudus, nestes choques, nestas coisas invisíveis que passam de uma imagem para a outra e que a transformam numa coisa que eu não sei qual é.
















