Índice
Índice
No quarto poema das Sátiras, datadas no início do século II d.C., Juvenal traça o retrato da sua esposa ideal, que reúne uma tão formidável combinação de virtudes que o poeta acaba por reconhecer ser “uma ave rara nas nossas terras/ E não menos fabulosa do que um cisne de negra plumagem”. No tempo de Juvenal as únicas espécies de cisnes conhecidas na Europa eram brancas, pelo que o cisne negro era – como o corvo branco – uma metáfora para algo inexistente.

Cisne-branco (Cygnus olor)
A plumagem branca é apanágio não só do cisne-branco (Cygnus olor), o mais comum na Europa meridional, como do cisne-bravo (Cygnus cygnus), que tem a sua área de reprodução no Árctico mas inverna bem mais a sul, podendo ser visto nas costas do Adriático e do Mar Negro, assim como de duas outras espécies de que Juvenal não poderia ter conhecimento: o cisne-pequeno (Cygnus columbianus), que habita as regiões árcticas da Rússia oriental e América do Norte, e o cisne-trombeteiro (Cygnus buccinator), que habita a América do Norte.
A presunção, entre os europeus, de que todos os cisnes seriam brancos desfez-se em 1697, quando o navegador holandês Willem de Vlamingh, ao explorar a costa ocidental da Austrália, se deparou, perto do que é hoje a cidade de Perth, com cisnes de plumagem totalmente negra – o Cygnus atratus. A abundância desta ave na região era tal que Vlamingh deu o seu nome ao rio em que as encontrou: Zwaanenrivier (hoje Swan River).

Cisne-negro (Cygnus atratus)
Perante estas descobertas, a expressão “cisne negro” passou a designar algo que se julgava impossível mas afinal era real. John Stuart Mill usou a imagem no livro A system of logic, ratiocinative and inductive (Sistema de lógica dedutiva e indutiva), de 1843, para alertar para o facto de “nenhuma quantidade de observações de cisnes brancos [tornar] legítima a inferência de que todos os cisnes são brancos, mas a observação de um único cisne negro basta para refutar essa conclusão”.

John Stuart Mill por John Frederick Watts, 1873
A advertência de Mill ecoava a que o filósofo escocês David Hume fizera no livro A treatise of human nature (Tratado da natureza humana), de 1739, contra as fragilidades da indução empírica, que infere uma lei ou princípio geral a partir de um número limitado de observações: “não existem argumentos demonstrativos que provem que factos dos quais não tivemos experiência, se assemelham àqueles de que tivemos experiência”. Esta inconsistência fundamental da indução empírica ficou conhecida como “problema da indução” ou “problema de Hume”.

A expedição de Vlamingh no Swan River
O cisne de Taleb e os desconhecidos desconhecidos
A expressão “cisne negro” seria reapropriada e utilizada no contexto do comportamento dos mercados financeiros por Nassim Nicholas Taleb em 2001 no livro Fooled by randomness: The hidden role of chance in life and in the markets (publicado em Portugal em 2018 como Iludidos pelo acaso: O papel oculto do acaso na vida e nos mercados, pela Temas & Debates: ver E se o acaso mandasse na vida como na economia?). O conceito ganhou tal difusão que, seis anos depois, Taleb o puxou para o título ao seu livro seguinte, The black swan: The impact of the highly improbable (publicado em Portugal em 2011 como O cisne negro: O impacto do altamente improvável, pela D. Quixote).
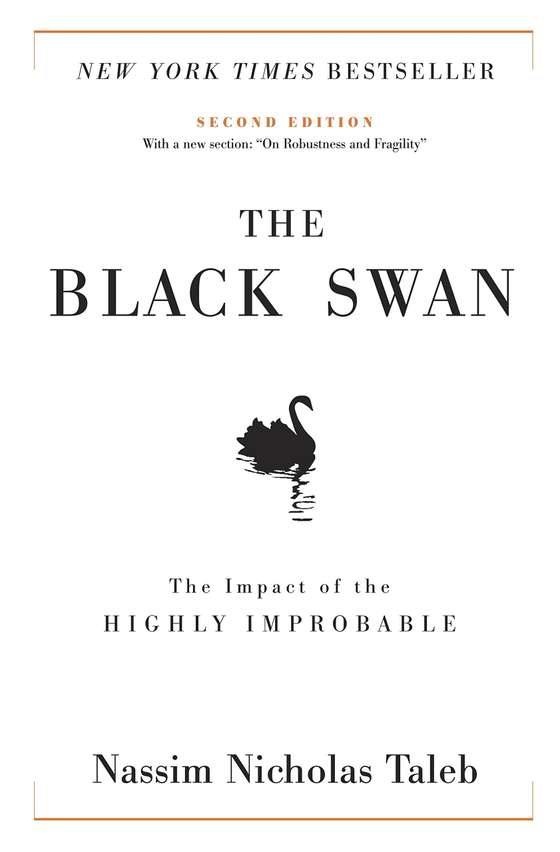
A capa da edição original do livro de Nassim Nicholas Taleb
Neste livro, Taleb define assim o “cisne negro”: “Primeiro: é atípico, encontra-se fora das nossas expectativas normais, porque nada que tenha ocorrido no passado pode apontar, de forma credível, para esta possibilidade. Segundo: reveste-se de um enorme impacto. Terceiro: apesar do seu carácter desgarrado, a natureza humana faz com que construamos explicações para a sua ocorrência depois de o facto ter lugar, tornando-o compreensível e previsível”. E dá como exemplos de “cisnes negros”, a eclosão da I Guerra Mundial, a ascensão de Hitler ao poder, o colapso do mercado bolsista em 1987, os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.
Foi na sequência dos atentados de 11 de Setembro que, numa conferência de imprensa no Pentágono, a 12 de Fevereiro de 2002, o então Secretário da Defesa dos EUA Donald Rumsfeld, ao ser questionado sobre a ausência de provas que vinculassem o governo iraquiano ao fornecimento de armas de destruição maciça a grupos terroristas islâmicos, se lançou em considerações epistemológicas que o tornaram alvo de chacota generalizada (potenciada por Rumsfeld ser, por esta altura, uma das figuras públicas mais detestadas do mundo).

Donald Rumsfeld numa conferência de imprensa no Pentágono, Fevereiro de 2002
Um ano depois, a invasão do Iraque provou que a associação entre Saddam Hussein, armas de destruição maciça e a al-Qaeda era infundada (o que foi confirmado em 2008 por um relatório do Pentágono baseado em 600.000 documentos capturados pelos EUA no Iraque), mas as considerações de Rumsfeld sobre epistemologia, ainda que não tendo sido formuladas da forma mais clara e elegante, eram essencialmente correctas. O Secretário da Defesa estabelecera a diferença entre diversos tipos de factos assim: “há algumas coisas que sabemos que sabemos. Também sabemos que há desconhecidos conhecidos, isto é, coisas que sabemos que não sabemos. Mas também há desconhecidos desconhecidos – coisas que não sabemos que não sabemos”. Os “desconhecidos desconhecidos” (“unknown unknowns”), que foram o principal alvo de troça, não são mais do que o “cisne negro” de Taleb e de John Stuart Mill.
Plumagens de outras cores
Porém, os cisnes não se limitam a ser inteiramente brancos ou inteiramente negros: no continente sul-americano, do sul do Brasil à Terra do Fogo, vive o cisne-de-pescoço-negro (Cygnus melancoryphus), que é o representante mais pequeno do género Cygnus (mas, ainda assim, é a ave aquática de maior dimensão da fauna sul-americana).

Cisne-de-pescoço-negro (Cygnus melancoryphus)
Também no domínio conceptual foi cunhado por Taleb o conceito intermédio de “cisne cinzento”, para designar um evento de grande impacto e que, embora seja improvável, não é um “desconhecido desconhecido” – sabe-se que pode vir a acontecer, mesmo que a probabilidade de ocorrência seja muito baixa (são o que Taleb designa como “acontecimentos moderadamente extremos”).
Na verdade, quando examinados atentamente, alguns cisnes negros revelam antes ser cinzento-escuros e até um cisne tão negro quanto o atentado terrorista de 11 de Setembro de 2001 tem algumas penas cinzentas. É certo que o método empregue pelos terroristas islâmicos – sequestro de aviões comerciais, usados como mísseis contra o World Trade Center – foi inaudito e completamente inesperado, mas não pode dizer-se que a intenção do terrorismo islâmico em destruir o World Trade Center fosse uma surpresa, pois a 26 de Fevereiro de 1993 um grupo de radicais liderado por Ramzi Yousef (um discípulo da al-Qaeda) fizera detonar um camião-bomba no parque de estacionamento subterrâneo da Torre Norte. O objectivo era fazer a torre colapsar e arrastar na queda a Torre Sul, mas a explosão, que abriu um buraco de 30 metros de diâmetro ao longo de quatro pisos do estacionamento subterrâneo, não abalou estruturalmente o edifício e causou “apenas” seis mortos e 15 feridos directos (os restantes feridos – cerca de um milhar – resultaram do pânico, da evacuação ou da inalação de fumos).

Veículos de emergência acorrem ao World Trade Center, 26 de Fevereiro de 1993
Para que se tenha noção de quão afastadas do senso comum ou da lógica podem, do ponto de vista jurídico, ser as avaliações de causa e consequência e, portanto, o apuramento de responsabilidades, vale a pena mencionar que, no âmbito da sinistra tradição de escaramuças legais que está entranhada na vida e na mentalidade norte-americanas, as vítimas do atentado de 1993 (ou as suas famílias) processaram a Port Authority of New York and New Jersey, a entidade supervisora das vias de comunicação e infraestruturas da cidade, e que o tribunal atribui 68% da responsabilidade do atentado a esta autoridade, cabendo aos terroristas propriamente ditos 32% (em 2011, após vários recursos, a decisão acabou por ser anulada pelo tribunal da relação do Estado de Nova Iorque, numa votação de quatro contra três).
A todo o vapor, no escuro, entre icebergs
Ao longo do dia 14 de Abril de 1912, o Titanic recebeu, via telegrafia sem fios, seis avisos provenientes de quatro navios nas proximidades – o Caronia, o Baltic (retransmitindo uma comunicação do Athenia), o Amerika e o Californian –, alertando para a presença de icebergs na sua rota. Um dos avisos chegou ao comandante Edward Smith, que ordenou que o rumo fosse desviado para sul, mas a velocidade – 22 nós (41 Km/h), apenas dois nós abaixo da velocidade máxima do navio – foi mantida, como era, aliás, prática na época nos grandes transatlânticos, uma vez que as diversas companhias rivalizavam entre si em termos de rapidez e pontualidade. Os restantes avisos parecem não ter saído da sala de TSF, por os operadores estarem demasiado ocupados a receber mensagens para os passageiros do navio, onde se incluíam numerosas celebridades do mundo dos negócios, do desporto, das artes e do jet set, atraídas pelo facto de se tratar da viagem inaugural do maior e mais luxuoso navio do mundo. Quando a noite caiu, perante a quantidade crescente de gelo que via surgir à sua proa, o comandante do Californian decidiu suspender a marcha e, às 22.30, transmitiu um derradeiro aviso sobre o gelo flutuante, a que Jack Phillips, o telegrafista-chefe do Titanic respondeu, agastado, ordenando que se calasse, pois tinha coisas mais importantes para fazer.

O Titanic deixando o porto de Southampton, a 10 de Abril de 1912
Entre o final do século XIX e 1912 alguns navios tinham naufragado em resultado de colisões com icebergs, mas eram todos navios de pequena tonelagem; o único paquete de grande porte que colidira com um iceberg fora o Kronprinz Wilhelm, em 1907, mas o choque não causou vítimas e os danos não impediram o navio de prosseguir viagem. Nesse mesmo ano, o capitão Edward Smith, conhecido como o “capitão dos milionários” e que era um dos mais experientes comandantes da White Star Line e do mundo (aos 62 anos tinha 40 anos de experiência marítima), declarara que não era capaz de “conceber qualquer circunstância que pudesse causar o afundamento de um [grande] navio. A moderna construção naval já ultrapassou isso”.

O capitão Edward Smith, c.1911
Com efeito, o Titanic, tal como o seu irmão mais velho, o Olympic – cuja viagem inaugural, no ano anterior, fora também comandada por Edward Smith –, representava o supra-sumo da construção naval à data: deslocava 52.000 toneladas, tinha 269 metros de comprimento e capacidade para 2543 passageiros e 890 tripulantes, os seus motores desenvolviam 46.000 HP, estava equipado com a mais moderna tecnologia de comunicação sem fios e a decoração do seu interior emulava a dos hotéis de luxo da época – o modelo terá sido o Ritz de Londres. No que concerne à segurança, o casco estava dividido em 16 compartimentos que podiam ser tornados estanques em caso de emergência, o que lhe granjeou a reputação de “inafundável”.

A Grande Escadaria do Titanic (e do Olympic), segundo brochura promocional da White Star Line, 1911
Às 23:39 do dia 14, os vigias alertaram para a presença de um iceberg pela proa, mas o Titanic foi incapaz de evitar a colisão – com as consequências que são sobejamente conhecidas.
O naufrágio do Titanic suscitou surpresa e comoção profundas um pouco por todo o mundo, por ser o primeiro naufrágio de um grande transatlântico na história da navegação, por nunca antes se ter registado um naufrágio de grandes proporções em resultado da colisão com um iceberg e por muitas das vítimas serem celebridades, mas são poucas as penas negras neste cisne.
Se fosse preciso atribuir responsabilidades no evento, certamente que a maior parte iria para os executivos da White Star Line, com a sua política de cumprir horários a todo o custo e por não terem acautelado meios de salvamento e procedimentos em caso de desastre, e para Edward Smith, cujo jeito para entreter milionários à mesa do jantar tinha contrapartida num inquietante registo de colisões e acidentes no curriculum. A negligência dos operadores de telegrafia sem fios foi apenas um eco da convicção generalizada de que o navio era tão grande, potente e moderno que se tornara praticamente invulnerável aos caprichos da natureza, fossem eles tempestades ou gelo flutuante.
O triste destino do Titanic, longe de ser um acontecimento inesperado, foi uma demonstração exemplar das consequências daquilo que os antigos gregos designavam como “hubris” – uma mescla de excesso de confiança e arrogância, a raiar a insensatez.

Na foto tem um ar pouco impressionante, mas é provável que este iceberg fotografado na manhã de 15 de Abril de 1912 pelo despenseiro-mor do paquete alemão Prinz Adalbert, tenha sido a causa do afundamento do Titanic
O único “imponderável” no naufrágio foi o facto de o inverno de 1911-12 ter sido particularmente suave no Atlântico Norte e de, consequentemente, haver mais gelo flutuante do que era usual, registando-se, em Abril de 1912, uma situação sem precedentes em meio século. A mente humana gosta de seguir trilhos que conhece bem: os marinheiros mais experimentados, como o capitão Smith, “sabiam” que em Abril nunca havia muito gelo naquela rota, portanto quando chegaram os avisos sobre a invulgar abundância de icebergs, quem estava na ponte de comando preferiu confiar não nos factos concretos mas na sua memória.

O afundamento do Titanic, por Willy Stöwer, 1912
O cisne de 2008
A crise do subprime de 2008 é frequentemente apresentada como exemplo de um “cisne negro”, mas a sua plumagem não é mais escura do que a do naufrágio do Titanic. Para começar, porque os crashes bolsistas são tudo menos um acontecimento inesperado: começaram em 1637, com a “tulipomania” na Holanda (especulação em torno de bolbos de tulipas) e nunca mais pararam. Apenas oito anos antes de 2008 tinha estoirado a “bolha das dot.coms”, que resultara de especulação em torno das acções de empresas ligadas à Internet e às tecnologias a ela associadas – o índice Nasdaq, maioritariamente constituído por este tipo de empresas, valorizara-se em 400% entre 1995 e 2000, e viu boa parte dos seus ganhos anulados nos dois anos seguintes.

Uma das primeiras representações conhecidas do cisne negro (Cygnus atratus), por autor anónimo, c.1788-92
A crise de 2008 não foi um relâmpago caído de um céu imaculadamente azul, foi o resultado de uma conjugação de actuações levianas, insensatas e/ou fraudulentas das instituições de crédito americanas, muito facilitadas pela desregulação dos mercados financeiros pela parte do Governo dos EUA e da SEC (Securities and Exchange Commission, o equivalente americano da nossa CMVM: Comissão de Mercado de Valores Mobiliários) e potenciado pela “inovação financeira”, isto é, a criação de produtos financeiros tão absurdamente complexos e esdrúxulos que nem os especialistas na matéria compreendiam inteiramente o seu funcionamento e alcance e que proporcionavam às instituições financeiras, muitas vezes, a possibilidade de contornar (ainda mais) regulamentos.

“O cisne ameaçado”, por Jan Asselijn, c.1650
Como Michael Lewis deixou claro em The big short: Inside the Doomsday machine, de 2010 (editado em Portugal como A Queda de Wall Street, pela Lua de Papel), um mecanismo para conceder um empréstimo de 100% para aquisição de uma casa de 700.000 dólares a um imigrante mexicano que ganhava 14.000 dólares por ano a apanhar morangos na Califórnia estava condenado a estoirar e a fazer estragos terríveis em seu redor. Quem concebeu e montou esta “bomba”, a que foi dado o enganador nome de “crédito subprime”, estava perfeitamente consciente dos riscos que ela representava, só que a ideia não era ficar placidamente com o engenho no regaço, mas passá-lo para as mãos de um papalvo bem antes de o rastilho chegar ao fim. Este embuste não teria sido possível sem a cumplicidade das agências de notação financeira, que atribuíram sistematicamente notações triplo A a produtos financeiros que sabiam ser destituídos de qualquer credibilidade e que só depois de a bolha estoirar, passaram a ter uma designação condizente com a sua natureza: “lixo tóxico”. Embora fossem essencialmente uma criação norte-americana, disseminaram-se pelo sistema financeiro mundial e quando a crise sobreveio, um pouco por todo o mundo os governos tiveram de usar o dinheiro dos contribuintes para remover dos respectivos bancos estes detritos corrosivos – uma limpeza que ainda não acabámos de pagar.
Esta monstruosa perversão do sistema financeiro foi deliberada e laboriosamente criada durante anos, à vista de todos e com a conivência de muitos, pelo que ninguém pode afirmar que a crise que eclodiu 2008 estava “fora das nossas expectativas normais”.

“Cisnes reflectindo elefantes”, por Salvador Dali, 1937
Diga-se de passagem que a crise das dívidas soberanas europeias, que começou a ferver a partir de Abril de 2010, também não foi um evento impossível de prever: se, por um lado, foi uma consequência da crise do subprime, afectou mais fortemente alguns países da Europa meridional – Grécia, Portugal, Espanha, Chipre – cujos governos há anos vinham a acumular déficites orçamentais, e a Irlanda, que deixara crescer uma bolha imobiliária bem para lá do que seria prudente. Quando “a maré baixou e se percebeu quem andava a nadar em pelota”, para usar a feliz imagem de Warren Buffett, tornou-se inevitável que este quinteto de países ficasse à mercê dos mercados financeiros, até porque as agências de notação financeira, que durante anos tinham considerado a dívida destes países um investimento praticamente tão seguro quanto a dívida alemã (!), se apressaram a despromovê-la para a categoria de “investimento especulativo” (“lixo”, em linguagem coloquial). Vale a pena notar que estas eram as mesmas agências que tinham atribuído notação triplo A ao crédito subprime…
A crise do subprime de 2007 e a crise financeira global por ela espoletada (onde se inclui a crise das dívidas soberanas) não foram cisnes negros, mas “accidents waiting to happen”.
Cisnes e patos
Dada a opacidade decorrente de a República Popular da China ser um regime totalitário, talvez nunca venham a apurar-se todos os detalhes sobre os primeiros estágios de desenvolvimento da pandemia de covid-19. Mas o que sabemos é suficiente para traçar uma cronologia básica: o primeiro caso terá sido identificado a 1 de Dezembro de 2019, em Wuhan, na província de Hubei, e pelo final do mês já existiam 27 casos de pneumonia na cidade e indícios de que esta seria causada por um coronavírus similar ao que causara o surto de SARS de 2002, mas as autoridades silenciaram os médicos que tentaram dar o alerta para o seu potencial de alastramento. A 8 de Janeiro foi confirmado que o agente infeccioso era um novo tipo de coronavírus, a 20 foi confirmado que o vírus estava a ser transmitido entre humanos, a 23 o governo chinês impôs um rigoroso cerco sanitário à cidade de Wuhan e a 29 (numa altura em que já havia casos de covid-19 em todas as províncias da China) todas as cidades da província de Hubei foram colocadas sob quarentena.

Fila para comprar máscaras em Wuhan, a 22 de Janeiro: a premência de adquirir equipamento de protecção faz ignorar as regras mais elementares de distanciamento social, provando que os vírus terão sempre pasto fértil entre os Homo sapiens
Portanto, no final de Janeiro, o mais tardar, os governos e autoridades sanitárias do resto do mundo (Organização Mundial de Saúde incluída) já tinham uma noção aproximada do perigo representado pelo novo vírus – e esta noção bastou para que os principais índices bolsistas mundiais registassem quedas no final de Janeiro e princípio de Fevereiro. Porém, as perdas só foram significativas na região Ásia-Pacífico e, de qualquer modo, passados poucos dias as bolsas rapidamente regressaram aos ganhos. Com o número de infectados e mortes na China a subir (apesar das medidas de contenção draconianas que só um estado totalitário e policial é capaz de aplicar), o resto do mundo – e em particular o Ocidente – limitou-se a assistir, impavidamente, limitando-se alguns governos a bloquear voos vindos da China (mas deixando passar quem, vindo da China, apanhasse um avião em Kuala Lumpur). No que diz respeito ao “cisne negro” da covid-19, o mundo ocidental desempenhou o papel de “sitting duck”, expressão inglesa que designa alguém ou algo que é um alvo muito fácil de abater.
É elucidativo reler jornais ou suplementos económicos publicados ao longo de Fevereiro de 2020 para se perceber quão desfasados da realidade andaram os economistas: uns ridicularizaram quem apontou o coronavírus como uma ameaça à economia mundial (a laboração nas fábricas chinesas poderia estar suspensa, mas dentro de poucas semanas estariam a trabalhar a todo o vapor, compensando o interregno, garantiam) e só os mais pessimistas alvitravam que, num worst case scenario, o excedente orçamental previsto para 2020 por Mário Centeno talvez pudesse não ser alcançado e que o crescimento das economias em 2020 poderia cair até meio ponto percentual em relação às estimativas do início do ano. Mas o campo de visão dos economistas tende a ser tragicamente limitado e os seus modelos matemáticos não têm espaço para vírus e as suas teorias e previsões medram em mundos assépticos e irreais, povoados de agentes económicos que se comportam todos de forma racional e em que a natureza é encarada apenas como fonte de recursos e depósito de resíduos.
Só no final de Fevereiro, com o número (oficial) de mortes na China a atingir os 4000 e casos identificados de covid-19 em boa parte dos países da Europa e América do Norte, é que começou a instalar-se a inquietação nos mercados financeiros – e esta não tardou a converter-se em pânico. Mas nem então foram tomadas medidas sérias: os aviões continuaram, com algumas restrições, a movimentar diariamente pelo mundo 5 ou 6 milhões de passageiros, os turistas e viajantes não cancelaram as suas férias e deslocações ao estrangeiro, os hotéis e resorts turísticos continuaram abertos, as agências de viagens continuaram a acenar com destinos paradisíacos, as ruas de New Orleans encheram-se com os foliões do Mardi Gras e os resorts alpinos italianos e austríacos com entusiastas de desportos de inverno.

O resort de ski de Ischgl, no Tirol austríaco, foi identificado como um dos focos das fases iniciais da difusão da covid-19 na Europa, tendo gerado 600 infecções na Áustria e 1200 na Alemanha e países nórdicos
A 11 de Março, com infecções registadas em todos os países da Europa e com o número de mortes a subir rapidamente, continuavam a permitir-se “mega corona parties” como o Liverpool-Atlético de Madrid. Em meados de Março nos EUA, os estudantes não prescindiram de gozar o tão aguardado “Spring break” e afluíram em massa à Florida, apesar de alguns resorts e parques de diversões começarem a fechar – um estudo realizado a partir da geo-referenciação de telemóveis mostrou, semanas depois, que os “Spring breakers” que acorreram às praias da Florida tinham sido fulcrais na disseminação da covid-19 nos EUA. Mas quem pode censurar os miúdos que proclamavam “Se apanhar o corona, apanho o corona. Não é ele que me impedirá de me divertir. Estou à espera disto há muito, planeei esta viagem há 2-3 meses”, se os estadistas, e em particular o mais alto magistrado da nação americana, não disseram nem fizeram coisas mais sensatas (ver Medos, fantasias e absurdos: O que a pandemia de covid-19 revela sobre a forma como vemos o mundo)? E que dizer dos restantes governantes e autoridades de saúde do mundo ocidental? Vê-los-á a posteridade de forma muito diferente daquela com que hoje encaramos Edward Smith, o comandante do Titanic?
As pandemias não cumprem a condição n.º 1 da definição de cisne negro: a de estar “fora das nossas expectativas normais, porque nada que tenha ocorrido no passado pode apontar, de forma credível, para esta possibilidade”. A história da humanidade foi atormentada – e moldada – por pandemias e por epidemias devastadoras que só não se converteram em pandemias porque a lentidão e incipiência das comunicações de então impediu que se disseminassem por todo o planeta. Foi apenas há um século que a gripe pneumónica ceifou 17 a 100 milhões de vidas e, apesar dos progressos prodigiosos no campo da medicina e da biologia ocorridos entretanto, em 1968 a gripe de Hong Kong fez 1 a 4 milhões de vítimas. O hipertecnológico e desinfectado século XXI conhecera já três pandemias relativamente benignas – a SARS (síndrome respiratória aguda grave) em 2002-04, a gripe A em 2009, a MERS (síndrome respiratória do Médio Oriente) em 2012 – e vários surtos epidémicos com potencial para se converterem em pandemias – o ébola na África Ocidental em 2007, 2013-16 e 2018. Para mais, duas das pandemias recentes – a SARS e a MERS – foram causadas por coronavírus. Onde está então a surpresa perante a pandemia de covid-19? Como justificar as semanas de inacção do mundo desenvolvido perante a aproximação do desastre?

Natureza-morta com cisne e garça, por Elias Vonck (1605-1652)
A verdade é que o Homo sapiens, apesar de todas as suas notáveis faculdades intelectuais, tem também uma terrível tendência para ignorar avisos sobre desastres iminentes. A este enviesamento cognitivo, somou-se uma arrogância nascida da fé cega nas capacidades da ciência e tecnologia: tal como o capitão Edward Smith acreditava que a construção naval do seu tempo tornara obsoleta a ideia de que um grande transatlântico pudesse naufragar, também muitos governantes e autoridades sanitárias terão assumido que a medicina moderna tornara obsoletas as epidemias nos seus países.

Natureza-morta com cisne, por Elias Vonck, década de 1630
Entrevistado no final de Março de 2020, Nassim Nicholas Taleb não deixou espaço para ambiguidades, declarando que a pandemia de covid-19 “não é um cisne negro, é um cisne branco. O 11 de Setembro foi um cisne negro; este é seguramente um cisne branco […] Não há desculpa para as empresas não estarem preparados, nem para os governos não estarem preparados”.
A covid-19 poderia ter sido sufocada à nascença (apesar de se ter perdido tempo precioso devido ao comportamento das autoridades chinesas), mas, em Janeiro, as empresas, os governos, as autoridades sanitárias e as empresas não tiveram discernimento nem coragem para, durante um mês, obrigar os aviões a ficar em terra, os navios de cruzeiros a permanecer nos portos e os hotéis, resorts e restaurantes a fechar as portas e a instituir rigorosos controlos sanitários nos aeroportos. Os resultados desta relutância são, para já, 3 milhões de infectados e 200.000 mortos (números com larga margem para crescimento nos próximos meses, sobretudo nos países pobres, populosos e com serviços de saúde incipientes) e um golpe devastador em todos os sectores da economia e afectando todos os países e que poderá estender-se durante dois ou três anos (ou mais se a vacina contra o SARS-CoV-2 tardar ou não se revelar eficaz); o que é de uma ironia amarga é que esta tremenda recessão económica será particularmente penosa e prolongada para a aviação, para os cruzeiros, para o turismo e para o lazer fora de portas.
Classificar a pandemia de covid-19 como “cisne negro” serve para alijar a culpa de quem deveria ter tomado as devidas precauções e nada fez. Se um destes dias ocorrer em Lisboa um grande terramoto, também se falará em “cisne negro”, apesar de as condições sísmicas de Portugal e o registo histórico nos dizerem que já aconteceu e que vai, seguramente, voltar a acontecer, só não sabemos quando.
















