Índice
Índice
Foi um dos poetas mais amados e mais seguidos da poesia portuguesa recente até à publicação, em 2010, de Um Toldo Vermelho, um livro que contem aquilo que Joaquim Manuel Magalhães considera ser o que se salva de tudo o que escreveu. O gesto teve a força de um cataclismo para os leitores e admiradores: muitos não lhe perdoaram, outros recusam-se a tentar sequer ler o que resultou de todos os cortes, rasuras, substituições. Dos 21 livros publicados restam pouco mais de 100 páginas que voltarão a ser revistas e cortadas e publicadas em edição de autor, em 2014.
Nesse mesmo ano surge Galopam e nova edição autor. Cerca de 100 exemplares para distribuir por amigos. Quase uma década depois do gesto iconoclasta que, de resto, sempre esteve latente quer no conteúdo, quer na forma da sua escrita, reaparece com Para Comigo (Relógio D’ Água). A obra, que chegou agora às livrarias, reúne a terceira e derradeira versão de Um Toldo Vermelho e Galopam. Finalmente em paz com o seu passado poético, Joaquim Manuel Magalhães diz-se pronto para começar uma nova fase da sua vida.
Fomos visitá-lo à casa que partilha com o poeta João Miguel Fernandes Jorge, perto do Bombarral. Mudaram-se para lá há mais de 20 anos. As árvores, os arbustos, as flores que João Miguel plantou nessa altura cresceram e formam um pequeno bosque colorido a lembrar a Europa do Norte. Joaquim diz que “não tem jeito” para jardinagem mas “adora o bosque, especialmente em dias de chuva”. Este ano aconteceu terem ambos livros novos a sair na mesma editora e na mesma semana. É a primeira vez que tal acontece em mais de quarenta anos de relação. Também não têm o hábito de mostrar um ao outro o que vão escrevendo, apenas o fazem quando os livros estão prontos. Quem lhes conhece as obras sabe como são dois universos totalmente distintos.
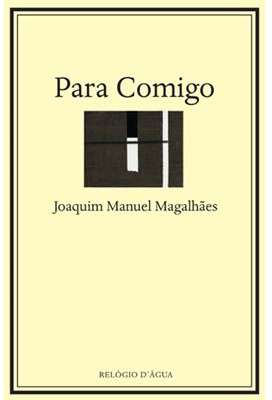
“Para Comigo”, de Joaquim Manuel Magalhães (Relógio d’Água)
A casa cheia de livros e quadros é um refúgio familiar e acolhedor. Alheios ao que se passa no meio literário, nas academias, nas redes sociais, vêm cada vez menos a Lisboa, preferem as Caldas da Rainha onde têm amigos e Joaquim já não se imagina a ser empurrado para relações, atenções, leituras que não quer. Tornou-se ainda mais seletivo e exigente, mas a generosidade para com os outros é igual: uma das premissas desta entrevista era poder falar sobre os bons livros de poesia que 2018 lhe deu. Prefere falar da poesia dos outros. Sobre a sua é parco e assertivo, sem direito a elucubrações líricas que, de alguma forma, sirvam para “vistoriar” aquilo que ele acolhe, recolhe ou despede. Defende aguerridamente o seu direito à mudança e está-se nas tintas para o que os leitores querem dele, se se sentiram traídos, se vão lê-lo ou não. De qualquer forma já tinha avisado:
“Melhor não lesse
quem por dever
E se interpretou aqui
um exercício de sintaxe
uma retórica minada de prosódia
independente de biografia,
por favor não atrapalhe.”
(Um Toldo Vermelho, 2010)
No seu ensaio Com Voz Torva e sem Arrependimento, Maria Filomena Molder defende que JMM retirou da sua poesia toda a sedução, mas manteve o demoníaco, a torpeza e a astúcia. Com Agustina, sabemos que nenhuma sedução “retém os nossos passos nem constrói monumentos de paz, pelo contrário a produz uma virtude de pacotilha que é a submissão” e, tanto a vida como a poesia de JMM sempre se pautaram por uma vivência radical da liberdade, a sua e a dos outros. Não perceber que na raiz da obra Magalhães se encontra mais a rebeldia e o acidente que a busca de verdades ou a afirmação identitária que parece hoje ser a demanda de todos artistas. “Sou a vida que me atravessa”, declara nesta tarde de domingo e chuva. “Só escrevo a minha biografia”. Com a mesma ênfase recusa todas as ideias feitas e todas as expectativas que se colaram à sua poesia e à sua pessoa.
Para Comigo é assim o livro mais radical de JMM. Toda a narratividade desapareceu, toda a imagem concreta, direta desapareceu, restam palavras antigas, esquecidas, palavras novas como se pronunciadas na primeira manhã do mundo. Resta (e não é pouco) uma toada, uma musicalidade que evoca as Cantigas d’ Amigo, as canções tradicionais que aos poucos se sobrepõe a tudo e se torna viciante. É quase impossível ler este livro sem a ajuda de um dicionário e isso pode ser muito frustrante para os leitores porque impede que se entre no poema logo à primeira ou segunda tentativa. É preciso ficar ali, aceitar o desnorte, a asfixia, a sensação que tudo aquilo nos escapa como uma língua desconhecida. O tempo e o espaço volatilizaram-se, não há boias nem botes salva-vidas.
Talvez, nunca como agora a poesia de JMM esteja tão impregnada de real. Já não é um real evocado, descrito, já não há cidades, nem quartos, nem corpos. O real é essa contínua sensação de afogamento, de perda, de estranhamento, de incerteza naquilo a que chamamos dias e horas, factos, acontecimentos. O real é tudo o que não sabemos como explicar. Como nomear, como agarrar. É esse estilhaçamento que encontramos neste livro, onde só um passado remoto se parece salvar. Um passado feito de minérios, plantas, restos de vozes, restos de imagens, uma natureza metamórfica em oposição a materiais sintéticos, artifícios técnicos, fraudes de strass e musselina. Houve um tempo em que JMM era menino, usava calças de surrobeco (burel/lã) e tinha uma bisavó alemã que lhe dirigia imprecações, vivia entre montanhas imóveis e estava atento a tudo o que ainda não possuía nenhuma história…
“Bugalho. Cárcere carteiro.
Razia, buril
Furtava o confim azinhaga.
Ia ter contigo.
Cio num botão de sal.
Ponteei-o, sépia vinil.
Grés a calcinar.
Comedida veemência.
Ideia e saga.
À tardinha anda passear.
Cicatriza-te em mim.”
(Para Comigo, Um Toldo Vermelho, 2018)
Depois de ter sido crítico literário, professor catedrático na Faculdade de Letras, retirou-se para o bosque. Desistiu do meio literário português? Porquê?
Não, nunca usaria para mim a palavra desistir, diria que nunca lá estive pessoalmente. Mas penso ter estado sempre atento, como hoje ainda estou, às palavras vagantes dos outros. Fiz duas ou três amizades que resistiram a muitos escolhos, sobretudo porque não gostei de grupos literários, preferi sentir-me livre e observar de fora com a maior atenção. Mesmo catedrático, tal como alguns outros colegas meus, não me acomodei, mantive toda a atenção e sempre falei do mais antigo e do mais novo, num ímpeto que tinha a ver comigo como pessoa e com os alunos a quem pude prestar mais atenção. Fiz sobretudo isso e muito menos tornar-me um angariador de posições afastadas dos alunos para me promover económica ou socialmente. Nunca procurei sequer ser um catedrático de uso externo, como também se faz.
De qualquer forma nunca teve uma relação fácil com esse “meio literário”.
A primeira pessoa (de qualidade) que conheci quando cheguei a Lisboa foi o Manuel Gusmão. Depois o João Miguel [Fernandes Jorge] e logo a seguir o António Palolo. Ele foi o nosso primeiro amigo conjunto e nós sentimos logo a diferença que era estar com alguém das artes plásticas e alguém do meio literário. As pessoas das letras dão menos atenção ao novo e são muito mais conflituosas. Nos artistas essa atenção ao novo não era conflituosa. O espírito sempre foi outro, mais aberto. Por isso, toda a minha vida me relacionei mais com gente das artes plásticas que da literatura. Ainda hoje os meus grandes amigos são das artes. No final dos anos 60 não era tão conflituoso, mas havia os grupos fechados. E eu detesto a situação de grupo. Aos poucos, o ambiente literário foi-se tornando mesquinho e eu infelizmente voltei a perceber essa mesquinhez quando apareceu a internet, os blogues, as redes sociais e as pessoas começaram a mandar-me coisas que eram ditas aí. Eu pressenti logo que a internet potenciava a malignidade e que quanto mais medíocre fosse uma pessoa mais ela era capaz de escrever coisas insultuosas. Lembro-me de já então pensar: olha aqui está a nova PIDE. Podem dizer o que quiserem e como ninguém lhes exige que se justifiquem ficam impunes.
Também foi sempre muito crítico em relação à massificação da cultura.
Isso hoje atenuou-se muito em mim. Mas essa posição vinha de coisas muito íntimas como o facto tão simples de eu precisar muito de solidão. Eu preciso mesmo de solidão. Eu preciso mesmo de não me sentir empurrado para fazer coisas, para leituras, para as palavras… Mas hoje em dia o que mais me incomoda já não é isso mas a circulação de um discurso de ódio. A ideia de que existe crítica literária é falsa já, pela simples razão de que os próprios jornais se aglomeraram a essa net tão típica. Coisas para a paciência e para ver o que virá a suceder.
No entanto, começou a sua carreira na televisão, no final dos anos 60.
O programa chamava-se “Os Homens, os Livros e as Coisas”, foi em 1969. Depois do 25 de Abril as pessoas pensaram que eu tinha sido expulso da televisão. Mas na verdade o que aconteceu foi uma pequena história fascinante: quando acabei o curso era muito novo e o catedrático Joaquim Gonçalves Rodrigues, um homem ligado ligado ao regime, chegou a dirigir a Mocidade Portuguesa e se considerava um “fatimista”, veio convidar-me para ficar a dar aulas na Faculdade de Letras. Mas disse-me que para isso gostava que eu deixasse de fazer programas na televisão. Eu, muito espantado, perguntei-lhe “mas porquê?”. E ele respondeu: “Porque eu acho que você agora deve estudar, aprofundar, tem que ir investigar muito lá para fora, a televisão vai torná-lo superficial”. Senti que aquele homem me tinha dado uma lição de vida extraordinária. E que aquele homem era de uma extrema inteligência nas suas relações com os outros. Percebi o que estava em causa e deixei a televisão.
Pode a poesia sobreviver à girândola consumista que tudo engole, a um público pouco lido e sobretudo pouco disponível para o atrito ou está destinada a ser sempre para uma elite reduzida?
Sempre se leu pouco. Sempre se leu pouco poesia. Dantes as distâncias e os preços afetavam o pouco acesso aos livros. Mais antes ainda, aquilo sobre que pousavam as palavras era para um reduzido número, optou-se por a cantar, para servir em festas da cidade e dos ricos senhores que as governavam. Às vezes, esses senhores acontecia gostarem mesmo do que ouviam e patrocinarem alguns para escreverem para eles ou para os seus espaços em que agrupavam rolos com palavras.
Hoje em dia vive-se uma época com coordenadas sociais diferentes, naturalmente, e isso repercute-se nas compras, o que afeta as editoras que vivem estritamente para a venda. Eu creio que, mesmo assim, a disponibilidade para a leitura deve ter-se alargado a uma percentagem maior de gente. Só que essa percentagem é sobretudo de gente que acredita na publicidade e se habituou a aconselhar-se com ela. O fito da publicidade é impingir produtos. O que é impingido, porém, não se pode afastar muito do gosto geral. Os escritores estão atentos a isso. A publicidade acaba por os auxiliar se se inscreverem no que a publicidade entende por gosto geral.
Foi sempre assim. Hoje parece-nos mais evidente, sei lá. Houve livros muito bons que tiveram uma difusão por via do gosto geral, estou a pensar em Werther como um exemplo. Houve livros muito maus que se venderam enormemente, como A Rosa do Adro, de já nem sei que autor e que se tornaram esquecimento. Todos os anos em que andei em escolas e liceus e faculdades como aluno, eu via claramente que todos os meus colegas não liam, raramente encontrei uma exceção a isto. Quando me tornei professor, descobri que também a maioria dos meus colegas, próximos da literatura, não liam para lá dos seus interesses imediatos, isto é, liam o que lhes era preciso. Gostam de se sentir especialistas, aquilo que mais mata a literatura e o seu ensino. Alguns até tentaram ser poetas, um ou outro teve editoras, mas na sua maioria eram maus, poucos foram os que sobreviveram desse modo. Deve haver várias pessoas que passaram por esta realidade. Talvez outros não tenham passado, como em tudo.
A poesia pode criar dificuldades, rugosidades que a afastam desse gosto geral ou apenas o alcançam mais tarde no tempo. Há poetas que continuam a publicar tijolos e as editoras podem não se importar, pois eles supostamente vendem, pois se souberam aproximar de um gosto geral na maneira da sua organização de palavras e sentimentos. Outros não conseguem, não se importam, não querem desistir da sua conceção construtiva de emoções e de buscas. Se escolherem esse caminho, se o tiverem escolhido em momentos longínquos já no tempo, sempre teriam pouca repercussão. Depois há os poetas maus e os prosadores maus, isso é outra questão.
Por mim não gostaria de me tornar um poeta de leitores, por feitio. Da mesma maneira pela qual não gosto de ter demasiados amigos, tenho amigos, mas não muitos. Contudo, a poesia e não o poeta sempre foi para quem quiser.
“ — O que achas que ele fez?
— Uma coisa que esteve sempre a fazer e que só ele pode fazer.
— O quê?
— A reler os seus versos hoje e a recolher os despojos, que com os batimentos das ondas ficam lavadas de ouro e imundice em vez de os embalsamar: é que, mesmo profetizando contra si próprio, conseguiu não ter o coração de cinza.”
(Maria Filomena Molder, sobre Joaquim Manuel Magalhães em Dia Alegre, dia Pensante, dias Fatais)
Enquanto crítico literário evitava o atrito que não evitava enquanto poeta?
Nunca escrevi sobre nenhum livro de que não gostava. Preferia silenciar-me. O problema foi mesmo eu deixar de viver bem com esse trabalho. Aquilo criava-me confusão, desestabilizava-me. Embirrei com o que estava a fazer, de tal modo que nem quis reunir em livro esses últimos textos. Quando me mudei para aqui percebi que tinha que me dedicar a uma coisa só. É muito importante haver quem discuta os livros. Sobretudo isso; quem discuta. Agora na internet as pessoas não discutem nada. Manifestam bronquidões e não se justificam porque estão no anonimato. Se o não estão, limitam-se a formar um impulso qualquer que lhes dá e não é nunca qualificado. Esta coisa da internet das redes sociais e das caixas de comentários é profundamente cobarde, não cultural. Causa-me preocupação e temo que seja a partir dela que nasçam novas tiranias. Pois aquilo já está configurado para ser o ser. Ao mesmo tempo, vontade de ferir o outro e alienação. Esta leva sempre a ditaduras. Uma sociedade inteira ali metida pode destruir a sociedade do diálogo, da complacência, do aprofundamento de ideias.

▲ "Durante estes últimos anos publiquei dois livros em edição de autor. Isso fez-me feliz. Agora pensei que estava a ser um pouco cobarde em continuar a fazer livros só para os amigos"
ANDRÉ CARRILHO/OBSERVADOR
A internet faz-me lembrar o que foram, no princípio do século XX, os movimentos de alteração da literatura. Dou um exemplo: o Manifesto anti-Dantas do Almada Negreiros. O Almada era um autor que, quando confrontado com as pessoas da sua geração, era um escritor menor e um artista menor. Ele é contemporâneo de gente magnífica como o Santa Rita Pintor, o Sá-Carneiro, sobretudo o Pessoa. Também este teve que reagir ferozmente em defesa do Raul Leal ou do António Botto ou da Maçonaria, mas agiu com uma finura, uma ironia tão subtil, uma genialidade que o Almada nunca conseguiu. Para mim o Manifesto anti-Dantas é um bom equivalente absoluto das redes sociais: é o escrever por ódio e para dar nas vistas.
Um dos homens que eu mais admiro na literatura portuguesa é Jorge de Sena. Mas ele tem duas coisas que não percebo por serem talvez negativas: a agressividade resultante do seu ressentimento muito ligado ao seu imaginário. Ele estava fora e isso levou a que muita gente o procurasse ignorar ou não lhe prestasse a devida atenção. Penso muita vez que um poeta violento pode atirar assim por se pensar não amado. No fundo, é um caso muito complicado para ele mesmo.
Nos anos 80 falava da “bertrandização” da cultura e hoje isso tornou-se mais evidente que nunca com os conglomerados editoriais e a progressiva marginalização das editoras e livrarias independentes.
Eu não vejo as coisas assim. Porque isto fez com que aparecessem muito mais pequenas editoras que são muito importantes. E na Assírio & Alvim comprada restam dois grandes poetas que eu admiro, Herberto Helder e António Franco Alexandre. Embora o pareça, não foi um grande triunfo para a Porto Editora. Limitou-se a esses dois. Para mim o grande problema das editoras portuguesas foi o incentivar muito um gosto que é fácil, sobretudo na ficção. Perceberam que quanto mais banal fosse um livro mais vendia e então passaram a apostar apenas nisso. Há um grande desequilibro entre a quantidade de ficção publicada e a sua qualidade.
Durante estes últimos anos publiquei dois livros em edição de autor. Isso fez-me feliz. Agora pensei que estava a ser um pouco cobarde em continuar a fazer livros só para os amigos. Então de novo entreguei a palavra ao difícil encontro com essa figura que é o leitor sem cabeça. Contudo, mesmo agora, não sei o que vou fazer a seguir.
A minha admiração vai toda para o que fazem as pequenas editoras. E ainda há umas pequenas livrarias em Lisboa, a Letra Livre e a Paralelo W e agora a Poesia Incompleta, onde consigo encontrar os livros que vão saindo nessas pequenas editoras, e aí podemos encontrar muito boa poesia, sobretudo mais afoita do que a dos conglomerados.
Por exemplo?
Dou um exemplo de uma coisa muito boa que saiu em edição de autor, as pequenas ficções de Maria de Fátima Borges chamadas Vai Chover Amanhã. A autora vive nos Açores, é a melhor ficção que eu li neste ano. Ela tinha publicado na Cotovia e depois nunca mais conseguiu editar. Um livro de um uso admirável da nossa língua. Histórias que são simultaneamente ternas e de uma grande densidade. Outro livro que me fascinou pela mágoa, por algum sentimento soterrado, Ultimato, de Diogo Vaz Pinto, (na Língua Morta) uma aventura verbal espessa, torva e subtil muito atrativa e bem conseguida. Outro, Shots de Manuel de Freitas, (na Averno) uma obra exímia de envolvimentos culturais, construída com elementos muito pessoais, doces mesmo quando surge alguma amargura. Dois livros de Paulo da Costa Domingos, (na Frenesi) Jocasta e Dizimar, breves e muito densos, com uma escrita sempre singular, em grande tensão sintática e declarativa. Uma incógnita chamada Iluminuras, de um certo Théodore Fraenckel (na Douda Correria), sobre o qual eu tenho uma opinião muito peculiar: admirei sempre a poesia de Fernando Guerreiro, um poeta que pode ser considerado um dos precursores destas editoras pequenas, quase sem distribuição nos grandes escaparates. Sempre gostei do peculiar uso do seu olhar e, mais pessoalmente, o facto de ele, sem sequer imaginar, me salvar tantas vezes, no espaço de trabalho ora o bar da faculdade ora a própria faculdade em si, com a sua simples presença. Agora saiu este livro e eu acho que é um pseudónimo do Fernando Guerreiro (a menos que ele me desminta). O último, é de alguém que tem editora menos restrita e poder nos jornais, o que não representa para mim nada que me incomode, Pedro Mexia. Aderi de imediato a este Poemas Escolhidos (na Tinta da China). Com um título oblíquo, desafiante na sua maneira próxima de quem o lê, na sua auto expressão. A sua obra organiza-se e cria um livro bem consistente, com poemas de uma placidez por vezes até amarga, para mim sempre envolventes.
São livros que eu experimento como muito centrais no âmbito da renovação da nossa linguagem poética durante este ano e por isso sinto a necessidade de os referir.
Todos eles são intensamente diferentes entre si e isso é muito bom. Sempre me incomodaram muito os grupos na poesia portuguesa; os Surrealistas, a Poesia 61, coisas tacanhas que só sobressaíram porque lá dentro tinham poetas muito bons, como o imenso Cesariny e o António Maria Lisboa ou a Luiza Neto Jorge. Imagine-se o que seria hoje o Orfeu se não tivesse tido o Fernando Pessoa e o Sá Carneiro? Era um conjunto de pessoas interessantes e nada mais.
A sua forma de lutar contra a tal “bertrandização” é frequentar apenas pequenas livrarias e pequenas editoras independentes?
Gosto muito das pequenas editoras, onde também se publica o bom como o mau como o sofrível. Gosto muito também de livros de autor. Veja a Maria de Fátima Borges; vive na Ribeira Grande de S. Miguel. A Joana não pode imaginar a porcaria dita cultural que por esse arquipélago viceja nos pequenos jornais provincianos, nas opiniões de que se deveriam envergonhar, nos autores que por ali existem. Se ela não pode respirar nessa envoltura, fica em casa e publica o seu livro longe de todos. Haveriam de a publicar no continente, ao menos, depois em qualquer outro sítio. Mas o continente já é o que é para si próprio. A ninguém interessa uma pessoa que mal sai da sua terra e se habituou habilmente à sua carapaça, que deve ser muito bem escolhida. Não escreve muito. Então com algum dinheiro guardado dá-se ao prazer de publicar de maneira a não ser incomodada.
Uma vez entrei numa livraria, uma Bertrand, e perguntei por um livro. Era de uma pequena editora, mas tinha tido distribuição. A senhora que me atendeu disse-me: «Não, não temos. Nós só vendemos livros de editoras sérias.» Portanto, os conglomerados são o que são. Editoras sérias. Não vale a pena bater mais no ceguinho.
Escreveu “o poeta maior é aquele que, por um lado, enceta um diálogo com o passado deixando que em si se ouça a força da tradição, na memória e, por outro lado, sabe desligar-se da convenção, da tradição indo além do que já foi feito numa cultura”. Quem são os seus poetas maiores?
Há poetas maiores entre os quais escolheria certos poetas trovadorescos e, no domínio estrito do português, um ou outro no Cancioneiro de Resende: podem ter escrito somente um poema excelente que a literatura não os esquecerá. Houve António Ferreira e houve Camões. A seguir ao humanismo e ao maneirismo não encontro nenhum poeta. Há muitos, mas eu não tenho o gosto ajustado a eles, o que pode ser, sem dúvida, uma injustiça, daquelas que o gosto prega. Só o venho a encontrar em Cesário, em Pessanha, em Pessoa e em Sá-Carneiro. A seguir ainda não sei, ainda não houve tempo para a distância capaz de compreender e sedimentar. Mas há alguns que, sem eu ter dúvidas, me parecem grandes ou a caminho disso. No século XX tivemos muito bons poetas e também já nestes inícios do século XXI. Mas terão todos de esperar um pouco mais. Não me levem a mal.
É possível chegar a ser um grande poeta sem conhecer bem aquilo que nos precede?
A minha atenção para os mais novos tem exatamente a mesma dimensão com aquilo que já existe, que já foi feito. Tem que haver esse conhecimento do que já foi feito senão não sabemos usar, manobrar a Língua. A nossa capacidade de lidar com a Língua depende do mais aprofundado conhecer, quer do seu passado, quer da sua evolução. Eu ficaria sem pé se não conhecesse a poesia antiga e a poesia mais recente. Se eu não conhecer o mais novo fico no nevoeiro, mas se não conhecer os antigos é como se perdesse completamente o pé. É uma situação que me custa a imaginar. A poesia tem poucos leitores porque não há este conhecimento e as pessoas habituaram-se à superficialidade. A poesia não depende da venda, nem sequer da publicação de um livro. A poesia pode ser apenas uma circulação dentro de nós e com essa circulação nos vamos ao encontro de outros livros. Se a poesia que circula dentro de um poeta não for mais do que um diktat, mal vai o poeta. Repare-se como poetas recentes, o Eugénio de Andrade ou o Herberto Helder tinham um conhecimento profundo do ‘antes’.
Porém, considera que os poetas menores também fazem falta…
Para mim é evidente que tudo brota de um terreno bem preenchido de adubo. Tem de haver uma flutuação plural de gostos, de conseguimentos falhados, de escolhas, de sinalização das boas e das más escritas. Daí pode surgir um ou outro poeta capaz de perceber e de irromper.
Também escreveu que há uma certa poesia portuguesa que é “uma sabotagem esplêndida iniciada com os modernismos…”. Há muitos impostores e imposturas na literatura em geral e na poesia em particular?
É provável que haja imposturas, a começar pelas necessidades publicitárias, cá e por todo o lado. É evidente que na poesia também. Quer um exemplo português entre vários? Manuel Alegre, não que ele seja por si próprio uma impostura, uma vez que deve acreditar no valor do que escreve. Mas porque instituições sem vergonha e critério ajudam a torná-lo uma impostura.
“Gente da minha idade, outros mais novos do que eu, devem a si [Herberto Helder] nunca terem conseguido ser melhores. Também se não fossem de você, valha a verdade, seriam pigmeus de outro (…) A poesia portuguesa que se lhe seguiu só era interessante quando não estava colada a si”. Depreendemos deste seu texto que não gosta de autores que não descolem do mestre, que escrevam apenas epigonicamente?
Eu só consegui começar a escrever coisas para que pudesse olhar, quando me libertei, como é comum a todas as adolescências, de José Gomes Ferreira e também de Florbela. Depois veio Herberto contagiar-me. Mas eu tinha consciência disso. Portanto, só quando me li e não encontrei nada desses três é que comecei a mostrar a mostrar os meus versos, muito antes ainda de pensar em publicá-los. Se começo a ler um autor e sinto que é influenciado por mim, não gosto. Detesto alguém que me siga.
Reza a história que o Joaquim terá sido o fundador do chamado “Grupo do Cartucho”, que abriu uma forma de realismo na poesia portuguesa. Mas talvez não tenha sido bem assim…
Bem, isso não é a história, são as historietas. Coisas que certos néscios resolveram inventar. Esse Cartucho começou assim. Disse ao pai do João, com quem muito simpatizava e com quem falava imenso, que me apetecia publicar um livro que fosse papéis amarrotados com poemas impressos e atirados para dentro de um cartucho como “aquele ali” [estava um pousado numa beira lá em casa]. Enquanto o João se afastou logo da minha ideia, o pai dele entusiasmou-se. Disse-me que o fizesse, ele me daria os tais cartuchos, os fios e uma pequena máquina para a eles fixar os fios da embalagem. Eu iria começar essa ideia.
Uns dias um pouco adiante, encontrámo-nos com o António num bar de Óbidos. Não me lembro absolutamente nada acerca da razão, mas estava lá o Moura Pereira. Quando disse ao António o que ia fazer, ele ficou logo entusiasmado, começou a falar de juntarmos aos poemas figos secos e castanhas, por aí fora. Claro que eu só queria papéis amarrotados com poemas impressos. O João entusiasmou-se com o facto de o António entender a ideia e quis entrar, abdicando do seu sozinhismo. Por uma questão de delicadeza, não sei quem entendeu alargar a presença ao quarto elemento. Não gostei muito, mas calei-me. Assim surgiu o “Cartucho”.
Parece que foi um grupo deliberado, se tudo foi assim ocasional? Ninguém pensou em nenhum intuito programático e limitaram-se a mandar-me poemas seus para esse efeito. Tinha esse grupo o intuito do real? As pessoas lembram-se de coisas, vem um e lembra-se de mais qualquer uma. Se a exprime cai no poço do equívoco.
“Apenas o real
Diferendo. Árduo impacto.
Drenam o visível,
Atípico e controverso
zarcão.
Superfície e miragem,
Passaporte, coturno.”
(Para Comigo, Um toldo vermelho, 2018)
“Regressar ao real”, como escreveu num poema. Ainda é isso que deseja, o Real?
Esse regressar ao real que escrevi num poema era uma reação ao que me cercava, ou seja, os ditames da Poesia 61. Que eram apenas manobrismos de toda a ordem e eu não percebia porque é que tinham banido os grandes escritores de uma mera geração anterior determinante, que sempre estiveram ligados ao real, que funcionava neles como o suporte de uma ideologia. Uma coisa premente naquela altura. Eu não estava a falar em termos de futuro mas de passado. Regressar ao real, ao realismo queria eu, porque gostava de Cantigas de Amigo, do Fernão Lopes, dos Lusíadas e, porque gosto muito, do Cesário Verde. Essa oposição que era feita à nossa tradição poética mesmo que muito recente desagradava-me. Era uma coisa bolorenta. Para mim o “regresso ao real” era tão só o regresso à poesia de que eu mais gostava. E depois pegaram logo nesse verso como se fosse uma bandeira minha quando eu nunca tive bandeiras. É tão curto como isto. Não é ditame nenhum. O que a poesia viesse a ser era com ela. Na verdade comecei por escrever esta frase num ensaio sobre António Osório em quem tinha havido esse retorno e depois voltei a usar a ideia em três versos nada ideológicos ou programáticos. Agora, na última versão, já só tem três palavras: apenas o real.
Eu não tenho culpa que não haja pessoas que saibam ler-me e não percebam as coisas que eu escrevo. Isto não é, nunca foi, um programa. Foi, quando muito, uma lamúria. Porque havia gente que estava a ser hostilizada, quer pelo Estado Novo quer pelas ditas atitudes de maus poetas dos anos 60.
Eu gosto muito da Luiza Neto Jorge, mas a Poesia 61 era mesmo um grupo de ataque, de exclusão, o inverso da minha maneira de ser. Ainda hoje. Porque para mim a poesia sempre foi uma forma de diálogo, mesmo que seja um diálogo de confronto, mas ainda assim um diálogo e não exclusão. A poesia quando deixa de ser diálogo é uma coisa pavorosa porque entra no circuito do banimento. Sempre compreendi a poesia como um espírito de diálogo, uma atenção acesa a todos os outros que procurassem um poeta.
Outra das coisas que o Joaquim Manuel Magalhães trouxe também para a poesia portuguesa foi a narratividade, algo muito marcante para muitos poetas das gerações seguintes.
Hoje já não sou nada narrativo. Isso desapareceu completamente. Mas foi outra fuga. Foi a minha fuga dos ingleses e americanos que eram muito narrativos. Embora, actualmente, eles próprios estejam a afastar-se dessa narratividade. Há poetas novos de que gosto muito, o americano de origem vietnamita Ocean Vuong onde a narratividade é só uma insinuação; o inglês Andrew McMillan, em quem dificilmente encontramos uma precisa narratividade. A primeira poesia que me marcou vinda desse universo foi o Dylan Thomas, onde eu encontrava narrativa e não gostava; a par de transbordamento grandiloquente de calculadíssimas metáforas. Acabei por decidir fazer uma tese de doutoramento sobre ele, o Dylan Thomas, em vez de fazer uma tese sobre o Philip Larkin de quem eu gostava muito mais. Dava-me mais gozo o confronto.

“Eu não sei o que vai acontecer a seguir. É a poesia que me conduz a mim e não eu a ela”
O confronto é-lhe fundamental, não é?
É.
Mas detesta a agressividade. Não é um paradoxo?
Não, não é. O confronto é uma necessidade de ir ao encontro do outro e consentir que ele se aproxime de nós com uma sua divergência qualquer. A agressividade é um ato de prepotência, o murro e a bofetada (e a vontade de extermínio) que eram situações sempre invocadas nos chamados manifestos vanguardistas. Dentro dos fascismos e do bolchevismo. Perante a hecatombe que foi o trágico século XX, em que esses manifestos futuristas soviéticos ou do ocidente europeu, dadaistas, ou expressionistas, a civilizações vacilou. Muito a custo se foi erguendo até aos dias de hoje. Não me chamem pós-modernista, por favor; eu estou muito dentro, no meu gosto, do modernismo de Pound e de Eliot, dos anos 10 do século XX em que eles atuaram dentro de um espaço esvaziado pela morte (a primeira guerra). Mas só muito depois dessa data, Pound se tornaria um criminoso real e Eliot se converteria num seguidor da ala mais conservadora do anglicanismo. Até ao advento do fascismo ocidental, a obra destes dois foi uma força na minha formação.
Muito cedo e num tempo adverso assumiu a homossexualidade publicamente, nomeadamente através de uma poesia onde esta aparecia profundamente ligada ao afeto. Se as canções nunca falavam do amor homossexual, a sua poesia passou a falar.
Descobri a minha identidade sexual, não a minha realização sexual, quando andava ainda na escola primária. Tinha noção de para quem gostava de olhar. Isso vem de antes da adolescência. Eu tive essa capacidade porque tinha a silenciosa atenção de um heterossexual esclarecido, o meu pai. Foi determinante. A partir daí não tive mais medo de nada. E um facto é que nunca ninguém me hostilizou pessoalmente. Exceto dois futuros jornalistas de nada, que, em meados dos anos 60, na casa do Nuno Júdice, nos receberam fingindo que estavam a tocar-se entre eles. Uma coisa ridícula em que nem sei como o Júdice consentiu. Por mim, limitei-me a soltar uma gargalhada e sair dessa casa idiota.
A partir de que momento é que percebeu que era esse o caminho, cortar, tirar, mudar, refazer tudo o que tinha escrito antes?
Pode deixar de ser este o caminho. Eu não sei o que vai acontecer a seguir. É a poesia que me conduz a mim e não eu a ela. As coisas aconteciam-me. Acontecia-me por vezes escrever um poema que eu achava poder ser interessante. Como me aconteceu escrever milhares de outros que rasguei. A minha poesia esteve sempre a mudar. A mudança mais drástica resultou do facto de, finalmente, eu me ter encontrado bem com um livro, que foram esses dois que fiz em edição de autor. Porque esse Um Toldo de 2010, eu também não me encontrei bem com ele, não gostava da construção do livro. Por exemplo, havia poemas em que eu pedi para colocarem cada estrofe numa página. Devia estar maluco. O leitor não é obrigado a perceber um maluco. (risos) Eu não fui inteligente nesse livro. Só me encontrei verdadeiramente com estes dois livros o novo Um Toldo Vermelho e Galopam que agora estão reunidos no Para Comigo.
Muitos leitores seus não lhe perdoam esta mudança drástica, não percebem onde quer chegar, o que aconteceu para ter feito alterações tão profundas naquilo que era a sua poesia.
Não há nada que perceber. Eu senti-me bem com estes novos livros. Não faço aquilo que fazia antes, que era assim que um livro era publicado eu passava a não gostar dele. Ficava com pena de não gostar do livro e começava logo a mudar um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Mas isso trazia sempre coisas atrás que sempre me mantinham no desagrado. Então resolvi atalhar caminho. Não por palavrinhas, não por imagens, mas por radicalizações gramaticais. Ajudaram-me imenso, livraram-me de tanta ganga…
Mas tornou-se uma poesia muito mais difícil. Desnorteia-nos, deixa-nos sem chão. Usa maioritariamente palavras que desconhecemos, palavras antigas cujo significado já ninguém lembra.
Nunca fui um poeta de grande público. De qualquer forma até pode acontecer que se atenue essa estranheza e alguém surja que já se habitou a esta nova toada. Mas não me tornei um escritor hermético. Está lá tudo às escâncaras. Só não repito o que digo. Todas essas palavras remetem para a minha infância. Quando era muito criança saía de casa da minha avó, ia brincar para a rua de terra batida, fazia uns buracos e depois deitava água e fazia umas bolinhas. Ia fazendo, fazendo até ter dez bolinhas. Enquanto eu brincava as mulheres, os rapazes passavam por mim e aquelas conversas, aquelas palavras entrecortadas que eu apanhava permanecem em mim até hoje. Podem ser um tanto arrevesadas, mas nunca o foram para mim.
“Cinzentos em fusão os olhos uma ousadia.
O tapete de cairo picava-nos uníssono.
Afugentei o navio
Que para mim navegava.”
(Para Comigo, Galopam, 2018)
Maria Filomena Molder escreveu no seu ensaio “Com a Voz Torva e Sem Arrependimento” (Dia Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais) que a partir do livro Um Toldo Vermelho (2010), o Joaquim apagou a sedução da sua poesia.
Sim. Aconteceu, não fiz de propósito. Simplesmente enveredei por uma respiração nova. Mas eu sei que tudo o que eu escrevi para trás existe, que há bibliotecas, que as pessoas podem ler aquilo. No entanto, como só vai poder ser re-editado 70 anos depois de eu morrer, quero lá saber. Se aparecerem poemas desses na internet é de novo um fartar vilanagem que não terei a oportunidade de ler, pois lhes sou indiferentes.
Essa nova respiração visa, em última instância, chegar ao silêncio?
O que eu quis foi simplesmente não me repetir. É um trabalho a partir de mim. Os que verdadeiramente gostavam da minha poesia compreendem a minha mudança. Não destruí nada, não foi uma coisa que eu persegui, foi um lugar de mim a que cheguei. E quando aqui cheguei, senti, pela primeira vez na vida, que gostava da minha poesia. Finalmente gosto do que fiz, portanto a partir daqui não vou alterar mais nada, vou escrever outras coisas.
E que coisas são essas?
São coisas que já estão escritas e agora têm que ser aglutinadas e onde, curiosamente, eu me aproximo de novo de uma certa discursividade. Mas é preciso que se perceba que isto não é um combate por nada. É só a minha vida de escrita.
Há um livro onde declara que o seu apreço profundo “vai sempre para poetas onde se respira muito amplamente esse “seja o que for” que a poesia pode ser.” É isso que gostava que os leitores se permitissem encontrar nos poemas do livro Para Comigo, que acaba de publicar?
Não sei nem quero saber dos leitores. Se tivesse alguns, o que preferia era que me deixassem chamar-lhes a atenção para os poetas de quem gosto. Só isso seria bom.
Considera que ler poesia não é descodificar ou decifrar mensagens, e a sua preocupação não é gerar consensos, granjear admiradores.
A poesia, ela, ergue-se em torres solitárias e tem de tratar das suas torres, o que lhe causa imenso trabalho. Ou então entender que são torres de atenção, de acompanhamento. Ou mesmo torres de convívio: há sempre uma sala com cadeiras onde um poeta se pode sentar com os outros da literatura de quem gosta.
Tem dedicado parte da sua vida ao ofício de traduzir e tem uma visão muito exigente do que é e não é uma boa tradução.
Para mim só é tradução o que aparece em versão bilingue e possa ser comparado por aqueles que conheçam as duas línguas. Não encontro que seja tradução aquilo que não tendo sido escrito pelo poeta que se está a traduzir se transforme em português bonito. Muitas vezes estamos a ler poetas de outras línguas num português supostamente aliciante quando na língua original aquilo não o era. Há tradutores que escrevem aquilo que eles querem escrever e não o que o poeta realmente escreveu. Defendo uma tradução equidistante; nem literal, nem bonitinha mas uma tradução que se possa fazer. E nem tudo se pode traduzir, especialmente em poesia. Eu, por exemplo, sou incapaz de traduzir poetas que tenham esquemas rimáticos. Cada tradutor deve reconhecer os limites da sua liberdade e da sua literalidade.
Kavafis, ao qual dedicou tanto tempo da sua vida, foi um poeta determinante para si?
Não. É muito mais determinante o Cesário Verde. É verdade que também gostei muito do T. S. Eliot,, como lhe disse, mas hoje já não gosto tão profundamente e, o que o Eliot escreveu a partir de 1926, irrita-me. Sobretudo, irrita-me a critica dele, é muito pedante. Pior: ele criou grupos de seguidores, a sua Teoria Crítica deu origem ao New Criticism americano, e a outras felonias.
Nos anos 90 deu-nos a conhecer, através das suas traduções, vários poetas espanhóis. Continua a seguir a poesia espanhola?
Continuo a seguir todas as poesias de que conheça a língua. Temos de reconhecer os nossos limites e expressar que de línguas que não sabemos pouquíssimo podemos com rigor conhecer. Apoiar-me na tradução de alguns, o que é sempre uma opção arriscada, talvez me alerte, me ajude, mas bem sei que não poderei nunca lá chegar por esse modo cego.
Qual a sua opinião sobre a política cultural portuguesa atual?
Bem gostava que começasse a existir uma política cultural consistente e que não mudasse de governo para governo. Mas como? Para que serve o Instituto Camões a não ser para que uns tantos se preguicem? Para que serve o Ministério da Cultura? Se esta ministra e este primeiro-ministro não conseguirem resistir ao populismo, está tudo arrumado. Um dia haverá alguém que não andará a pagar milhões dos contribuintes para organizar viagens sempre aos mesmos escritores, normalmente maus escritores. Mesmo se fossem bons, para que serviria gastar sempre tanto dinheiro só para eles andarem daqui para acolá no mundo? De autarquia para autarquia. De bacoquice em bacoquice. Uma política cultural tem de ser respeitável. Assim não é. Haveria de encontrar-se a qualidade no cinema, nas artes, no teatro, etc. Mas como se conseguirá esse objetivo, se o mecenas Estado não é capaz de se elevar acima das banalidades comuns? Nem sequer reforça o seu apoio, com tanto livro e tanta obra magnífica esquecida. Anda sempre atrás dos vivos que o procuram e que tem de manter calados.
Um governo que conseguisse, no domínio da cultura, estabelecer uma plataforma escrita de aceitação permanente de situações culturais, ganharia a minha total admiração nesse domínio específico. Mas a está a ver isso possível? No fundo, esta questão incomoda-me muito pouco. Se querem feiras que façam feiras. Nem dou por elas. Só me pus a pensar nisto por sua causa. Veja lá o que me provoca nos neurónios e eu a julgar que esses assuntos estavam esquecidos dentro de mim.
Há quem pense que o Joaquim Manuel Magalhães é um homem de direita, no entanto diz sentir que estamos a viver o melhor momento político desde o 25 de Abril.
Mas eu nunca fui de direita. Eu era contra o partido comunista, mas hoje também já não sou tão anticomunista, embora possa alterar as minhas posições. Não me importo nada que sejam de direita e gostem de mim. Nunca me senti de direita. Mas se a extrema-direita gostasse da minha poesia, então eu teria que revê-la ainda mais (risos). Eu respeito muito as pessoas de direita como da esquerda. Tanto me alegra que goste de mim alguém do Bloco de Esquerda como do CDS.
Agora, estou a adorar este governo. Nunca houve desde o 25 de Abril um governo com o qual eu me sentisse tão bem, tal como nunca houve um Presidente da República que eu admirasse como admiro este. Ele sabe ser, com muita dignidade, um motor de contenção de erros vindos do Governo e da oposição. Tem tido sempre um discernimento de perceber quando a esquerda não errava e quando a esquerda errava e o mesmo com a direita. E depois do Cavaco Silva… Tenho uma admiração enorme por este quadro político que foi criado no país. Pelo menos deixámos de ser tão economicamente perseguidos enquanto cidadãos. Continuamos a viver mal, mas respiramos e vamos mantendo, sobretudo se pensarmos nos mais pobres, um pequeno equilíbrio digno.
Nunca ninguém o consegue apanhar pois não? Está sempre a transformar-se noutra coisa, em permanente metamorfose…
Só escrevo a minha vida, o que se atravessa na minha vida. Mas não é só a minha vida, é também o que leio, o trabalho que a própria Língua opera em mim. E estou sempre atento aos outros, mesmo aos que, como me diz, não simpatizam comigo ou rejeitam o que eu escrevo. Que posso eu fazer?















