Tido como um dos últimos revolucionários africanos vivos, o homem que lutou pela independência da Rodésia e pelo nascimento do Zimbabué, libertando-o das mãos de uma minoria branca, foi o “pai da nação” mas acabou por se tornar num déspota opressor e vingativo. Conseguiu guiar o país rumo para o progresso mas, depois de lá chegar, fê-lo desmoronar num caos de violência, pobreza e inflação.
Peter Godwin relata esse processo em “Quando Um Crocodilo Come o Sol. Memórias do Zimbabué ou a Implosão de Uma Nação”, cuja versão portuguesa foi publicada em 2008 pela editora Bizâncio. O jornalista, que nasceu e viveu grande parte da sua vida no país, faz o retrato da ascensão e queda do Zimbabué e de Mugabe (que nos últimos anos de vida acabou por ser ostracizado pelo seu braço-direito, o atual Presidente do país, Emmerson Mnangagwa).
Transcrevemos aqui dois capítulos desse livro: o primeiro, em que Godwin através da sua história pessoal, e enquanto acompanha o pai que luta contra a morte, recorda o momento em que o crescimento económico do país, que chegou a ser o celeiro de África, começou a cair, e o segundo, em que relata detalhes sobre o massacre Matabeleland.
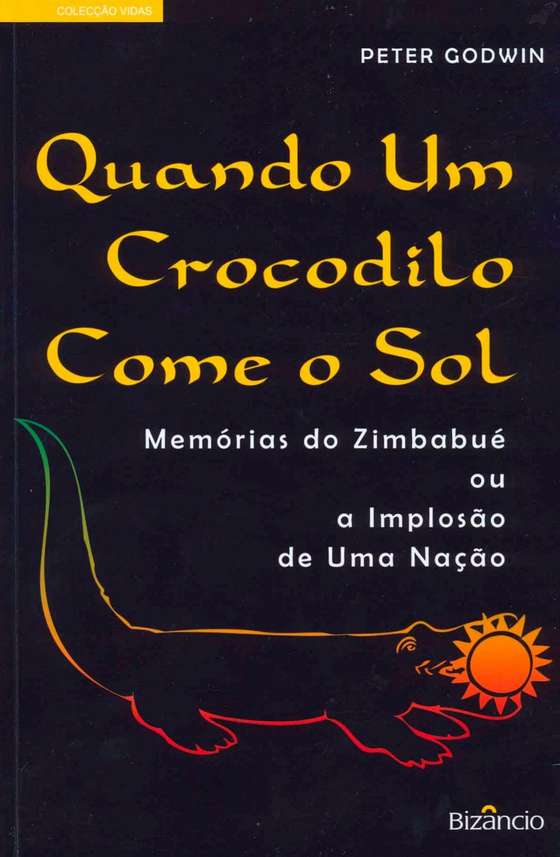
Capa de “Quando um Crocodilo Come o Sol”, de Peter Godwin da editora Bizâncio
dois
NESSA NOITE, saio do vale e entro no meu carro, que está estacionado mais acima, num planalto de basalto vermelho. Incomodados no sono, alguns calaus-trompeteiros protestam à minha passagem, emitindo grasnados que parecem guinchos de gatos enraivecidos.A encosta está salpicada de aloés de folhas espinhosas, uma planta sagrada para os Zulus, que cavam as sepulturas debaixo de aloés porque o seu suco é venenoso para as hienas, que, deste modo, não desenterram os corpos para os comerem. Nesta zona, muitos dos aloés assinalam sepulturas de guerreiros zulus derrotados em Isandlwana.
Dos meus tempos de escola no Zimbabué rural vêm-me à memória excertos de um poema cruento de Kipling. Chama-se «As Hie-
nas» e começa assim:
After the burial-parties leave
And the baffled kites have fled
The wise hyaenas come out at eve
To take account of our dead.
How he died and why he died
Troubles them not a whit
They snout the bushes and stones aside
And dig till they come to it.
They are only resolute they shall eat
That they and their mates shall thrive,
And they know that the dead are safer meat
Than the weakest thing alive
— Quando eu morrer — disse à minha mãe, depois de aprender o poema, com nove ou dez anos —, pode garantir que serei cremado?
— Credo, não sejas pateta — respondeu efusiva. — Não vais morrer. E, seja como for, vamos morrer antes de ti. Mas ninguém vai morrer ainda. Nem daqui a muito, muito tempo.
Porém, eis que chega esse muito, muito tempo. E em breve, espero ter de frustrar as hienas de Kipling, por conta do meu pai. Faço a viagem de noite, conduzindo a alta velocidade até Joanesburgo, onde apanho o avião para casa. À minha esquerda, perfila-se a escura e imponente cadeia de montanhas, o espinhaço a que os Zulus chamam u-Khahlamba, a Barreira das Lanças, embora no atlas tenham um nome africânder, Drakensberg — Montanhas do Dragão. Conheço bem estas montanhas e toda a região. Em miúdo, durante a juventude no Zimbabué, costumava vir aqui de férias. Foi nestes picos que, pela primeira vez, vi neve, branca e brilhante nas pontas destas lanças escuras. Em 1986, voltei aqui como correspondente estrangeiro para, durante cinco meses, fazer a cobertura do que viria a ser o estertor do apartheid. Desde então, resido em Londres, embora tenha regressado frequentemente a África, e estou plenamente convicto de que um dia voltarei para viver aqui, pois esta ainda é a minha terra. Equacionando a morte do meu pai, apercebo-me de quão raramente vivemos no mesmo local. Quão distante estive dele, durante toda a minha vida. Em termos gerais, fui um filho muito ausente: apartir dos seis anos, foi o colégio interno, depois o serviço militar, a universidade em Inglaterra e o trabalho no estrangeiro.
Enquanto conduzo, ligo à minha mãe para saber se o meu pai ainda está vivo.
Tem um ritmo cardíaco de quase duzentas pulsações por minuto, diz-me — é superior ao de um atleta adolescente de corridas de velocidade, mas insustentavelmente elevado para um homem com mais de setenta anos. Tentaram tudo para o reduzir, mas não está a responder. A minha mãe é médica, por isso conhece bem situações como esta.
— Há alguma coisa que possa levar daqui? — pergunto.
— Não — responde. — Vem só o mais depressa que puderes.
DIANTE DE MIM cresce lentamente um brilho dourado. Em breve, aquela abóbada de sódio escurece tudo exceto as estrelas mais brilhantes. Eis Joanesburgo. Atrás de mim, o sol nascente banha o capacete de aço rendilhado que paira sobre as minas de ouro, e faz reluzir o vidro dos escritórios dos arranha-céus no centro da cidade. À minha esquerda, do viaduto que serpenteia através da cidade, consigo avistar o Soweto, um subúrbio que conheci muito bem quando esteve a ferro e fogo e com barricadas. Aí a aurora é anunciada com o apagar dos holofotes iguais aos de um estádio, suspensos das altas gruas que circundam o casco urbano.
O «grito no bolso» volta a retinir. — Ainda se vai aguentando — garante a minha mãe. Telefonou para me informar de um novo medicamento que acabara de conhecer, específico para a doença do meu pai.
— Não está disponível aqui, mas pode ser que haja na África do Sul — conclui com um suspiro.
Agora tenho uma tarefa, uma forma de ajudar o meu pai.
REGISTO-ME NO HOTELGRACE, situado na zona norte de Joanesburgo, e sento-me com as Páginas Amarelas abertas sobre as pernas, telefonando para as farmácias e para os hospitais. Mobilizo diversos amigos para me ajudarem, mas não conseguimos obter nada. Alguns dizem que ainda não foi aprovado, outros dizem que ainda não está comercializado. Ao que parece, não existe em stock na África do Sul.
Porém, sete horas mais tarde, vou a caminho do aeroporto, munido de uma pequena caixa branca hermética, com várias filas de preciosas ampolas de vidro, pousada no assento ao lado do meu. Ao fim de dezenas de telefonemas, conseguiu detectar-se o novo medicamento numa clínica privada situada nos subúrbios da zona norte, onde tem sido testado como parte de um estudo-piloto. Num golpe de afortunada coincidência, deu-se o caso de a farmacêutica ser uma zimbabueana, que fintou as regras para salvar a vida do meu pai.
Já estou muito atrasado para o último voo do dia para Harare, e conduzo a uma velocidade febril, destemido e invencível. Não posso morrer enquanto o meu pai permanece no seu leito de morte; estou estatisticamente imune. Saindo da auto-estrada, passo por um sinal vermelho e avanço acelerando.
O MEU PAI ESTÁ DE OLHOS FECHADOS. A cabeça, assente na fina almofada do hospital, é monumental; é uma cabeça que fica bem no monte Rushmore. Com setenta e dois anos, ainda tem os cabelos espessos, descaídos para trás numa sólida espuma de prata, deixando a descoberto a sua ampla testa oblíqua. Habitualmente dominados por uma espécie de brilhantina, ficaram desgrenhados, despontando em pequenos tufos grisalhos por cima das orelhas.
A respiração latejante é rápida e breve, como a de um cão de caça agitado. A minha mãe explica-me que a cadência do monitor cardíaco electrónico é totalmente díspar. A pulsação é duas vezes superior ao normal. À nossa volta, as enfermeiras arrastam-se pesadamente pelo chão de linóleo rachado, com os seus ténis sem atacadores. Uma delas desabotoa o colarinho do pijama do meu pai para poder aceder à ligação do monitor cardíaco. Os botões abaixo da sua papada abrem- se e revelam uma extensão cutânea em V tisnada pelo sol. É a tatuagem dos rooineks, os ingleses que vieram para África, e de quem os bóeres escarneciam a propensão para terem a pele queimada pelo sol. A enfermeira abotoa-o novamente e vira-se para regular a entrada de líquido na veia das costas da mão, pousando o braço sobre a colcha bem engomada. O braço ostenta outros estigmas do homem branco em África: lesões de ceratoses solares que se desenvolveram lentamente ao longo de vários anos de trabalho em recinto fechado, sob o sol tropical. O meu pai, no seu metódico estilo científico, explicara-me isso, quando era criança. Os raios solares africanos, incidindo tão directamente sobre as nossas cabeças, têm de atravessar menos obs- táculos atmosféricos, sendo filtrada uma quantidade muito inferior do seu perigoso espectro ultravioleta. Eu e a minha irmã Georgina costumamos dizer por brincadeira que, se perguntarmos as horas ao nosso pai, dir-nos-á como funciona um relógio. Sabe como tudo funciona. E se alguma coisa não funciona, sabe como repará-la.
GEORGINA É DEZ ANOS MAIS NOVA DO QUE EU. Tem cabelos escuros e compridos, uma tez pálida cor de mármore que tem procurado manter afastada do sol africano, um sentido de humor mordaz e um vício de vinte cigarros por dia. Agora precisa de fumar, por isso saímos e ela acende um Madison. Solta uma baforada, lançando um olhar à sua volta pelo parque de estacionamento.
— Lembras-te quando o Pai foi apanhado a mijar numa garrafa? — perguntou.
Estava estacionado neste parque, a ler um livro enquanto esperava pela minha mãe, que trabalha aqui e precisou de urinar. Como tinha problemas de próstata e o lavabo mais próximo ainda ficava a uma distância considerável, ao fundo de uma série de longos corredores, viera para esse efeito equipado com uma garrafa de plástico com um gargalo largo e uma tampa de rosca. A meio do acto, ouviu uma pancada na janela do carro. Olhou para cima e reconheceu uma assistente social do hospital, uma amiga nossa, que passara para o cumprimentar. Apertando a garrafa entre as pernas e colocando o livro discretamente no colo, baixou o vidro e a assistente social começou a conversar. A necessidade de urinar era cada vez mais premente — tinha sido interrompido a meio do acto — por conseguinte, era iminente o risco de verter uns fluxos sub-reptícios; até que a senhora acabou por se afastar, precisamente quando o meu pai já começava a sentir cãibras nas pernas de tanto apertar a garrafa.
Sabe bem rir abertamente. O parque de estacionamento está escaldante sob o sol da tarde e tem lixo espalhado por todo o lado: caroços de manga, maçarocas ressequidas e pedaços de polpa fibrosa de cana-de-açúcar mastigada. Pequenos autocarros atravancam-se na disputa de passageiros, vendedores ambulantes expõem pequenos pacotes de bolachas e pedaços de pão, e alguns têm grandes tachos pretos onde cozem sadza, uma papa de farinha de milho que é o principal elemento culinário nesta região de África. Há colchões de feno enrolados e encostados às árvores; existe toda uma comunidade acampada neste local — são os familiares dos doentes e dos moribundos.
Atrás de nós, um grupo de mulheres irrompe pela porta de vidro. Sentam-se esparramadas na berma do passeio, chorando e balançando-se sobre as ancas. Algumas carregam bebés às costas, atados com xales de malha brancos. O seu sofrimento é intenso e cruel, sem mediadores. Dois homens acabrunhados, com casacos esfarrapados, estão junto delas, e uma caterva de crianças estupefactas, com as bocas besuntadas de polpa de manga, olham para cima boquiabertas. Eu e a Georgina afastamo-nos para debaixo de uma caneleira. Diz-me que o meu pai recusara os serviços de uma ambulância, pelo que tiveram de deitá-lo no carro depois de rebaixar as costas de um assento para o transportarem para o hospital. A meio caminho, a minha mãe apercebe-se de que estão quase a ficar sem combustível e param num posto de gasolina para atestarem o depósito. Um a um, o empregado, a minha mãe e Georgina debatem-se freneticamente para abrir a tampa do depósito, enquanto o meu pai está deitado a gemer. Por fim, a minha mãe sacode o ombro do meu pai, que abre os olhos. Pede-lhe que se levante por um instante. Puxam-no para fora do carro e apoiam-no enquanto cambaleia até à tampa do depósito, abrindo-o com um movimento brusco. Em seguida, deita-se novamente no carro e a viagem de emergência é retomada.
Embora a vida do meu pai esteja nitidamente em risco, é ponto de honra que seja tratado aqui no Parirenyatwa, este hospital estatal financeiramente estrangulado, cujo nome presta homenagem ao primeiro médico negro do país. A minha mãe insistiu que, se o levassem para o hospital privado, mais bem equipado, seria um voto de desconfiança no pessoal do Parirenyatwa. O meu pai concordou plenamente. Trouxeram-no então para as urgências do Parirenyatwa, onde os enfermeiros e os médicos — os colegas da minha mãe — foram lestos a conduzi-lo à unidade de cuidados coronários. Desta vez, diz Georgina, o elevador funcionou. Depois, porém, o meu pai ficou uma eternidade deitado numa maca no corredor, a estrebuchar como um peixe fora de água, antes de ser levado para a enfermaria.
Quando foi finalmente transportado e ligado a um monitor cardíaco e a um tubo de soro, a minha mãe dirigiu-se à enfermeira de serviço, uma senhora que já ultrapassara a meia-idade, e questionou-a sobre o atraso. É uma ex-guerrilheira, uma «enfermeira do mato», daquelas que no final da guerra civil — a guerra para acabar com o domínio branco — após uma formação rigorosa, foram admitidas como enfermeiras plenamente aptas, por insistência do novo governo. Olhou para o chão, com uma expressão de embaraço. Porém a minha mãe tinha tratado dela na clínica por diversas ocasiões, e eram amigas; finalmente, a enfermeira levantou os olhos.
— Foi a enfermeira-chefe que nos mandou esperar — respondeu. — Queria ter a certeza de que a enfermaria estava limpa e arrumada e que havia uma colcha asseada para a cama do Sr. Godwin. Contudo, não havia colchas na rouparia; foram todas roubadas, por isso tivemos de procurar noutras enfermarias.
Assim, o meu pai quase morreu enquanto procuravam uma colcha. Agora, pelo menos, tem uma oportunidade. Agora tem o novo medicamento milagroso que consegui em Joanesburgo. Um medicamento inacessível aos restantes pacientes do Parirenyatwa. Um medicamento caro. Um medicamento do Primeiro Mundo.
ESTOU SENTADO JUNTO À CAMA DO MEU PAI, dormitando. Quando levanto a cabeça, vejo os seus olhos azul-pálidos fixados em mim. Tenta esboçar um sorriso que resulta num esgar enviesado, e estende-me debilmente a mão.
— Obrigado por teres vindo, Pete. É tudo o que consegue dizer. Aperto a sua mão. Pete. É a única pessoa no mundo que ainda me chama assim. Muito esporadicamente, quando se sente particularmente loquaz, chama-me Pedro.
O nosso momento pouco usual de intimidade é interrompido pelo súbito gemido de um paciente vindo do lado oposto da ala. O meu pai vira-se em pânico, entalando o tubo do soro no suporte de metal. Das profundezas do estômago do seu companheiro de enfermaria, com uma potência surpreendente, irrompe o som abafado de rugidos e latidos. Receio que este tumulto esgote o coração do meu pai. Como não há enfermeiras à vista, levanto-me para ver o que posso fazer. Um homem negro com pouco mais de vinte anos debate-se para se levantar da cama, com os tendões do pescoço retesados pelo esforço.
A enfermeira aparece ao pé de mim. — Veio da Enfermaria 12, do serviço psiquiátrico. Chamamos-lhe o Homem Leão — diz, por entre risos. — Agora, o efeito do sedativo chegou ao fim e já não temos mais. Não temos orçamento."
Parece muito forte e arreganha os dentes; volta a resmungar e redobra a tentativa de se libertar, retorcendo-se e removendo o lençol. Está nu e é musculoso como um gladiador núbio. Tem os pulsos e os tornozelos atados à estrutura da cama por meio de um improvisado sortido de tiras e cintas.
A enfermeira aparece ao pé de mim. — Veio da Enfermaria 12, do serviço psiquiátrico. Chamamos-lhe o Homem Leão — diz, por entre risos. — Agora, o efeito do sedativo chegou ao fim e já não temos mais. Não temos orçamento.
Verifica a tensão das ataduras e afasta-se de novo. Volto para junto do meu pai e informo-o de que o Homem Leão está preso à cama com segurança e que não pode libertar-se para nos dilacerar, membro a membro. O meu pai revira os olhos. Não lhe digo que o sedativo do Homem Leão se acabou.
«Curvar-nos-emos perante aquele que ruge», recordo-me. Um dos epítetos do príncipe Biyela. Parece que já se passaram meses.
A MINHA MÃE VOLTA COM O MÉDICO ESPECIALISTA, o Dr. Nelson Okwanga. É do Uganda. Tenho os primeiros sintomas de pânico, próprios do Primeiro Mundo. Chamo a minha mãe à parte. Chegou o momento de marcar a minha posição.
— A vida do Pai está por um fio — digo. — Não é altura de tomar atitudes políticas. Temos de lhe arranjar o melhor médico.
A minha mãe franze o sobrolho. — O Dr. Okwanga é um dos melhores — responde. — Formou-se na Grã-Bretanha.
O Dr. Okwanga move-se de um lado para o outro mas não fala muito. Em seguida, afasta-nos das imediações da cama. Numa voz que nunca é mais do que um murmúrio, diz que o estado de saúde do meu pai não melhorou, que o novo medicamento ainda não lhe baixou a pulsação. Vai esperar mais doze horas. Depois, terá de reavaliar o caso — a palavra está, de certa forma, revestida de ameaça. Mais tarde, o meu pai é transportado para ser observado pelo cardiologista. Chama-se Hakim. É do Sudão. Não faço comentários. O Dr. Hakim está meticulosamente vestido com um fato cinzento-escuro de riscas finas e tem uns sapatos cor de sangue de boi. Deita o meu pai de lado e liga-o a uma máquina que permite visualizar o coração. O ecrã mostra a imagem cinzenta e nebulosa de uma das válvulas coronárias do meu pai. Parece a clave de um clarinete a subir e a descer, tão rapidamente que quase se desfaz em pedaços. Vai morrer com o coração destroçado, literalmente.
Já com o meu pai de novo na cama, penso naquela pequena clave de clarinete desenfreada. E dou comigo a incitá-la, desejando que abrande o seu ritmo frenético e destrutivo. Porém, continua cada vez mais débil. A sua vida está agora suspensa por um ínfimo filamento vibrante. Ou pelo capricho de uma divindade. Somos para os deuses como moscas para os rapazes cruéis.
Embora fosse à missa todos os dias no colégio St. George, um internato jesuíta local, há anos que não rezo. O impulso de rezar parece agora ridículo, uma conversão religiosa de último recurso, cristão só em situação de crise. Sei que Deus, qualquer deus, necessita de receber algo em troca, uma penitência por uma vida secular. Começo silenciosamente a negociar. Se o meu pai sobreviver, farei… o quê? Que farei? Podia parar de correr o mundo e voltar para a minha casa em África? Para passar algum tempo com o meu pai. Para o conhecer. Enquanto continua ali deitado, verifico que sei muito pouco sobre ele. Fui condicionado pelo seu temperamento a não interferir. É emocionalmente truculento, irascível, verdadeiramente inibidor, um remoto pater familias vitoriano. A minha mãe fala alegremente sobre assuntos pessoais. O meu pai, não. Mantém-se reservado em relação à restante família, como uma ilha proibida com uma costa rochosa. Não podemos atracar sozinhos; é preciso levar a minha mãe a bordo como timoneira para nos guiar pelo canal sinuoso. E o seu modus operandi depende da natureza da missão.
Por vezes, quando o enfurecíamos, ela parecia um daqueles peixinhos satélites de um tubarão branco, nadando na direcção deste, numa abordagem aparentemente suicida, para lhe limpar o focinho ameaçador. E suspendíamos a respiração, à espera que fosse engolida num corrupio de escamas, mas o grande tubarão branco exibia alguma superioridade instintiva, alguma compreensão primordial de simbiose emocional — e tolerava a aproximação. Foi assim que se estabeleceu o padrão ao longo de décadas.
Imagino-me a tentar escrever o obituário do meu pai. George Godwin, nascido em 1924, na Inglaterra… Em que sítio de Inglaterra? Não sei. Apercebo-me de que nunca abri o seu passaporte. Verifico que não sei quase nada da minha família. Penso que o seu pai se chamava Morris e era um homem de negócios.
Formou-se em…
Passo novamente. Creio que mencionou ter frequentado o colé- gio interno de St. Andrews, na Escócia.
Quando foi declarada a Segunda Guerra Mundial…
Agora já ando por terrenos mais sólidos…
Alistou-se no exército britânico…
Mas em que regimento? Numa unidade da infantaria, creio…
Depois da guerra, estudou Engenharia na Universidade de Londres e trabalhou na equipa que concebeu e construiu o hidroavião Sunderland, antes de vir para África com um contrato de trabalho, no início dos anos 50, e de ficar apaixonado pela terra. Dirigiu minas de cobre, empresas madeireiras, departamentos governamentais de transportes e acabou por redigir normas industriais para a Associação de Normas do Zimbabué. Deixou uma mulher e dois filhos; teve um terceiro filho a que porém sobreviveria.
O CURRÍCULO INCONSISTENTE é interrompido pela minha mãe, que insiste que eu vá para casa lavar-me e dormir. Ficará à espera junto da sua cama.
— Ligar-te-ei assim que houver qualquer novidade — promete. Os meus pais vivem em Chipisite (na língua local, o shona, sig- nifica «nascente», em virtude da fonte de água aí existente), um subúrbio fora da cidade, numa casa dos anos 50, bastante austera, com uma cobertura em mansarda de estilo holandês, numa área ajardinada surpreendentemente fértil com mais de meio hectare. Não tenho chaves, por isso dou uma buzinadela junto ao portão; Mavis aparece a correr pela rampa de acesso, seguida por Isaac, o jovem jardineiro, e pelos nossos dálmatas. Mavis é a nossa caseira há vinte anos. O marido deixou-a e excluiu-a da família quando o primeiro bebé que deu à luz nasceu morto, tendo sido sujeita a uma histerectomia que a deixou estéril. Ela e Isaac vivem em alas separadas dos pequenos apo- sentos de tijolo destinados ao pessoal, no topo do jardim.
— O patrão Godwin está bem? — pergunta através da janela do carro.
— Está vivo — respondo.
— Ah, graças a Deus!
— Mas o estado de saúde ainda é grave.
— Tenho rezado por ele — informa.
— O Senhor olhará por ele, porque o seu pai é um homem muito bom.
NESSA NOITE, vagueio pela casa, à procura de sinais que me revelem o homem. A casa propriamente dita foi da sua escolha — nenhum de nós gostava particularmente dela, mas foi adquirida com o terreno, na orla setentrional da cidade, próxima do mato de onde regressávamos. Apresenta uma estranha mistura de estilos: imponentes vigas de madeira parecem suportar o tecto da sala de estar, mas são ocas e puramente decorativas, contribuindo para a falsa aparência senhorial conferida pela enorme lareira encimada por uma larga capa de cobre martelado que a minha mãe tentou camuflar com uma trepadeira de interior. Todos os retratos pendurados nas paredes da sala de estar são, segundo imagino, da família da minha mãe: miniaturas das suas tias-avós em corpetes vitorianos e elaborados chapéus de plumas; um quadro a óleo com uma moldura de talha dourada do seu tio-trisavô, enquanto criança, na Inglaterra bucólica, trajando um casaco dourado de equitação e botas de montar brancas, a cavalo num ginete branco, com um King Charles spaniel a ladrar para ambos em segundo plano na tela. As recordações também provêm do lado dela: um bacamarte com o cano em trompa que o pai, um capelão da Marinha Real, salvou da chacina de Gallipoli durante a Primeira Guerra Mundial. Um relógio de pêndulo do início do século XVIII, com o mostrador de latão e um único ponteiro. Um pano bordado em ponto de cruz, no ano de 1850, por Elizabeth, uma rapariga de doze anos que bordou cuidadosamente uma oração: «Quando me deito para repousar, rezo ao Senhor para a minha alma guardar. Se morrer antes de acordar, rezo ao Senhor para a minha alma levar.»
Folheio os álbuns de família. Em tempos, o meu pai foi um fotógrafo empenhado, com a sua própria câmara escura, razão pela qual aparece em poucas fotografias pois normalmente está atrás da câmara. Procuro em vão uma única fotografia em que estejamos todos juntos, em adultos.
Abro a garagem e vasculho a sua «oficina pesada» — com ferramentas penduradas em painéis, dispostas por ordem crescente de calibre; parafusos e porcas de diferentes tamanhos, separados nos frascos de compota reciclados; peças de automóvel envoltas em se- rapilheira, atadas com cordel e cuidadosamente etiquetadas.
Passada a porta do lado, na sua «oficina ligeira», encontra-se todo o equipamento de rádio. Antigamente, quando trabalhava em plantações nas terras altas do Leste, os administradores das propriedades utilizavam intercomunicadores de duas vias. Com a prática, tornou-se um perito em reparações e um radioamador, tendo erigido uma antena imponente e comunicado com pessoas de outros continentes através de um grande rádio transmissor em sistema SSB. Aqui as ferramentas são brilhantes e finas, como instrumentos cirúrgicos: minúsculos alicates de pontas alongadas e chaves de parafusos com cabeças tão pequenas que parecem espigões. Ao longo de uma bancada, está instalado um multímetro que ele próprio construiu.
Quando dou meia-volta para sair, inadvertidamente, toco nuns pequenos parafusos que se espalham pelo chão. Quando me ponho de gatas para os apanhar, verifico que existe um enorme espaço de armazenamento inferior, oculto pelo multímetro. De um modo geral, aparentemente, utiliza-o para guardar peças de rádio. Ao fundo, há um objecto achatado com 30 centímetros por 22, embrulhado num saco de plástico. Estico-me para o alcançar e começo a desdobrar o plástico que cobre uma camada de papel de jornal; rasgo-o um pouco e descubro uma outra camada rígida de papel pardo, que desdobro para tentar descortinar o interior. É difícil ver, a partir do ângulo oblíquo em que me encontro, mas consigo distinguir uma fotografia a preto-e-branco de três estranhos em pose: um casal de quase meia-idade com uma rapariga de cerca de doze anos no meio. Em seguida, o telefone toca e saio a correr para atender. É a minha mãe, dizendo que nada se alterou. Quando desligo, sinto-me imundo por ter vasculhado as coisas do meu pai que jaz moribundo, por isso refaço o embrulho da fotografia e volto a pô-lo no lugar.
Percorro novamente o estúdio, onde uma lista de tarefas com a sua linda caligrafia oblíqua repousa na ampla secretária de mogno. O conjunto de canetas e o abre-cartas de prata estão meticulosamente dispostos num suporte antigo de latão, com tinteiros de vidro biselado que pertenciam ao pai da minha mãe. Duas filas de gavetas de arquivo fechadas à chave ladeiam a secretária e, preenchendo toda a face de um dos flancos, há uma estante cheia de revistas técnicas, manuais dispostos por ordem alfabética, livros de referência sobre metalurgia e normas. Ligo o atendedor de chamadas e ouço a mensagem expressiva do meu pai, na sua voz forte e determinada, com um sotaque britânico de classe média-alta — sincopado, correcto e autoritário — o dialecto de comando.
Não posso deixar de pensar que sou uma desilusão para o meu pai. É um homem prático, tecnocrático e empírico, alguém que produz e administra as coisas, que organiza as pessoas — é um homem de acção. Eu limito-me a descrever, criticar, analisar — definitiva- mente, não sou um homem de acção.
— Quando vais arranjar um emprego a sério? — pergunta-me com frequência, rindo-se em seguida para deixar claro que se trata de uma pergunta trocista, embora, em certa medida, nunca o seja inteiramente.
É verdade que passei por uma rápida sucessão de empregos. Quando saí da escola, a guerra civil contra o domínio branco — a que os rebeldes negros chamaram a Chimurenga, a luta — ainda prevalecia com violência, e fui alistado nas forças de segurança. Estava a combater no lado errado de uma guerra vencida, mas o meu pai achava que era ultrajante da minha parte esquivar-me ao alistamento quando chegasse a minha vez, dado que até então tínhamos desfrutado a protecção dos filhos de outros. Em todo o caso, o poder branco já tinha cedido, por isso o meu pai achou que eu só iria ajudar a aguentar a situação enquanto decorriam as negociações de paz. Após um ano de uniforme, consegui entrar em Cambridge, mas o meu pai parecia incomodado — sugerira que eu frequentasse a universidade local e me formasse como comissário distrital. Mostrou-se renitente quando manifestei a intenção de estudar Inglês ou História, pelo que encontrámos um compromisso no curso de Direito. Quando me licenciei, mudei-me para Oxford, em vez de regressar a casa e enfrentar mais combates. Depois de um ano de estágio em Política Internacional, comecei a trabalhar numa tese de doutoramento sobre a guerra em que tinha combatido, num esforço retardado de a compreender.
Quando a paz foi declarada e a Rodésia se tornou o Zimbabué, no ano seguinte, comprei um camião antigo da tropa juntamente com uns amigos e viajámos de Oxford para o Sul de França, onde embarcámos num ferry para Argel. Atravessámos o deserto do Sara e percorremos o continente africano, chegando finalmente a casa dos meus pais em Harare, escanzelados, morenos e desgrenhados, depois de passarmos quase um ano sem dormir numa cama. Sentia-me feliz por regressar a casa no novo Zimbabué multirracial.
Para subsidiar a minha tese de doutoramento, comecei a exercer advocacia e o meu pai regozijou-se com a minha respeitabilidade. Porém, a carreira jurídica foi de curta duração. A maior parte do meu tempo era passada a defender oficiais da guerrilha, todos matabeles, a tribo do Sul do Zimbabué que era um ramo descendente dos Zulus do príncipe Biyela. Os oficiais pertenciam à Frente Patriótica, uma das facções que se opunham ao domínio branco mas haviam perdido contra a ZANU (União Nacional Africana do Zimbabué) de Robert Mugabe, nas primeiras eleições do país com sufrágio universal. Eram acusados de planearem um golpe de Estado, de alta traição. Após um longo julgamento, garantimos as suas absolvições, mas Mugabe ordenou que fossem novamente presos ao abrigo dos «regulamentos do estado de emergência», um conjunto de leis draconianas introduzidas pelo último primeiro-ministro branco, Ian Smith. Então, desisti da advocacia, para desgosto do meu pai, e tornei-me jornalista independente, enquanto continuava a trabalhar na minha tese de doutoramento.
No ano seguinte, 1983, vi qual era a verdadeira natureza do novo Governo. Mugabe lançou as suas novas tropas da 5ª Brigada, treinadas por norte-coreanos, sobre a população civil de Matabeleland; fui investigar e descobri um massacre em grande escala. Ao fim de vários anos, ainda ninguém conhece ao certo o número final de vítimas — qualquer coisa entre dez e vinte mil mortos, talvez mais. A dimensão e a ferocidade absolutas dos assassínios minimizavam tudo o que acontecera durante a guerra civil, mas agora havia poucos protestos ou represálias por parte da comunidade internacional. As reportagens publicadas no Sunday Times puseram a minha cabeça a prémio e obrigaram-me a abandonar o país logo após ter sido declarado espião estrangeiro e inimigo do Estado.
Continuei a exercer a profissão de jornalista, destacado pelo Sunday Times para a Europa de Leste e para a África do Sul. Depois transferi-me para a BBC, estabelecendo-me em Londres, e fiz documentários televisivos em todo o mundo. Fiz umas férias sabáticas para publicar um livro, Mukiwa, sobre a minha infância africana, a guerra da independência e os massacres de Matabeleland. E concluí que não queria regressar à BBC; em vez disso, tornei-me free lancer, continuando em Londres. O meu pai tentou, sem êxito, disfarçar a sua estupefacção pela minha renitência, mais uma vez, em ter um emprego a tempo inteiro.
Durante vários anos, após ter feito a reportagem sobre os massacres de Matabeleland, não pude regressar a casa. Mas depois, os dois principais partidos políticos fundiram-se e os homens que eu defendera em tribunal foram integrados na nova ordem vigente. Um deles, Dumiso Dabengwa, tornou-se ministro do Interior e providenciou para que eu pudesse finalmente regressar sem ser preso. Assim, durante os últimos anos, tenho regressado a Harare com a frequência que me é possível e, sempre que apareço, o meu pai cumpre o mesmo ritual.
— Ah, Pete. Chega aqui, por um instante — chama-me da sua poltrona, depois de terminar a refeição de sandes mistas.
Sento-me no sofá antigo forrado com um pano, enquanto me pergunta onde tenho andado e me faz perguntas a que, aparentemente, nunca consigo responder, para sua grande satisfação. São perguntas quase sempre quantitativas; o seu instinto é para a medida. Quantas pessoas terão sido mortas no massacre de Matabeleland? Qual o efeito que a proibição da venda de marfim tem sobre a caça furtiva aos elefantes? Poderá Cuba sobreviver ao fim da Guerra Fria? Qual o perigo das centrais nucleares da Europa de Leste? A ascensão do fundamentalismo islâmico na Indonésia será inexorável? Como se eu soubesse de facto. Sou apenas um jornalista, um escriba. Não tenho um emprego a sério.
O DR. OKWANGA, habitualmente insondável, parece agora extremamente preocupado. Suspira e afasta-se da beira da cama para dizer a mim e à minha mãe que o prognóstico não é nada bom. Como último recurso, quer dar ao meu pai uma megadose do novo medicamento, do meu novo medicamento, na esperança de que reactive o seu metabolismo repondo-lhe um ritmo cardíaco mais plausível. Dá ordens para que as últimas seis ampolas sejam imediatamente injectadas. Observamos o meu pai mais de perto, mas nada acontece. Pressinto que se nos está a escapar. Pela primeira vez, a minha mãe perde a compostura. Já testemunhou muitas mortes ao longo da sua carreira e apercebo-me de que acredita que está perdido. Em vez de capitular em público, retira-se para a casa de banho, acompanhada pela minha irmã.
A enfermeira fecha a cortina à volta da cama do meu pai e apercebo-me de que está a preparar o seu fim, para que possa morrer com privacidade. Enquanto espero que ele parta, olho através da janela para as copas das árvores em Mazowe Street, e observo inexpressivamente as moscas que investem contra a vidraça, tentando fugir. E ao mesmo tempo que olho fixamente, apercebo-me de que o ambiente sonoro se altera subtilmente. É o ritmo do monitor do electrocardiograma que abranda. O coração está a fraquejar, e a batida daquelas claves de clarinete vai-se desvanecendo, por fim. A respiração agitada parece acalmar um pouco, enquanto a pulsação vai baixando com tendência para parar. Olho para o seu rosto. Nada. Depois, viro-me para o monitor.
— Ainda estás cá? Ao ouvir a voz do meu pai, estremeço na cadeira e dou um encontrão na bandeja da mesa-de-cabeceira. O meu pai tem estampado no rosto o seu sorriso de esguelha, um ligeiro rubor está de volta.
— Podes ajudar-me a sentar? Ajeito as almofadas para lhe amparar as costas. — O que gostava mesmo era de tomar um chá — diz. A enfermeira vai trazer o chá. E quando a minha mãe e Georgina voltam da casa de banho, encontram o meu pai sentado, a conversar e a beber chá.
AO QUE PARECE, a droga maravilhosa fez jus dos seus créditos. Ao trazê-la, acabei por salvar a vida do meu pai. Dei as minhas provas de bom filho.
Passado pouco tempo, está pronto para regressar a casa. — Sabes uma coisa, senti que lamentarias de facto se morresse — disse-me no último dia que passou no hospital, como que surpreendido por esta descoberta.
A enfermeira, a mesma que testara as correias do Homem Leão, insistiu em empacotar as suas roupas e os objectos de higiene pessoal, bem como os medicamentos que sobraram. Trauteava enquanto trabalhava. — Fico muito contente pela Dra. Godwin — diz-me. — Trata muito bem de nós na clínica, quando estamos doentes. Fico feliz por não ficar viúva, como eu.
Abraça-me e vejo que tem lágrimas nos olhos.
O que a minha mãe não me diz, pelo menos durante muito tempo, é que entre os pertences do meu pai, solicitamente reunidos pela enfermeira de serviço, está a minha caixa de medicamentos milagrosos. A minha mãe acaba por examinar o interior e repara que quatro das ampolas de vidro ainda lá estão — cheias. A enfermeira de serviço interpretara mal as instruções do médico. Em vez de administrar as seis ampolas na última megadose, apenas injectou duas, o que é muito pouco para desempenhar um papel significativo na recuperação do meu pai. E embora a minha mãe não lho diga, o meu pai recuperou sozinho, espontaneamente, sem a minha ajuda.
— O que fez? — pergunto à minha mãe. — O que fiz? Nada — responde. — Mas o erro podia tê-lo matado facilmente. — Bem, a enfermeira era o único sustento da família e estava prestes a reformar-se — explica. — Não quis pôr em risco a sua pensão.
cinco
Abril de 2000
DURANTE O SEU PRIMEIRO ANO DE VIDA, o nosso novo bebé, Thomas, parece ocupar todo o nosso tempo. Deixa-nos esgotados e intelectualmente amorfos. Joanna e eu trouxemo-lo para África com nove meses, por pouco tempo, para que os meus pais o conheçam. Pareciam incomodados, de início, o meu pai principalmente. Quando o neto lhe é apresentado, baixa o jornal que está a ler e profere alguns sons infantis. Quando olho para ele de novo, o jornal já está outra vez erguido. Só mais tarde, quando vejo fotografias dos encontros, reparo que, de alguma forma, me escaparam os sorrisos resplandecentes que o meu pai dirige a Thomas, enquanto o bebé agarra o ante-braço ruivo do avô. É um sorriso que nunca vira anteriormente.
Agora estou de regresso sozinho, em missão para a revista do New York Times, após uma ausência de seis meses.
O corpulento homem de negócios congolês que viaja sentado ao meu lado no voo para Harare usa um blusão desportivo com um padrão pied-de-poule, uma gravata Chanel, um brilho de suor e dois relógios Rolex, um em cada pulso.
— Este é para a hora local; e este para a hora de Washington — explica-me, seguindo o meu olhar. Diz que os filhos frequentam a faculdade em segurança nos Estados Unidos. Os lucros dos negócios da rede de telemóveis que está a preparar também permanecem estacionados fora de África. Vai debicando uns amendoins e sorvendo ruidosamente Cape sauvignon blanc, enquanto se vira para olhar pela janela.
— Os Africanos não sabem formar governos — anuncia subitamente.
— Somos inúteis e desorganizados nesse aspecto.
Fecho a minha revista e aceno com a cabeça de uma forma descomprometida.
— E as nossas instituições nunca funcionam porque nunca cumprimos as obrigações — acrescenta, levantando o braço para premir o botão e pedir mais vinho.
Os recentes acontecimentos no Zimbabué têm sustentado a sua tese. Quando se vira para o outro lado, olho novamente para a minha revista e observo a fotografia de um fazendeiro zimbabueano, um homem com a compleição de um urso, ostentando uma barba farta. Chama-se Martin Olds, e o seu corpo jaz tal como caiu — de costas, com os braços abertos, sob uma janela estilhaçada. Está descalço, vestido com calções verde-escuros e uma camisa parda, e tem uma perna ferida apertada entre duas talas de madeira improvisadas. Examino-as atentamente. Serão bastões de beisebol? Não… são calhas de madeira para cortinados que o homem aplicou à perna partida com tiras rasgadas da cortina, cheias de sangue. A curvatura calva da cabeça está riscada com cortes vermelhos. A sua posição tem uma semelhança grosseira com uma crucificação deitada, com os pés sobrepostos contra a madeira de pinho da calha do cortinado e os braços abertos ao longo de um cabo de vassoura muito gasto, formando a trave horizontal da sua cruz.
Hoje estou a aterrar no meio de uma grande convulsão. Após dez anos de regime monopartidário, o presidente Robert Mugabe enfrentava subitamente uma verdadeira oposição. Começou com um pequeno obstáculo no horizonte político, uma cláusula irritante na Constituição que limitava o seu mandato. Por conseguinte, reviu a Constituição para aumentar os seus já consideráveis poderes presidenciais e acertar o calendário presidencial para mais doze anos no poder. A sua alteração necessitava porém de aprovação em referendo e Mugabe precisava de algo para adoçar a operação, qualquer coisa que garantisse a contínua lealdade de um povo desgastado. Assim, introduziu na nova Constituição uma lei que permitia a apropriação de fazendas comerciais e a sua redistribuição por camponeses negros. A terra é algo que constitui um paradoxo em África. Nem sempre é preciosa. Para a maior parte das sociedades, existe um teste crucial que demonstra se existe uma escassez de terras ou de população, o teste matrimonial: a noiva apresenta-se com dote, ou deve o noivo pagar um preço ao pai da noiva? A Europa possui maioritariamente culturas de dote. Em África, a regra é o preço da noiva. A fertilidade é valorizada acima de tudo, porque, por mais difícil que seja de acreditar actualmente, a maldição histórica do continente era a baixa densidade populacional, o que prejudica o domínio centralizado e a edificação do Estado.
Para os primeiros visitantes brancos, uma grande parte do continente parecia praticamente vazia. Na sua maior parte, era «uma terra despovoada», afirmou o aguerrido explorador e correspondente Henry Morton Stanley, ao atravessar a África Oriental.
Esta sensação de vazio era acentuada pelo sistema africano de agricultura de transferência. O mato era limpo, a terra preparada sobretudo por processos manuais, fazia-se a sementeira e a rega era confiada à água das chuvas. Não era usado outro fertilizante que não fosse a cinza da queimada inicial e, quando o solo ficava esgotado após duas ou três estações, o agricultor transferia-se simplesmente para uma nova parcela de terreno. A ideia de «posse» da terra enquanto tal era estranha. Um fazendeiro contou-me uma vez que o seu avô fora visitar um chefe local para lhe comprar terra. «Comprar terra?», exclamou o chefe. «Deve estar louco; não se compra o vento, ou a água, ou as árvores.»
Quando os primeiros pioneiros abriram os seus trilhos a partir da África do Sul, atravessando o rio Limpopo, não era na terra que estavam interessados, mas no que havia por baixo dela. Tinham vindo na senda do ouro. O negócio que fizeram com o chefe Lobengula, o chefe supremo dos Matabeles, e com as tribos shona por ele subjugadas, referia-se exclusivamente a direitos minerais. Sob a concessão Rudd estabelecida em 1888, emissários da Companhia Britânica da África do Sul de Cecil Rhodes concordaram em pagar-lhe 100 libras por cada mês lunar e em dar-lhe mil espingardas Martini-Henry de retrocarga, cem mil séries de munições e um barco equipado com armamento para navegar no Zambeze (ou, em seu lugar, mais quinhentas libras, que foi o que acabou por receber), a troco da cedência de todos os direitos minerais da própria terra.
Contudo, ficou provado que esta não era nenhum Eldorado e, na sequência da derrota de Lobengula e da subjugação dos povos indígenas, Rhodes concedeu aos seus pioneiros parcelas de terra para cultivo, como uma espécie de prémio de consolação. De seguida, fazendeiros brancos adquiriram as suas terras à Companhia Britânica da África do Sul, que era a autoridade colonizadora com carta régia, mas as autoridades tribais nunca foram compensadas. Rhodes criou reservas tribais para «nativos», que então se estimava serem menos de seiscentas mil almas num território com o tamanho da Espanha. A posse da terra baseada em fundamentos raciais foi posteriormente codificada em diversas leis, e a pressão demográfica nos chamados territórios de Concessão Tribal começou a aumentar à medida que a população negra crescia, com o acesso à medicina ocidental, com pessoas como a minha mãe efectuando campanhas de vacinação em larga escala contra doenças mortais. Em meados de 1945, a população negra já superava os quatro milhões, e imigrantes brancos estavam a ser recrutados de uma Europa devastada pela guerra, sob o chamado Programa de Colonização do Império, comprando terras na Rodésia por meio de empréstimos com juros baixos.
Durante uma grande parte do século XX, a população branca possuiu mais de metade dos terrenos agrícolas da Rodésia/Zimbabué, ainda que apenas constituísse 1% da população, e esta disparidade foi vista como uma das principais causas da guerra civil no país. Todavia, com a independência em 1980, quando o domínio da minoria branca da Rodésia deu lugar ao regime de maioria negra do Zimbabué, o novo presidente, Robert Mugabe, com o incitamento do seu aliado, o presidente de Moçambique, Samora Machel, fez da reconciliação racial a peça central da sua política. Machel lamentava o caos económico gerado durante a independência do seu próprio país quando a sua política de nacionalizações extensivas provocou o êxodo dos 250 000 portugueses, após quinhentos anos de colonização. Pessoas como os meus pais, que tinham receado que Mugabe, um marxista assumido, expulsasse todos os brancos do país, sentiram um enorme alívio ao verificarem que, em vez disso, eram acolhidos e convidados a permanecer num Zimbabué tolerante e multirracial. Designou um ministro da Agricultura branco, com quem percorreu o país, apelando aos fazendeiros brancos para que ficassem e contribuíssem para o novo país.
E foi o que fizeram. A sua produção, particularmente o tabaco, contribuía com 40 % das receitas das exportações do país; os seus produtos agrícolas alimentavam as cidades; empregavam um quarto da força de trabalho da nação. O Zimbabué tornou-se a economia de crescimento mais rápido de África e era o celeiro do continente, frequentemente exportando alimentos para países vizinhos necessitados.
Robert Mugabe deu início a um programa de redistribuição voluntária de terras, financiado na sua maior parte pelo Governo britânico, e foram adquiridos cerca de 60 % das terras possuídas por brancos à data da independência — a preços de mercado — e transferidos para mãos de negros em 2000. O interesse de Mugabe na recolonização da terra definhou, e na última década o seu Governo atribuiu uma média de apenas 0,16 % do orçamento anual para a aquisição de terras; o sector militar recebeu uma quantia trinta vezes superior. E quando os Britânicos perceberam que muitas das fazendas recentemente adquiridas estavam a ser entregues, não a camponeses sem terra, como fora acordado, mas como rebuçados aos apaniguados de Mugabe, congelaram os financiamentos restantes. Já então, quase 300 000 hectares de terra adquirida para recolonização permaneciam vazios e abandonados.
Porém, o desprezo de Mugabe pela questão da terra não logrou despertar qualquer clamor espontâneo por parte do seu povo, actualmente o que tem o mais elevado nível de educação de toda a África. A maior parte — principalmente os jovens — aspirava a empregos bem pagos nas cidades, em vez de uma vida passada na labuta dos campos. Uma sondagem realizada pela Fundação Helen Suzman, no início de 2000, revelou que apenas 9 % dos zimbabueanos via a redistribuição de terras como uma prioridade. Nessa altura, segundo o Sindicato dos Fazendeiros Comerciais (CFU), 78 % dos fazendeiros brancos estavam em propriedades que tinham adquirido após a independência, apenas depois de essa terra ter sido oferecida ao Governo — e por este rejeitada — como era exigido por lei.
A oposição à nova Constituição de Mugabe provinha de uma congregação ecléctica que confluía de todos os quadrantes de orien-tação política, racial, tribal e social, e era especialmente forte nas zonas urbanas, entre as classes médias negras e os sindicatos, bem como de pessoas como os meus pais, que tinham feito parte da antiga ordem estabelecida branca e liberal. Provinha também de fazendeiros brancos que perceberam que as suas terras estariam para ser apropriadas. Foram muitos os que aderiram a um novo partido político, o Movimento para a Mudança Democrática, o MDC. O seu líder, Morgan Tsvangirai, era um antigo dirigente sindical. O MDC não discordava da ideia da reforma agrária — na verdade, ninguém discordava, nem os próprios fazendeiros brancos —, mas Tsvangirai afirmava que tinha de ser feita de uma forma planeada e organizada, para que a ga- linha dos ovos de ouro da agricultura não fosse cozinhada. A campanha para o referendo constitucional de Fevereiro de 2000 foi animada, mas a oposição viu-se privada do acesso à rádio e à televisão do Estado, e ninguém pensava de facto que Mugabe perderia. Nunca fora derrotado em eleições, anteriormente. Por isso, quando perdeu, foi um choque para todos nós. Dei comigo a respirar fundo e a pensar: «Agora é que vai mesmo haver problemas.»
O presidente proferiu um discurso após a divulgação dos resultados do referendo, afirmando que era um democrata e que respeitaria a vontade do povo. Disse-o, porém, com o rosto tenso e o seu sorriso não era genuíno; era ríspido, como um esgar mal contido. Olhava acima das câmaras, não directamente para elas, sobre as nossas cabeças, não para os nossos olhos. E podia-se ver que aquele era um homem acossado por pensamentos de vingança, que estava a ferver com a humilhação pública. Como podia Ele, que libertara o seu povo, ser agora rejeitado? Como podiam ser tão ingratos? Não podia ter sido o seu próprio povo a fazê-lo (ainda que 99 % do eleitorado fosse negro); devem ter sido outras pessoas, a população branca, a desviá-los. Havia de nos mostrar. Ensinaria os brancos a não se imiscuírem na política e em coisas que não lhes diziam respeito. Tínhamos quebrado o tácito acordo étnico. Tentáramos agir como cidadãos, em vez de expatriados, neste caso, em sofrimento.
Durante a campanha para o referendo, o ZANU-PF, partido governamental de Mugabe, publicara anúncios publicitários no Herald com insinuações raciais. Entre os recortes de imprensa que o meu pai me enviava, figurava um anúncio de página inteira exibindo uma fotografia enorme de um casal de brancos idosos com T-shirts que ostentavam a mensagem «Vota Não». «Eles vão votar Não», lia-se na legenda, «Vota Sim». Nas reportagens noticiosas, os zimbabueanos brancos eram então referidos como os «não indígenas», os «filhos dos britânicos», e até simplesmente como «o inimigo».
— Qual é a tua opinião? — pergunto ao meu pai.
— Ah, ninguém dá por nada — responde alegremente.
— Por amor de Deus, a guerra terminou há vinte anos. Não há animosidade racial. Nunca a senti. Mugabe está a tentar desviar as atenções do seu terrível desgoverno económico, mas não está a ter resultados.
E de facto, nas eleições legislativas seguintes, quatro meses mais tarde, os candidatos do partido ZANU-PF de Mugabe enfrentam uma verdadeira oposição — o Movimento para a Mudança Democrática — que se unira em torno da campanha para o referendo. Assim, Mugabe estava a fazer o que os velhos generais fazem sempre, preparando-se para lançar a última batalha. À semelhança de Fidel Castro, Mugabe envergou o velho uniforme verde-azeitona do exército, a indumentária de um campo de batalha que nunca pisou, pessoalmente, para enfatizar as vitórias do passado e desviar as atenções dos fracassos do presente. Em comícios por todo o país, agitava no ar os punhos cerrados e discursava ardentemente contra um colonialismo antiquado e cada vez mais irrelevante, passada que estava uma geração.
Em seguida, encenou uma crise. Alguns dias após a derrota no referendo, indivíduos que se diziam «veteranos de guerra», antigos combatentes da guerra da independência, começaram a chegar às terras que pertenciam a fazendeiros brancos, recusando-se a abandoná-las. A forma como pronunciavam a expressão «war vets»1soava como «wovits», que foi o que a minha irmã e os amigos começaram a chamar-lhes. Entre eles, muito poucos eram verdadeiros veteranos de guerra, não passando de uma mera ralé de apoiantes dispersos de Mugabe e jovens desempregados, muitos dos quais recebiam do partido do Governo um subsí- dio diário para participarem. Hitler Hunzvi era claramente o arquitecto da campanha — e os wovits chegavam em autocarros e camiões do Governo. Quando os fazendeiros brancos se queixavam à polícia, esta dizia que era uma questão «política» que transcendia a sua jurisdição. Mesmo assim, quando os assassínios de fazendeiros brancos começaram, os meus pais ficaram surpreendidos. Subitamente, o meu pai já não estava tão optimista.
Martin Olds — cuja história leio no avião — foi assassinado a 18 de Abril. Fora agricultor numa localidade chamada Nyamandlovu. Significa Carne do Elefante, em ndebele, a língua da tribo do Sul descendente de Biyela, o príncipe dos Zulus. Muitos habitantes desta região, entre os quais Martin Olds, tinham aderido ao MDC. Estava sozinho quando a sua casa foi atacada. Mandara a mulher e a filha adolescente para Bulawayo. O ataque deu-se logo após os primeiros raios de sol. Foi uma brigada de combate, disseram os habitantes locais, de língua shona, oriundos do Norte. O Sindicato dos Fazendeiros Comerciais tentou reconstituir o que tinha acontecido. Uma centena de homens, armados com Kalashnikovs e pangas (catanas), chegou numa caravana de catorze veículos. Quando Olds sai para falar com os homens, disparam sobre ele, obrigando-o a refugiar-se no interior. Os homens montam seis postos de emboscada em redor da casa e abrem fogo. Martin Olds chama a polícia, implorando ajuda, mas ninguém aparece. Liga para os vizinhos, que tentam ajudá-lo mas são rechaçados a tiro, tal como uma ambulância que tinham chamado.
Durante três horas de desespero, a batalha é intensamente violenta. Olds foi soldado, em tempos; sabe defender-se. Mas é um contra cem. É alvejado na perna; liga-a com uma tala improvisada e continua a combater. Os atacantes lançam cocktails Molotov pelas janelas. Um vizinho sobrevoa a propriedade num pequeno Cessna e avista a casa em chamas, vê os homens a convergirem para ela, mas nada pode fazer para ajudar. E enquanto a casa arde, Olds vai-se retirando de um quarto para outro, acabando na casa de banho, onde enche a banheira com água, molha as roupas e prepara-se para o acto final. Riposta com uma salva de tiros até ficar sem balas, até ser abatido pelo fumo e pelo calor, acabando por sair pela janela com os braços erguidos.
Mal acaba de sair, os homens armados convergem para ele, espancam-no com enxadas e as coronhas das espingardas, pedras e catanas. Em seguida, entram nos camiões e voltam para o Norte. Os que ficaram feridos no ataque são escoltados pela polícia para um hospital das imediações onde são tratados e libertados. A polícia confirma que não foram feitas prisões.
Discretamente, o negociante congolês inclina-se sobre o lugar vazio para ver o que estou a ler com tanta atenção. Vê a fotografia e levanta os olhos na minha direcção com uma expressão que não consigo reconhecer imediatamente. Em seguida, percebo que é um olhar de compaixão; por Olds, por mim e pela pequena tribo de africanos brancos. Sinto-me envergonhado, humilhado, desgastado. Não estou habituado a ser o alvo da compaixão alheia. Normalmente, sou eu quem sente compaixão por outrem. Fecho despreocupadamente o jornal e finjo olhar para as nuvens turvas e negras em que penetramos, enquanto aterramos.
Está a chover intensamente quando desembarcamos no aerotporto de Harare, que vai definhando delicadamente enquanto se conjecturam planos para a construção de um novo aeroporto. Atravessa- mos a pista a correr para a fila no balcão da imigração. A chuva cai ruidosamente na cobertura de chapa ondulada, dificultando a audição. Há baldes estrategicamente colocados para captarem a água que cai das rupturas na canalização. Acima de nós um quadro electrónico emite a mensagem do Centro de Investimentos do Zimbabué, Bem-vindo ao destino de investimento mais vantajoso do continente. Porém, quando se pretende saber o número de telefone para que potenciais investidores possam telefonar, a legenda desfaz-se num emaranhado de xx, yy e zz.
Quando chego ao princípio da fila, entrego o passaporte ao agente negro e cumprimento-o em shona, a principal língua do Zim- babué. Desfaz-se em sorrisos e pergunta:
— Porque não fica cá? Precisamos de pessoas como o senhor. Quando se refere a pessoas como eu, quer dizer zimbabueanos brancos. Encolho os ombros e sinto-me meio agradecido, meio envergonhado. Este lugar tem sempre em mim este efeito agridoce. Mesmo quando fica mais pobre, mais periclitante, mais perigoso, quando o seu declínio se acentua diante dos meus olhos a cada observação periódica, em imagens instantâneas separadas pela ausência, sou permanentemente tentado a rasgar o bilhete de regresso e a ficar. Quer goste quer não, estou em casa.
O meu pai está notoriamente mais débil; tem agora um enfisema em fase inicial. A minha mãe tem permanentes dores nas costas e acha que pode precisar de ser operada. Mavis, a governanta, está a envelhecer com eles, já curvada e lenta, e mantida viva graças aos caros medicamentos para a hipertensão que a minha mãe lhe arranja.
A piscina jaz verde, quieta e opaca, com a bomba silenciosa e uma marca de água viscosa a toda a volta. O meu pai desistiu. Diz que os produtos químicos estão dez vezes mais caros e raramente disponíveis no mercado. Georgina alertou-me para esta situação, e enviei-lhes um e-mail dizendo que trataria de fazer chegar os produtos químicos todos os meses, através de um sítio que descobri na Internet. Argumento que é necessário continuar a praticar exercício físico. — Por favor, deixam-me ajudar? — peço ao meu pai, mas fica zangado.
— É um verdadeiro roubo — responde — o que querem cobrar. Não quero pensar mais nisto. Passamos muito bem sem a piscina.
— Seja como for — diz a minha mãe num tom efusivo —, vimos um programa na ZTV em que mostravam como se pode trans- formar uma piscina num tanque para peixes, e vamos até à cidade, ao Ministério da Agricultura, buscar um panfleto que explica como se faz. Está a ficar cada vez mais difícil encontrar peixe nas lojas, por isso vamos criar goraz para alimentação.
TINHA DE ESCREVER UM ARTIGO acerca dos ataques a fazendeiros brancos, e o meu pai recortou cuidadosamente artigos que acredita serem relevantes e juntou-os numa caixa de arquivo que agora me apresenta. No topo da pilha está um artigo sobre David Stevens, o primeiro fazendeiro a morrer, a 15 de Abril, e sobre um outro membro destacado do MDC. Foi raptado da sua fazenda, a Arizona, por quarenta homens armados que chegaram num autocarro. Ataram-lhe as mãos atrás das costas e levaram-no para longe. Vizinhos brancos que acorreram em seu auxílio foram rechaçados a tiro e refugiaram-se na esquadra de polícia local, mas os homens armados seguiram-nos, arrastaram-nos para o exterior, espancaram-nos e torturaram-nos, obrigando Stevens a beber gasóleo.
Um dos vizinhos testemunhou a morte de Stevens: «Vi um homem avançar e alvejar o Dave nas costas e depois na cara com uma caçadeira — literalmente, fê-lo ir pelos ares», acrescentou.
A viúva, Maria, é nossa amiga, pelo que decido telefonar-lhe. — Também tenho de escrever um artigo sobre… — informo, sentindo-me incomodado, com um nó na garganta. — Sobre tudo o que está a acontecer. Não tens de falar comigo, se não quiseres ou se não quiseres ser citada ou se não for uma boa ocasião…
— Porque não? — responde. — Já mataram o meu marido. Que mais podem fazer-me?
David Stevens veio da África do Sul durante a independência, porque queria viver num país livre. Aqui conheceu Maria, uma sueca, recém-chegada integrando um programa de ajuda escandinavo. Atualmente uma mulher elegante à beira dos quarenta anos, visito-a no seu refúgio temporário em Harare, uma casa suburbana propriedade da embaixada sueca. Os dois filhos gémeos com vinte meses gatinham irrequietos por cima dela.
— Não compreendem de facto que o pai foi assassinado — afirma num tom de voz monocórdico. — Não sei bem como hei-de explicar-lhes.
Arbitra uma quezília entre ambos, e senta um filho em cada perna. — Comprámos a nossa fazenda a um negro em 1986. Era um terreno baldio cheio de mato — recorda. — Não corriam rios por perto. Chamava-se Arizona por ser tão árido e rochoso. Agora já lá correm os rios. Cultivámos tabaco e milho, e eu cultivei orquídeas. Empregávamos setenta e cinco famílias, o David falava shona fluentemente e estava no conselho local a tentar abrir estradas na zona comunal. Acabou por se envolver na oposição política e aderiu ao MDC. Um dos comícios do MDC até teve lugar na nossa fazenda. Quando os veteranos invadiram, tínhamos muito boas relações com eles. Mas num fim-de-semana, quando eu estava ausente, violaram uma rapariga na nossa propriedade e os trabalhadores ficaram furiosos com eles.
Foi quando os problemas começaram. Os trabalhadores expulsaram os wovits, que pouco depois voltaram com reforços e capturaram Stevens.
— Quando o David foi levado por veteranos, a última coisa que me disse ao partir foi: «Não te preocupes, querida. Fico bem.» Nunca mais voltei a vê-lo vivo. Não regressei à fazenda. Os veteranos pegaram fogo a tudo e pilharam a casa. Levaram o saco onde tinha guardado todos os nossos bens: certificados de nascimento, passaportes, jóias. Por isso, agora não temos nada.
Então, pela primeira vez nessa tarde, começa a chorar; são as suas lágrimas que captam a atenção dos filhos, com um efeito que a notícia abstracta da morte do pai não consegue ter. Sentados ao colo da mãe, ficam finalmente mais calmos; levantam os olhos para ela com uma expressão alarmada.
— O David disse sempre que não era nenhum herói ou missionário — diz —, e que, se a situação ficasse perigosa, partiríamos.
QUASE MIL FAZENDAS DE BRANCOS já foram invadidas pelos «veteranos de guerra» wovits, mas o Sindicato dos Fazendeiros Comerciais aconselha os seus membros a permanecerem firmes até negociarem com Mugabe. O CFU advertiu os fazendeiros que qualquer deles que fosse referido na imprensa corria o risco de sofrer represálias por parte do Governo. E os próprios wovits eram muitos hostis a estranhos que surgissem nas fazendas, sobretudo a quem suspeitassem que pertencia à imprensa. Fotografar fazendeiros é um acto extremamente problemático; fotografar veteranos de guerra é quase suicida. No entanto, o New York Times enviou Antonin Kratochvil, um fotógrafo checo que actualmente reside em Nova Iorque, para fazer comigo a cobertura desta história.
Antonin é uma figura quase absurda. Corpulento e barbudo, fala inglês da América com um sotaque checo. Costuma ter um charuto ao canto da boca e está constantemente a rir, com uma gargalhada explosiva que provém da barriga. É um Pai Natal tropical, capaz de absorver a tensão de uma sala. A sua excentricidade faz dele a escolha perfeita. Vou buscá-lo ao Hotel Meikles, onde está à minha espera postado sobre o tapete estampado com as patas de leão, com o seu colete de caqui para o material fotográfico e a pequena Leica a tiracolo.
DESCOBRIMOS UM FAZENDEIRO, Rob Webb, que está disposto a falar. É o proprietário da fazenda Ashford, no distrito Centenary, cento e sessenta quilómetros a noroeste de Harare. A viagem de carro leva-nos a atravessar as terras da abundância: campos de milho com dois metros e meio de altura cuidadosamente emaranhados, pomares tratados com um rigor de manicura nas vastas propriedades de citrinos de Mazowe, ovelhas de cabeça negra e robustos exemplares de gado Hereford transparecendo boa saúde. Nos campos, há trabalhadores negros debruçados sobre a terra vermelha e fértil, plantando trigo de Inverno. Enormes torres metálicas esguicham água para os sulcos da terra. E, periodicamente, clarões de buganvílias vistosas assinalam as casas de brancos. A buganvília é uma planta exótica em África, tal como o homem branco. Provém da floresta húmida da Amazónia. Em vista aérea, é possível seguir o rasto do progresso dos europeus através das brilhantes tonalidades vermelhas, violeta e rosadas das buganvílias. As coberturas das casas, de chapa ondulada, espreitam por entre moitas de musasa.
À beira da estrada, homens negros com uniformes amarelos tentam deter o avanço da África, talhando o capim que desponta das bermas e ameaça envolver a estrada por completo. Vindos na direção oposta, esforçando-se por subir a escarpa rumo à capital, Harare, camiões carregados até ao topo com fardos de tabaco golden Virginia seguem com destino aos leilões de mercadorias. O Zimbabué é o segundo maior produtor mundial de tabaco virgínia, uma cultura que garante quase metade das divisas externas do país. Os autocarros também roncam pelos montes acima a caminho da capital, com os tejadilhos apinhados de bagagem, maçarocas, bicicletas, cestas de galinhas e a cabra manca excedentária.
O distrito agrícola de Centenary já conheceu convulsões mais do que suficientes durante o último meio século de fixação branca. Originalmente aberto ao homem branco em 1953, foi loteado e vendido sobretudo a ex-combatentes acabados de regressar da Segunda Guerra Mundial. No final de 1972, as suas fazendas foram alvo de ataque da guerrilha nos primeiros tiros da fase decisiva da Guerra Civil Rodesiana.
Ashford é uma das últimas fazendas que existem antes de a terra se precipitar profundamente pela escarpa até ao rio Zambeze, que fica apenas a dezasseis quilómetros de distância, seguindo o voo da águia-pesqueira. No interior dos portões da fazenda há dezenas de abrigos de capim erguidos pelos «veteranos de guerra» que invadiram a fazenda de Webb.
— Se o interpelarem, diga-lhes que é o vendedor de adubos — aconselhou-me Webb.
Os wovits estão sentados, a dormir, a ouvir rádio, a lavar os seus tachos, afiando as pangas. Olham-me fixamente e um deles levanta-se e encaminha-se na direcção do meu carro. Franze o sobrolho para a chapa de matrícula e anota o número. Eu e Antonin acenamos efusivamente e prosseguimos lentamente, o wovit não faz qualquer gesto para nos deter. No cimo de uma alameda de árvores-de-chama, há uma extensão de luxuriante relva de Durban em redor da casa de estilo rancho, onde Rob e Jenny Webb estão sentados na varanda vedada com grades. Atrás deles está uma roda de camião, um emblema doméstico como os muitos que era comum ver-se em muros ou em portões, afixados pelos pioneiros quando chegavam aos seus destinos, ou ao fim dos seus trilhos.
— Peço desculpa por ter a casa um pouco vazia — diz Jenny. — Esvaziei-a de tudo o que tivesse algum significado para mim e enviei para Harare, por precaução.
São um casal de meia-idade com bom aspecto, bronzeados e em boa forma física, fruto de uma vida ao ar livre, surpreendentemente calmos e contidos, tendo em conta a situação presente. Sentamo-nos à mesa para almoçar, e Jenny alcança o sino e fá-lo retinir para chamar a cozinheira; mas, de repente, lembra-se que não está. Pede também desculpa por estarmos a usar o segundo melhor faqueiro. Rob trincha o naco de carne de vaca assada.
— Este sítio era quase todo despovoado quando aqui chegámos — informa. — Havia moscas tsé-tsé, por isso não havia gado que so- brevivesse. E sem gado, não há gente. Os brancos costumavam vir aqui à caça do leão; e era tudo.
O avô de Rob veio para África como veterano da cavalaria britânica para combater na Guerra dos Bóeres. O pai cumpriu serviço na força policial da antiga colónia de Bechuanalândia (o actual Bot- suana). O tio de Rob redigiu a Constituição queniana.
Depois do almoço, os Webbs levam-nos num passeio de carro para nos mostrarem a extensão dos terrenos. Rob aponta para uma formação rochosa proeminente, o monte Banje, visível de todos os pontos do distrito. Servia de ponto de referência principal da guerrilha quando se infiltravam no país, durante a guerra da independência. — Sobrevivemos a sete anos de guerra — comenta Jenny. — As estradas estavam minadas, e eu estava sozinha com os meus filhos quando a casa foi atacada.
Mas quando a guerra terminou e Mugabe pediu aos fazendeiros brancos que permanecessem, os Webbs ficaram.
No seu auge, Centenary ostentava cento e cinquenta e quatro fazendas comerciais, mas esse número baixou para noventa e seis. Com a independência, a região oriental, que confina com terrenos comunais muito povoados, foi entregue para recolonização negra.
— Dissemos ao Governo — afirma Rob — que, se fosse apropriar terras, o fizesse de uma forma planeada, em vez de se limitar a expandir a agricultura de subsistência.
Porém, à medida que progredimos, a maior parte da terra — em tempos, a mais produtiva do país — apresenta-se vazia de plantações e repleta de mato. As fazendas estão abandonadas e os edifícios despidos das respectivas coberturas de zinco.
— Olhem só para isto — desabafa Webb. — É um desperdício terrível. Webb mostra-me a Sociedade para o Desenvolvimento Agrícola, uma velha fazenda comercial transformada por fazendeiros brancos em centro de formação tabaqueira. Ao longo do ano, mais de mil agricultores negros frequentam cursos em que aprendem o cultivo de tabaco comercial.
— Alguns dos agricultores que são formados aí são os mesmos que agora nos invadem — afirma Webb, e a mulher acompanha-o neste coro de desespero. — Isto não tem fim. Se tomam mais fazendas, dentro de cinco anos o nosso milho terá três metros de altura e o deles apenas sessenta centímetros. Aí, vão voltar e dizer que querem as nossas terras.
Só agora é que Rob me leva a dar uma volta pelas suas fazen- das — tem três, combinadas numa unidade. Aqui produz café, pimento, trigo, cana-de-açúcar, soja, espargos, tabaco. Nos seus altos celeiros de tabaco, construídos em tijolo, há trabalhadores ocupados a seleccionar e enfardar tabaco.
— Há aqui milhões de dólares em tabaco — revela. — E avisa- ram-me que pegam fogo a tudo isto se perderem as eleições.
Webb emprega seiscentos e vinte trabalhadores e, contando com as suas famílias, há cerca de duas mil pessoas que vivem da propriedade.
— Gerimos uma escola primária para os filhos dos trabalhadores e uma clínica com pessoal especializado.
Rob Webb foi muito longe para chegar a um entendimento com o partido governamental, como forma de ter um seguro político para o seu negócio. A mulher mostra-me uma carta de agradecimentos que receberam de Border Gezi, o representante local no Parlamento e um dos destacados homens fortes de Mugabe. Tem o cabeçalho escrito num tipo de letra carregado: Agradecimento pelo donativo de milho para a Região Administrativa de Muzarabani, e expressa o reconhecimento pelos contributos que Webb e os seus colegas fazendeiros comerciais deram ao partido do Governo. Rob, prossegue a leitura da carta, O povo tem uma elevada consideração por si, por favor, mantenha vivo o espírito de solidariedade que tem demonstrado. Este bom trabalho é extremamente louvável e, como membro do Parlamento, tenho muito orgulho na cooperação que recebi de vós, os Fazendeiros Comerciais.
Contudo, de nada lhe serviu quando uma horda de cem indivíduos armados com catanas e pedras subiram a rampa de acesso em marcha, entoando palavras de ordem hostis, tocando batuques e dançando a toyi-toyi, uma dança guerreira africana.
— Exigiram falar comigo e, quando vim cá abaixo, gritaram: «Viemos ocupar as tuas terras — foi o que nos disseram para fazer.» Demarcaram a terra que reclamavam nos campos de soja, que estavam prontos para a colheita, e exigiram que fosse imediatamente revolvida. Quando Rob insistiu em fazer primeiro a colheita, tentaram pegar fogo à plantação; só a verdura dos rebentos impediu que o fogo se propagasse. Agora, Webb está a fazer uma colheita combinada, dia e noite para retirar o máximo que pode da produção.
A mãe de Jenny Webb estava doente com cancro e precisava de ser levada ao hospital. Os wovits acabaram por permitir a vinda de uma ambulância que a levasse para a cidade, «mas recusaram-se a deixar-me acompanhá-la», diz Jenny.
— A minha mãe morreu três dias depois, sozinha. Ao dizer isto, a boca contrai-se numa expressão de raiva. A fazenda, um grande empreendimento construído ao longo de décadas, está à beira do colapso. Webb está impedido de plantar trigo de Inverno, de regar a plantação de soja e de entrar ou sair da sua propriedade sem autorização. Os seus trabalhadores estão assustados e preocupados com o futuro. Os ocupantes passam a maior parte do tempo bêbedos ou pedrados. Brigam permanentemente entre si, contradizendo-se de um dia para o outro. Levam uma vida parasitária, dependentes da fazenda para a própria sobrevivência, inclusive enquanto a destroem. O seu comportamento dá razão a todos os pre-conceitos coloniais sobre o caos e a desesperança em África.
— Pelo que posso ver, não passam de pequenos senhores da guerra — afirma Rob. — Estou a ser intimidado todos os dias. Cedo às suas exigências para que não espanquem os meus trabalhadores. Estão constantemente a exigir transporte e comida. Todavia já disse que isto tem de acabar. Então, o comissário político deste bando ameaçou parar toda a actividade laboral na minha fazenda, e eu respondi: «Muito bem, Faça-o.»
Agora vive o dilema angustiante de saber se deve ou não ir a Inglaterra para assistir ao casamento do filho. Não suporta a ideia de faltar, mas receia que os invasores se aproveitem da sua ausência para ocuparem a casa, pois perderia a fazenda para sempre.
Rob quer ir ver como está Peter Hulme, proprietário da fazenda Range, que está rodeada por terras comunais e áreas recolonizadas. Um grupo de duzentos e cinquenta wovits acabou de retalhar toda a fazenda Range e subdividiu-a em cento e um talhões, cada qual com oito hectares.
Hulme informa-nos de que está tudo calmo; os seus ocupantes foram-se embora, momentaneamente. No entanto, demarcaram o território. No portão da sua propriedade há um letreiro de madeira pintado à mão com a imagem de uma Kalashnikov cuspindo balas. Por baixo está escrito o nome do comandante dos ocupantes, as suas credenciais políticas, bem como o seu novo endereço: Shack Karai Chiweshe, ex-combatente. Talhão Número Um.
— Arrasaram os milharais e as hortas e derrubaram árvores para barrarem todas as estradas de saída — diz Peter Hulme. — Sentámo- -nos e ficámos a ver os animadores de festa a tocarem batuques e a entoarem cânticos de guerra, ameaçando-nos com machados e cajados como se empunhassem armas e gritando: «Pum! Pum! Estão mortos!» A maior parte era composta por camponeses, muitos dos quais reconheci, porque tinham trabalhado para mim a contrato, durante a época das colheitas. Ajudei muitos deles ao longo do ano. Quando os confrontei sozinhos, disseram-me que tinham sido obrigados a vir. O cabecilha é um sujeito que ainda me deve mil e seiscentos dólares em fertilizantes que lhe emprestei na época passada, para que pu- desse cultivar a sua terra. Inicialmente, fixaram os seus abrigos nos meus terrenos e partiram para as fazendas seguintes. Então, a polícia deu-me autorização para retirar os abrigos para poder trabalhar no campo; e foi o que fiz. Os ocupantes surgiram passadas três horas — furiosos — e disseram que, se eu não recolocasse os abrigos no es- paço de seis horas, teria de partir para sempre. Então, reuni toda a minha mão-de-obra e reconstruímos os abrigos num ápice.
— Os meus planos? — pergunta Peter, repetindo a minha pergunta.
— Os meus planos são… A sua voz vacilou.
— Não tenho planos. Ainda assim — prosseguiu, recompondo- -se —, podia ser pior. Os wovits dos nossos vizinhos exigem refeições e cerveja e ficam sentados a ver televisão por satélite e a dormir no quarto dos hóspedes. O que é irónico é que esta fazenda foi oferecida duas vezes ao Governo para recolonização. De ambas, o Governo recusou.
Quando partimos, o rádio de alerta do Land Rover de Rob Webb dá sinais de vida com uma mensagem de que um grupo de pressão criado pelo Sindicato dos Fazendeiros Comerciais para tentar con- trolar os surtos de violência com as invasões de terras está prestes a chegar de helicóptero. Louis Maltzer, da fazenda McClear, está a ser ameaçado por um comandante wovit. Rob é solicitado para se juntar à delegação para ajudar Maltzer. Decidimos que me junto a ele sob o disfarce de um colega fazendeiro — algo pouco convincente, receio, devido à minha palidez nova-iorquina. Além disso, sou o único branco com calças compridas. Antonin não tem qualquer hipótese de iludir e, seja como for, não será capaz de fotografar o acontecimento, por isso deixamo-lo na fazenda Ashford com Janey.
O líder do grupo de pressão é um jesuíta negro, o padre Fidelis Mukunori, confidente de Mugabe (que foi educado numa missão jesuíta), encarregado de estabelecer a paz aqui. Acompanham-no três representantes do Sindicato dos Fazendeiros Comerciais, um agente da polícia, um coronel do exército e um homem que, segundo me dizem, é um membro superior da CIO — a Organização dos Serviços Secretos Centrais. Rob apresenta-me com um nome falso e cumprimento os membros da delegação com apertos de mão até que dou de caras com um fazendeiro que conheço bem, Johnny Heynes, que foi meu colega na escola primária. Johnny está de pé ao lado do agente da CIO e começa a tratar-me pelo meu nome verdadeiro. Tusso e franzo-lhe o sobrolho, até que percebe e me saúda como a um estranho.
A fazenda McClear fica precisamente na orla da escarpa do Zambeze e é a primeira fazenda comercial aonde chega quem vem das terras tribais vizinhas. Louis Maltzer está à espera junto ao por- tão quando chegamos. Diz-nos que os seus ocupantes chegaram algu-mas semanas antes. Abateram uma enorme árvore-da-borracha para barrar a rampa de acesso, impossibilitando-o de fugir. Destruíram a vedação e subiram à varanda onde acenderam uma fogueira e começaram a batucar, a dançar e a cantar «Pasi ne maBhunu», que significa, em língua chona, «Abaixo os bóeres!».
Hoje, só há alguns wovits adolescentes, nas imediações. Parecem subitamente pequenos e vulneráveis. O padre Fidelis diz-lhes que devem permanecer na sua parte da fazenda e deixar Maltzer e os trabalhadores prosseguirem a safra, e os miúdos acenam enfaticamente. Quando, porém, a nossa caravana se afasta, somos intersectados junto ao portão da fazenda por uma carrinha de caixa aberta amolgada. As portas abrem-se e um homem corpulento salta do interior. Usa calças compridas, sandálias de enfiar o dedo e uma T-shirt da Associação dos Veteranos de Guerra do Zimbabué que se esforça por acompanhar a curva da barriga. Caminha rapidamente na nossa direcção, perdendo uma sandália na corrida e percorre os últimos metros a saltitar. Diz-nos que é o camarada Mavusi, «o comandante local». É seguido por um grupo de jovens armados de catanas, facas de mato, bastões, enxadas, barras de metal e machados. Um deles, reverentemente, deposita a sandália no chão e Mavusi faz deslizar nela o seu pé desajeitado. O seu hálito tresanda a álcool.
— Porque convidou estas pessoas? — grita em inglês para Maltzer.
Antes que este pudesse responder, Mavusi vira-se para o padre Fidelis. — Porque veio interferir connosco aqui?
O padre Fidelis propõe a realização de uma reunião no dia seguinte para forjar um modus vivendi entre os fazendeiros brancos e os indesejados hóspedes. O camarada Mavusi, porém, recusa-se a participar. Alega não ter informações dos superiores acerca desta reunião. O coronel do exército faz sinal de que deseja falar. É agora, penso. Agora vai afirmar-se. Mas apenas chama a atenção para uma tempestade que se aproxima e para o facto de estarmos a começar a perder a luz, e que o grupo de pressão tem de regressar a Harare nessa noite. — Se os fazendeiros tentarem partir — avisa Mavusi, dirigindo-se aos seus seguidores —, cortem-nos à catanada.
De facto, fez-nos seus reféns. As suas exigências, porém, são difíceis de cumprir e está constantemente a alterá-las. Agora, parece que quer transporte e alimentos para dois mil apoiantes que convocou, vindos do vale do Zambeze. Se tal não for feito, estes tipos vão pegar fogo à fazenda, espancar os trabalhadores e matar Maltzer. Fidelis concorda com tudo, para podermos partir. Quando atingimos a plataforma de aterragem do helicóptero, os pilotos estão ocupados a tentar baixar o aparelho, apesar da tempestade que se aproxima. Não haverá voo de partida esta noite.
Maltzer encontra-nos meia hora depois na esquadra da polícia. — Para vocês é muito bom andarem a voar de um lado para o outro — afirma. — Mas eu tenho de viver aqui, e a minha fazenda vai ficar em chamas se isto não ficar resolvido antes de partirem.
Tem o desespero estampado no olhar. A solução óbvia — colocar agentes da polícia a garantir a segurança da fazenda — está fora de questão; nisso estão de acordo tanto Maltzer como o comandante da polícia local. Assim que a polícia se fosse embora, o fazendeiro e os trabalhadores pagariam um preço bem pesado pela presença policial.
Antonin e eu voltamos de carro para Harare no meio da chuva, com Johnny Heynes, o meu antigo colega de escola, como nosso passageiro. Sinto-me abalado pelo que testemunhei, estupefacto pela forma como o colérico camarada Mavusi tem a confiança do comando, já que nem a polícia nem o exército estão preparados para o contrariar; receio também que Maltzer não sobreviva. Mas Heynes é fleumático. Segundo ele, trata-se apenas de fanfarronice política — o falso ataque do elefante, quando estende as orelhas para parecer maior e mais perigoso, em vez de um ataque verdadeiro, quando tem as orelhas em baixo, encostadas ao pescoço para cortar a resistência do vento. É um daqueles aspectos da sabedoria do mato em que ambos fomos criados. Teoricamente, parece convincente, mas as coisas parecem muito diferentes quando a besta nos ameaça.
Heynes insiste que tudo vai ficar mais calmo depois das eleições. Quando o Governo ganhar, os wovits vão-se embora. Confidencia que tal lhe foi garantido em privado pelo presidente.
— E estamos a aconselhar os nossos membros a manterem-se firmes. A loucura vai desaparecer, Peter, só temos de manter a calma.

















