Foi no dia dos namorados que o Aiatola Khomeini anunciou da varanda do seu palácio em Teerão que Salman Rushdie tinha a cabeça a prémio. Apesar das distinções literárias, foi aquele breve momento em fevereiro de 1989 que elevou Salman Rushdie ao estatuto de vedeta e o obrigou a viver durante anos rodeado de um apertado esquema policial sob um nome falso. Os motivos que levaram à fama do escritor não podiam ter sido piores.
A fatwa (uma opinião sobre a interpretação e aplicação da lei islâmica, e não uma sentença de morte) que foi lançada a partir do Irão dizia também respeito a todos os envolvidos na publicação de Os Versículos Satânicos (editores, tradutores e livreiros), e começou rapidamente a espalhar-se. Como um vírus. As manifestações em que se queimavam exemplares do romance tornaram-se regulares e vários morreram. Não era a primeira vez que um livro causava problemas, mas Rushdie nunca pensou que isso acontecesse com uma obra sua.
Passados 28 anos, o livro continua a perseguir Rushdie como um fantasma que teima em não desaparecer. Apesar do Aiatola Khomeini já ter morrido, a fatwa continua a ter efeito e a questão da segurança torna-se numa preocupação sempre que tem de viajar para fora de Nova Iorque, a cidade que escolheu para viver. E isso percebeu-se na sexta-feira em Óbidos, onde decorre até domingo o FOLIO. Com as entrevistas cronometradas ao segundo, a organização nem deu tempo aos fotógrafos para tirarem uma fotografia. É como se aquele momento com Salman Rushdie nem tivesse acontecido.
Porém, a fatwa parece ser mais uma preocupação dos outros do que do próprio escritor. Simpático e acessível, recebe com um sorriso quem o aborda para um autógrafo, para uma palavra. Durante a curta conversa com o Observador, falou sobretudo do último livro, Dois Anos, Oito Meses e Vinte e Oito Noites, que marcou o seu regresso à ficção. Lançado em 2015, depois de Joseph Anton — Uma Memória, é um retrato de um mundo que está a desabar mas onde, ainda assim, existe espaço para a imaginação, os contos de fada e as criaturas fantásticas.
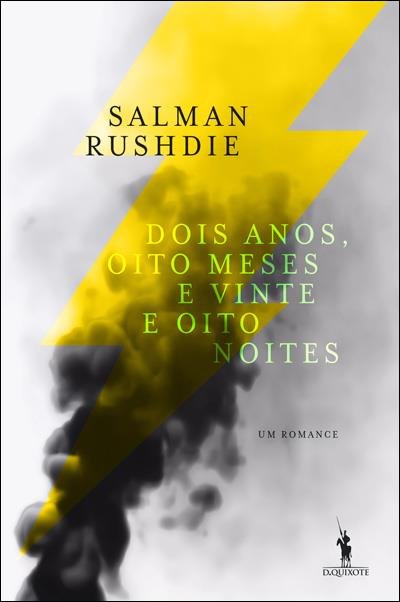
“Dois anos, oito meses e vinte e oito noites” foi publicado em 2015 em Portugal pela Dom Quixote
Dois Anos, Oito Meses e Vinte e Oito Noites marcou o seu regresso à ficção. Como é que foi escrever um romance depois de um livro de memórias?
Na verdade, o livro de memórias é que é a aberração. Sempre me vi como um escritor de ficção e não como um escritor de não-ficção. Quando escrevei Joseph Anton, tentei romanceá-lo o mais possível. Esta é a minha forma de abordar um grande projeto de escrita. Tenho dado um curso na Universidade de Nova Iorque sobre não-ficção criativa, e Joseph Anton é um exemplo de um trabalho que usa a técnica do romance para contar uma história real. Ou livros como Lista de Schindler, A Sangue Frio. A diferença é que Thomas Keneally e Truman Capote estavam a escrever sobre outras pessoas e não sobre eles próprios. Mas queria ver se conseguia usar essa forma de construir um texto num texto autobiográfico.
Foi difícil escrever uma autobiografia?
Sim, muito difícil. O que me ajudou foi o mecanismo de distanciamento da terceira pessoa porque me permite tratar uma pessoa como uma personagem ficcional. Quando tentei escrever na primeira pessoa, pareceu-me ridiculamente narcisista. Eu, eu, eu, eu! Cala-te [risos]!
Então porque é que decidiu escrevê-la?
Tinha de contar aquela história, não queria que outra pessoa a contasse. Era a minha história. Quando acabei de a escrever, senti-me muito mais leve. Senti que tinha largado todo aquele peso que tinha carregado. Em retrospetiva, vejo que me senti muito mais leve enquanto escritor. Acho que este livro beneficia disso.
É, sem dúvida, um livro leve. Há quem diga que até é divertido.
Essa é uma das razões porque [Italo] Calvino está no início do livro*. Sou um grande admirador de Calvino e tive a oportunidade de o conhecer nos últimos anos de vida. Escrevi sobre a escrita dele, ele escreveu sobre a minha escrita.
Tornaram-se amigos?
Sim, ficámos amigos. Ainda sou amigo da viúva dele, da filha, e assim. Mas ao ler os últimos ensaios dele sobre a escrita, Seis Propostas para o Próximo Milénio, em que ele fala sobre o que considera ser as grandes virtudes da literatura (que incluem coisas como rapidez e leveza), pensei que era assim que queria que este livro fosse — que fosse escrito com essas virtudes. Mas acho que surge também da tradição ocidental do não-realismo, da literatura ocidental surrealista, que incluem autores como Gogol, Bulgakov, Calvino, Kafka. De certa forma, o que acabei por fazer foi juntar a tradição ocidental que admiro com as histórias de encantar do oriente. O resultado foi este.

Getty Images
O deslumbramento que Dunia tem por histórias de encantar, e o próprio nome do livro, parecem ser uma referência às Mil e Uma Noites, uma obra que já referiu anteriormente noutros trabalhos. O que é que o fascina tanto nesses contos?
É um dos grandes textos fundamentais. Apesar de ser apenas uma coleção de material escrito por sabe-se lá quem, está ali uma grande parte da sabedoria do mundo. E, à medida que as histórias atravessaram o planeta, foram sendo alteradas. Por exemplo, quando As Mil e Uma Noites chegaram à Europa, chegaram primeiramente numa versão francesa. O tradutor e autor francês, Antoine Galland, traduziu-as do árabe para o francês e, ao fazer isso, deixou algumas das histórias de fora e acrescentou outras. E, na verdade, algumas das histórias mais famosas — a de Aladino, a de Ali Babá — não estão na versão árabe. São histórias francesas [risos]! E, por estranho que pareça, até nesses textos existe um cruzamento entre a tradição ocidental e a oriental. As Mil e Uma Noites de Galland são, em parte, europeias.
Ouvi esses contos pela primeira vez numa versão para crianças. Eram histórias que o meu pai e a minha irmã me contavam para adormecer. Quando cresci e comecei a ler o texto original, ficou bastante claro para mim que não tinha sido escrito para crianças. A linguagem é bastante complexa, as ideias são bastante complexas — não são histórias para crianças, são histórias para adultos. Então pensei: “OK, posso escrever uma história para adultos, não tem de ser uma história para crianças. Posso pegar nesta voz, a voz adulta das Mil e Uma Noites (e não a voz que ouvi em criança) e tentar usá-la para contar uma história sobre o presente”. Porque estas histórias não foram escritas para serem futuristas — falam sobre o mundo em que foram escritas. Eram contemporâneas.
Mas não foram apenas As Mil e Uma Noites que me inspiraram. Existe uma outra coleção muito grande de histórias na Índia chamada O oceano dos rios de histórias, escrita originalmente em sânscrito por um homem chamado Somadeva, que é, mais uma vez, uma figura lendária. Não se sabe se existiu. O oceano dos rios de histórias é muito parecido com As Mil e Uma Noites nesse sentido — porque é um grande conjunto de histórias, e é ainda maior. Há um pequeno parágrafo no meu romance que roubei deliberadamente do Oceano dos rios de histórias. É uma espécie de homenagem.
É sobre a história de um homem que empresta dinheiro a um nobre que morre antes de poder devolvê-lo. O homem fica chateado e lembra-se que, há muitos anos, tinha feito um favor a um jinn [um ser mágico] que, em troca, lhe concedeu um presente — uma vez na vida podia possuir o corpo de uma outra pessoa. Então, ele decide possuir o corpo do morto para que este pudesse levantar-se, ir ao banco e levantar o dinheiro [risos]. Pelo caminho, passa por uma banca de peixes e os peixes mortos levantam a cabeça e começam a rir-se. E, nessa altura, toda a gente percebe que se passa algo de errado. Então ele abandona o corpo do nobre e apressa-se a volta ao seu. Mas, na sua ausência, umas pessoas encontraram-no e, pensando-o morto, queimaram-no, porque é isso que se faz com um morto na tradição hindu. Como lhe queimaram o corpo, ele ficou sem ter para onde voltar.
Não é uma história muito feliz.
Não, é uma história sobre como não se deve ser ganancioso [risos]. Uma versão disso está no meu livro. É um parágrafo que permite reconhecer a fonte destas histórias através do roubo de uma. É um pensamento conceptual, mas assim que começo a escrever não penso mais nisso. Quando começo a escrever não penso nas Mil e Uma Noites.
Deixa-se ir?
Sim, e sinto que isso aconteceu neste livro. À medida que fui envelhecendo — ou que fui escrevendo mais livros –, acho que me tornei mais corajoso em relação a novas experiências, à improvisação. Vejo a onde é que a história quer ir, sigo-a e vejo se quero estar ali. É como a música clássica indiana, que é improvisada. Nas ragas, por exemplo, existe uma estrutura, mas dentro dessa estrutura há imenso espaço para o músico improvisar. Está mais perto do jazz do que das sinfonias. A estrutura de uma sinfonia é o que é — a música está ali — e o músico é apenas o intérprete. Mas na tradição clássica indiana o músico também é o criador. O que quero dizer com isto é que usei uma espécie de técnica jazz para escrever outro livro — vi para onde ia.
O resultado é que houve muitas descobertas. Por exemplo, a personagem de Dunia tornou-se muito mais importante do que imaginei. A personagem de Jimmy Kappor tornou-se mais importante do que pensei que ia ser. Simplesmente gostei da maneira como estava a sair e, então, eles ganharam os seus próprios riffs. E pensei, “OK, são bons riffs, vou deixá-los”. Penso que, nesse sentido, me tornei mais corajoso em relação à escrita. Quando era mais novo, precisava de arquitetura — precisava de uma arquitetura forte.
Precisava de um plano mais definido que pudesse seguir?
Sim, mas agora o que preciso é de um lugar definido. Preciso de saber precisamente onde é que acontece a história e de criar a realidade desse lugar. Mas assim que tenho esse chão debaixo dos pés, por assim dizer, consigo correr, inventar e brincar. Acho que este livro é muito divertido nesse sentido e acho que beneficiou disso.
A história começa no século XII, mas depois avança para a atualidade, para a cidade de Nova Iorque, onde tudo está a desmoronar-se. Não há aí um retrato do mundo atual?
No livro há esta coisa que é “o tempo das coisas estranhas”. Sinto que esse é o nosso tempo. Tentei escrever um conto de fadas sobre o mundo real.
É uma espécie de paradoxo — usar as técnicas da não-realidade para falar da realidade. A estranheza que está no livro é surreal, como os bebés mágicos [risos]. Mas a ideia de que o mundo é estranho — radicalmente estranho — acho que é verdadeira e é por isso que uma das maneiras de ler o livro é encará-lo mais como uma verdade do como uma fantasia. Porque a magia cresce da realidade.
Falou na estranheza do mundo. Como é que encara a situação atual?
Uma confusão!
Na Europa existe o perigo da extrema-direita, nos Estados Unidos da América têm Donald Trump…
Ainda não temos o Trump. Estamos a tentar a todo o custo não ter o Trump.
Mas é uma possibilidade.
Sim, e até essa possibilidade é assustadora. Espero que o processo de autodestruição que aconteceu no primeiro debate continue. Porque aquilo foi uma peça extraordinária de autodestruição pública, o que mostra que ele não se consegue controlar. Mesmo quando tem uma equipa de pessoas a dizer-lhe o que fazer, ele não consegue resistir. Quando ela [Hillary Clinton] falou no caso da Miss Mundo, ele decidiu falar sobre isso durante dez minutos. Alguém lhe devia ter dito para parar de cavar a sua própria sepultura. E, no dia seguinte, continuou a falar sobre o assunto e sobre quão gorda ela era. Está cada vez pior. Não se consegue calar!

AFP/Getty Images
Mas as pessoas continuam a gostar dele. Porque é que acha que isso acontece?
O que acho que está a acontecer — e é um fenómeno mundial — é a rejeição do sistema. As pessoas estão muito alienadas da democracia e isso é muito perigoso. Sentem-se atraídas por personagens que se apresentam como estando fora do sistema, e isso deve-se à alienação. Acho que Trump representa isso na América, da mesma forma que Jeremy Corbyn representa isso em Inglaterra e Marine Le Pen em França. Às vezes à esquerda, às vezes à direita, mas são sempre figuras que se apresentam como estando fora do sistema. Bernie Sanders era a mesma coisa. Acho que o sistema democrático está em perigo quando demagogos como Trump conseguem erguer-se e chegar perto do poder.
Na semana passada, fui a Washington por causa do Festival Nacional do Livro. Washington é um lugar extraordinário! Primeiro porque é lindíssimo e, segundo, porque é um exemplo dos ideais americanos e do imenso poder da América. Existem estes edifícios neoclássicos por todo o lado, parece uma nova Grécia [risos]! E pensei que a ideia de ter aquele homem a governar aquilo tudo era horrível. Espero que isso não aconteça. Mas penso que o maior problema é esta alienação que muitas pessoas sentem e pela qual estão dispostas a apoiar neofascistas como Marine Le Pen ou Trump. Assustador.
Apesar disso, Dois anos, Oito Meses e Oito Noites tem um final feliz.
Bem, uma espécie de final feliz que é sugerido ao fim de mil anos. Isso deve-se ao facto de me ter fartado de distopias. Agora tudo é uma distopia! Até os livros para crianças são distopias! Pensei que seria tão fácil sentar-me e escrever um livro onde tudo era horrível e onde tudo ia ficando pior e pior e que acabava mal. Isso era tão desinteressante! Não queria ler um livro assim e não queria escrever um livro assim. Então pensei no que é também poderia acontecer e em usar uma moldura temporal grande. Mas, para mim, os mil anos sugerem uma outra coisa — deram-me a voz do livro.
Se olharmos para há mil anos, o que é que vemos? Vemos uma mistura de factos e ficção, factos e lendas. Por exemplo, Carlos Magno. O que é que nós sabemos sobre Carlos Magno? Só há um livro sobre ele. E, antes disso, houve o Rei Artur e os cavaleiros da távola redonda, que são completamente lendários. Portanto, a nossa visão do que aconteceu há um milénio é uma mistura estranha de história e lenda. Pensei que se os meus narradores estivessem daqui a mil anos a olhar para o passado, talvez também vissem uma mistura estranha de história e lenda. Isso deu-me o tom do livro. Era assim que queria que o livro soasse.
Mas num mundo de coisas estranhas, ele acaba por nos dar esperança.
Sim, existe um pouco de esperança no futuro. Acho que isso é bom. Sei que já não é suposto falarmos de pensadores marxistas, mas há uma frase que sempre gostei de Antonio Gramsci em que ele diz que devemos ser pessimistas em relação ao intelecto e otimistas em relação à vontade. Penso que é uma boa maneira de encarar o mundo. Se olharmos agora para o mundo através do intelecto, torna-se muito fácil ser pessimista em relação a ele. Mas, se tivermos o otimismo da vontade, temos de acreditar que conseguimos tornar o mundo num sítio melhor.
Acho que é uma das coisas que aprendi com a minha geração estúpida, a geração dos anos 60. Crescer naquela altura significou crescer a acreditar que as nossas próprias ações podiam melhorar o mundo. Foi o tempo dos protestos contra a guerra do Vietname, do movimento feminista, do movimento dos direitos civis, etc. À nossa volta, podíamos ver pessoas que, através das suas ações, estavam a tornar o mundo num lugar melhor. E acreditávamos que isso era possível. Mantive sempre essa crença. É daí que vem esse otimismo final.
* As primeiras duas páginas de Dois Anos, Oito Meses e Oito Noites incluem uma reprodução da famosa gravura “O sonho da razão produz monstros”, de Francisco Goya, e uma citação de George Szirtes, Italo Calvino e As Mil e Uma Noites. A de Calvino diz o seguinte: “Em vez de me obrigar a escrever o livro que devia escrever, o romance que era esperado de mim, congeminei o livro que eu próprio gostaria de ter lido, do tipo daquele que foi escrito por um autor desconhecido, de outra era e de outro país, descoberto num sótão”.

















