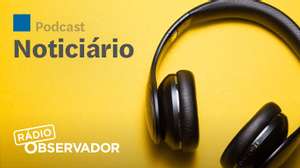A evolução da população residente em Portugal iniciou, na última década, uma tendência que se projeta ser de longo prazo: o declínio populacional. Em resultado de saldos naturais consistentemente negativos (diferença entre nascimentos e óbitos) e saldos migratórios negativos até 2017 (diferença entre imigrantes e emigrantes), entre 2011 e 2021, Portugal perdeu 2,1% da população residente (Censos, INE). Esta expectável tendência da população surge numa década também marcada pelo agravamento do envelhecimento demográfico. Em 2021, a população com 65 e mais anos representava quase um quarto do total (23,4%), sendo que entre estes, quase metade têm 75 e mais anos (48,7%).
Em 2031 poderemos ser 10.03 milhões, de acordo com o cenário central das projeções de população das Nações Unidas, passando a partir de então a ser novamente menos de dez milhões. Se assim for, a população residente em Portugal teve o seu pico em 2011, quando fomos 10,56 milhões.
O declínio populacional não tem de ser, no entanto, uma catástrofe, como explica Vegard Skirbekk em Decline and Prosper!. Em sociedades em que a maioria dos nascimentos são planeados, como é o caso português, o número de filhos que uma mulher tem e a idade em que os têm não precisa de ser adjetivado de positivo ou negativo. Estes indicadores são o resultado de escolhas individuais determinadas por fatores endógenos, como a vontade e a capacidade biológica de ter (mais) filhos, e fatores exógenos como os percursos educativos, mais longos que outrora, a entrada no mercado de trabalho, mais tardia do que outrora, a existência ou não de um parceiro, as redes de apoio aos cuidados (formais ou informais) e, não menos importante, a capacidade de fazer face aos custos de ter (mais) filhos.
Seremos menos porque a fecundidade em Portugal é manifestamente baixa e os saldos migratórios positivos, mesmo que superiores aos nascimentos como aconteceu em 2022 (86 889 e 83 671, respetivamente), são insuficientes para compensar os óbitos (124 311).
De acordo com o cenário central das projeções da população das Nações Unidas, projeta-se uma ligeira subida do índice sintético de fecundidade no futuro, para 1,41 filhos por mulher em 2031 e 1,44 filhos em 2041 que, sendo relevante, não significa uma recuperação extraordinária no número médio de filhos de mulheres entre os 15 e os 49 anos, admitindo que as mulheres estariam submetidas às taxas específicas de fecundidade do momento. Como diz Skirbekk, “não há razão para acreditar que a fecundidade irá aumentar nos países onde já é baixa”.
É igualmente ilusório colocar grandes expectativas no papel das políticas de família. Ainda que fundamentais, congratula-se a gratuitidade das creches, por exemplo, o efeito das políticas de família na subida da fecundidade é limitado, como percebemos pelos baixos níveis de fecundidade em alguns países da Europa do Norte, mais generosos nas políticas de família do que Portugal. Mesmo assim, os dados do Inquérito à Fecundidade 2019 (INE) mostram uma diferença entre o número médio de filhos desejado (2,15 filhos) e o número médio de filhos que as pessoas já tiveram e que ainda tencionam vir a ter (1,69 filhos) o que significa que há uma oportunidade de providenciar melhores condições para que quem quer ter (mais) filhos os possa ter.
Seremos cada vez mais velhos até que as gerações nascidas a partir da década de 1980, menores em volume, atinjam a senioridade, o que acontecerá a partir da segunda metade da década de 2040, representando um aumento progressivo da pressão no sistema de pensões tal como está desenhado na atualidade.
A demografia é frequentemente encarada como uma ciência de evolução lenta e por isso previsível, ideia que tem subjacente a relação entre fecundidade, mortalidade e crescimento populacional sintetizada na Teoria da Transição Demográfica. No entanto, a demografia não é necessariamente assim tão lenta, à escala nacional ou em populações pequenas, e em resultado dos movimentos migratórios como explica Francesco Billari, no seu artigo Demography: Fast and Sloox, publicado na revista Population and Development Review. Enquanto o envelhecimento progressivo da população em Portugal e a recente tendência de declínio mostram o lado lento e previsível da demografia, o lado rápido da demografia foi visível, por exemplo na emigração em massa na década de 1960 e na chegada de centenas de milhares de pessoas após a revolução de Abril de 1974
É, nesse sentido, fundamental que no plano das políticas públicas, se abandone a ideia que tem tanto de errada quanto de ingénua de que é possível adequar o volume e a estrutura etária da população ao sistema de pensões ou ao funcionamento do mercado de trabalho, por exemplo. A relação é precisamente no outro sentido, a sociedade tem de se organizar, adequar e atualizar consoante a evolução da população, o que não é assim tão difícil, dado o lado lento e previsível da demografia.
Uma mudança de governo, independentemente da cor política, é sempre uma oportunidade de fazer mais e melhor. Assim queiram fazê-lo.
Nota final: se o leitor se interessa por estas e outras questões sobre a população e pondera fazer um doutoramento, a Universidade de Lisboa tem o programa em Ciências da População, inovador porque foi desenhado para estudantes e profissionais de qualquer área do conhecimento que se interessem pelo estudo da população e das causas e consequências dos eventos demográficos utilizando sobretudo métodos quantitativos para estudar as questões da população numa perspetiva verdadeiramente interdisciplinar.
Alda Botelho Azevedo é doutorada em Demografia pela Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora no Instituto de Ciências Sociais, é coordenadora do doutoramento em Population Sciences pelo ICS e membro da Comissão Científica. É membro do Clube dos 52, uma iniciativa no âmbito do décimo aniversário do Observador, na qual desafiamos 52 personalidades da sociedade portuguesa a refletir sobre o futuro de Portugal e o país que podemos ambicionar na próxima década.