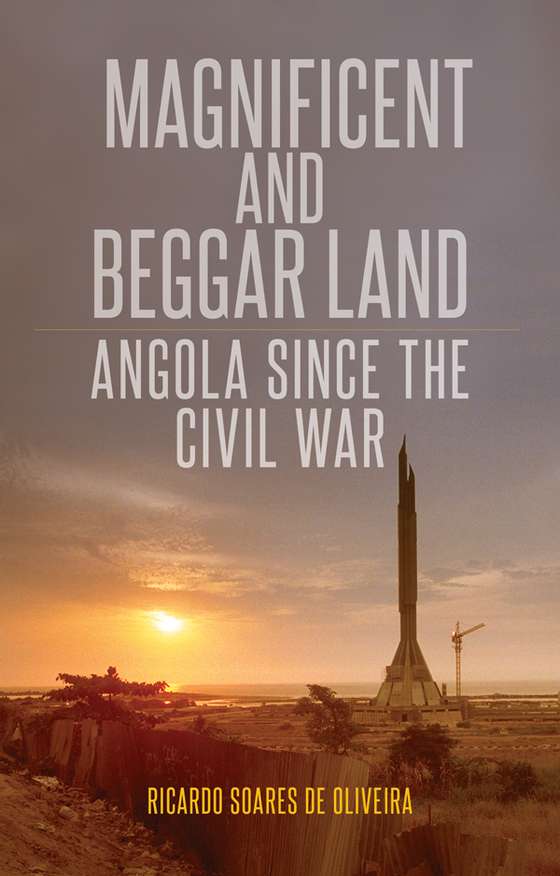Ricardo Soares de Oliveira, 37 anos, professor de Política Comparada na Universidade de Oxford, acaba de publicar um livro em que analisa a trajectória de Angola desde 2002. Magnificent and Beggar Land. Angola since the Civil War (Hurst, 2015, 288 pp.). Conversámos com ele acerca de alguns dos assuntos aí abordados, desde os contornos do sistema de poder nesse país às idiossincrasias da relação luso-angolana, bem como sobre as consequências que são possíveis de antever em função da descida do preço do petróleo nos mercados internacionais, o principal (se não mesmo único) motor da economia angolana. Uma entrevista conduzida por Pedro Aires Oliveira.
Comecemos pela questão mais elementar, Ricardo: quais as razões que te levaram a escrever este livro?
Há várias razões. Angola sempre me fascinou e foi um país acerca do qual eu já tinha trabalhado bastante. Do ponto de vista intelectual, notei que havia uma grande lacuna no conhecimento acerca de Angola. Apercebi-me de que Angola era um país que se transformara completamente na última década. Tinha tido guerra durante 41 anos, se contarmos com o período colonial, a Guerra Fria e os anos 1990, mas desde 2002, por uma série de razões, o país estava a reinventar-se. E eu achei essa questão apaixonante. Quis perceber até que o ponto isso estava realmente a acontecer ou havia continuidades em relação a estruturas de desigualdade e subdesenvolvimento que já existiam não só no contexto da guerra civil, mas também no período colonial.
Um aspecto que é mencionado logo na abertura do livro é o peso do passado, a saliência de certas continuidades históricas. Como é que isso se tem manifestado no pós-guerra civil /independência, e até que ponto condiciona o presente do país?
As elites angolanas gostam da ideia de Angola desenvolvida em 1973 – o ano de 1973 é uma data mítica, pois foi o ano de maior produção no período colonial.
É difícil estabelecer uma hierarquia de factores. Eu diria que há muitos factores que continuam a ter importância na vida angolana. O mais óbvio é o facto de não se ter produzido em Angola, mesmo nesse período do colonialismo tardio, uma burguesia forte. E isso é um facto que não só vai influenciar as escolhas da elite angolana, mas o próprio processo de formação de classes em Angola desde 1975. Mas de uma forma mais concreta eu diria que o modelo de desenvolvimento português, o modelo seguido entre 1961 e 1974, teve uma vida intelectual pós-independência bastante interessante. Foi um modelo que, mesmo no contexto do socialismo, de uma forma mais discreta, e a partir de 1991, de uma forma mais explícita, se revelou persuasivo, e que continuou a influenciar a mentalidade das elites angolanas. As elites angolanas gostam da ideia de Angola desenvolvida em 1973 – o ano de 1973 é uma data mítica, pois foi o ano de maior produção no período colonial. Por outro lado, no processo de reconstrução de Angola após 2002 houve elementos absolutamente novos – por exemplo a destruição da velha Luanda e a construção de uma espécie de Dubai angolano não tem precedentes. Mas sob outro ponto de vista há muitas políticas que pressupõem o restabelecimento da economia e das infraestruturas do colonialismo tardio.
Uma das facetas notáveis do livro é o retrato que ele oferece das classes dirigentes angolanas, do MPLA, que nos surgem como uma elite muito astuta no que toca à sua estratégia de manutenção no poder, mas, ao mesmo tempo, uma elite que neste período da reconstrução poderá não ter dado os passos mais adequados numa perspectiva de mais longo prazo. E a actual descida do preço do petróleo pode pôr em xeque as premissas da sua hegemonia – ou não?
Eu não me aventurava a especular sobre a sobrevivência política desta elite. Parte dessa astúcia é o facto de essa elite ter conseguido sempre criar uma massa crítica de apoiantes que, sem lhe proporcionar uma grande legitimidade social, lhes tem pelo menos dado o espaço suficiente para sobreviver politicamente e reproduzir a sua dominação. No livro, não quis adoptar uma perspectiva moralizante na análise da trajetória de acumulação das elites angolanas. Por uma razão apenas: porque historicamente nunca é um processo bonito de se ver ao pé.
A economia de Angola tem tantas recompensas a dar a quem tem poder, que sempre que eles têm de optar entre a via mais difícil da respeitabilidade e a via do facilitismo, eles escolhem sempre a via do Far West
A questão que tenho aqui como politólogo é a de saber quando é que se poderá dar um momento de viragem em termos de reconversão dos oligarcas angolanos. Podemos tentar uma analogia com os robber barons americanos de finais do século XIX. Quando é que eles terão concluído que já acumularam o suficiente para se dedicarem a uma tentativa de criação de respeitabilidade e durabilidade, o que pressupõe legitimar socialmente as suas fortunas, através da filantropia e das boas obras? Mas, também, quando é que as estruturas que anteriormente foram permissivas com essa forma de acumulação são alteráveis. Eu penso que os dois processos – a mudança de mentalidades dos oligarcas e a mudança institucional – têm de surgir simultaneamente.
E no caso de Angola nenhum deles está a acontecer. Há oligarcas angolanos que já estão a pôr os filhos em escolas em Inglaterra, que começam a aparecer no jet-set internacional, e gostariam que a origem das suas fortunas fosse esquecida. Da mesma forma que muitos oligarcas russos eram há uns anos vistos como uns bandidos mas depois se tornaram respeitáveis frequentadores de Davos, Ascot e todos esses meios. Ou seja, por um lado eles têm esse instinto, mas, por outro, a economia de Angola tem tantas recompensas a dar a quem tem poder, que sempre que eles têm de optar entre a via mais difícil da respeitabilidade e a via do facilitismo, eles escolhem sempre a via do Far West. Mas se isso pode ser tacticamente acertado, estrategicamente mina a capacidade a longo de essas elites se tornarem as elites legítimas do país.

▲ José Eduardo dos Santos esvaziou o conteúdo político e decisório das instituições
STEPHANE DE SAKUTIN
No centro deste sistema está o Presidente José Eduardo dos Santos, que não é apenas o chefe de Estado mas sobretudo o power broker do sistema, que preside a um vasto Estado paralelo, onde impera a confusão de interesses privados e públicos. Mas isto também pode tornar o regime vulnerável quando se colocar a sério a transição na Presidência. Até que ponto isto é uma questão que já está condicionar a política angolana?
O Presidente José Eduardo dos Santos (JES) é tão importante quanto as pessoas julgam que ele é. É alguém que pode ocasionalmente delegar autoridade a tecnocratas, mas, em última instância, é ele que toma as decisões. E não é raro, na trajetória do Estado angolano desde que JES chegou ao poder, haver um ministério que parece que se está a institucionalizar, a adquirir um mandato político convencional, mas esse poder está sempre sujeito a ser retirado por JES quando a utilidade política de tal exercício se esgota. E nesse sentido a saída de cena de JES vai ser tão traumática quanto se esperaria. A centralidade que ele adquiriu ao longo dos anos tem aspectos positivos – num sector como o petróleo, por exemplo, conseguiu estabelecer uma unidade de objectivos e uma coerência grande. Mas em muitas outras áreas prevalecem os aspectos negativos, na medida em que ele esvaziou o conteúdo político e decisório das instituições.
Outro aspecto que tu também sublinhas positivamente na actuação de JES é o facto de ele ter evitado que algumas questões sempre latentes na sociedade angolana, nomeadamente as questões raciais, se tenham tornado armas do jogo político. Se ele sair de cena, o que poderá acontecer?
Dentro do próprio MPLA é frequente as pessoas queixarem-se de que há muitos mestiços aqui e ali
Sim, mas são problemas ele não está a resolver, está meramente a contê-los. Ele tem evitado a questão racial. Mas temos de ver até que ponto o MPLA quererá evitá-la, à luz do que foi o passado do partido nessa matéria. É no entanto uma questão avassaladora, muito discutida em privado; é o elefante na sala. Isso demonstra-se num discurso xenófobo que tem aflorado em relação à presença dos brancos, e nomeadamente dos portugueses, em Angola, mas mesmo dentro do próprio MPLA é frequente as pessoas queixarem-se de que há muitos mestiços aqui e ali. E é uma questão facilmente mobilizável. É um recurso político que está ali, pronto a ser usado por forças populistas.
Esta década de paz e reconstrução, embora tenha trazido melhorias palpáveis às pessoas comuns, deixa a impressão de ter sido uma oportunidade perdida. O livro apresenta um somatório impressionante de projetos ruinosos, esquemas fraudulentos, elefantes brancos, de onde resultou uma dissipação colossal de recursos. Por outro lado, a economia diversificou-se muito pouco – permanece altamente dependente das indústrias extractivas e negligenciou a qualificação das pessoas.
Houve melhorias de nota em Angola, se compararmos o país destruído de 2002 a realidade de 2015, o que não e surpreendente: Angola recebeu mais de 400 mil milhões de dólares em receitas petrolíferas desde o fim da guerra. As duas dimensões mais bem-sucedidas serão a reconstrução de infraestruturas e a estabilização da economia angolana. Mas de forma mais lata, os benefícios da reconstrução foram escassos e muito restritos a certas regiões e classes sociais.
É perfeitamente legítimo que comparemos o registo de realizações desse Estado às promessas que ele mesmo fez. E aqui os resultados são decepcionantes
Há aqui várias dimensões. Enquanto académico, tentei fazer uma avaliação holística e, desse ponto de vista, por exemplo, se um consultor português passa seis meses em Angola e regressa rico, para ele a reconstrução do país foi um sucesso. Mas se introduzirmos outros elementos, e nomeadamente as condições de vida de 90% da população, que não faz parte nem da elite, nem da classe média urbana, nem dos expatriados que têm beneficiado da reconstrução, então a visão é bem mais decepcionante.
No meu livro, não tentei avaliar Angola segundo padrões irrealistas e demasiado exigentes, que não tomam em conta a história trágica do país. Mas Angola está-se a dar mal de acordo com os parâmetros delineados pelo próprio governo e pelas promessas que fez aos angolanos desde 2002, em termos de criação de emprego, saneamento básico, electrificação, combate à pobreza, saúde pública, qualidade de ensino, habitação, etc. Em todas estas áreas, e no contexto do boom petrolífero, o governo fez promessas muito concretas, não só em termos eleitorais, mas também quotidianamente. É o Estado angolano que se projeta enquanto Estado híper-desenvolvimentista. Por conseguinte, é perfeitamente legítimo que comparemos o registo de realizações desse Estado às promessas que ele mesmo fez. E aqui os resultados são decepcionantes.

▲ Um país demasiado dependente da cotação do petróleo
AFP/Getty Images
Dedicas também um capítulo inteiro à inserção internacional de Angola. Mais uma vez, a elite parece ter sido até agora bem-sucedida, diversificando alianças e parcerias, mas é difícil evitar a impressão de que tudo isso assenta em bases precárias, porque demasiado dependentes do preço do petróleo.
Nesse capítulo tento fazer duas coisas. A primeira é dizer que se Angola não se emancipou das estruturas internacionais, pelo menos criou um espaço muito mais confortável para si mesma nos últimos 10 anos. A questão seguinte é a de procurar saber ao serviço de que agenda foi esse espaço conquistado. E o resto do livro responde à questão dizendo que é uma agenda em que os benefícios focam uma parcela diminuta da população angolana.
Mas não há dúvida que, se nós nos abstrairmos dessa questão e pensarmos apenas em termos de relações internacionais, temos em Angola um caso excepcional de um país que durante anos foi invadido, que esteve internacionalmente cercado até 2002 devido às questões da corrupção e do desaparecimento de fundos petrolíferos, era quase um pária internacional no Ocidente, e na última década tudo isso ficou para traz.
O segundo ponto que eu enfatizo é que as elites angolanas estão inebriadas com esse sucesso. Pensam que passaram para a primeira divisão e que as estruturas de desigualdade da economia mundial, que historicamente colocaram Angola numa situação frágil e dependente, foram transcendidas. Isso é uma avaliação errada, porque menospreza até que ponto a situação relativa de Angola na última década existiu em função do preço do petróleo, e subestima os problemas que vão resultar da mudança dessa conjuntura internacional.
Em Angola, mesmo esquecendo o programa de investimento público, que é enorme e custoso, essencialmente na construção civil, só a despesa recorrente do Estado aumentou exponencialmente nos últimos 10 anos. Ou seja, só para manter o Estado a funcionar, Angola precisa de recursos a um nível que não tem nada a ver com aquilo de que necessitava em 2002. Um decisor angolano contou-me que se há 12 ou 13 anos lhes tivessem dito que o petróleo poderia estar a 35 ou 40 dólares, isso seria um sonho quase inimaginável. Hoje em dia, disse-me ele, se o petróleo desce abaixo dos 60 dólares, tudo está em jogo. Noventa e cinco por cento das exportações de Angola vêm do petróleo. E uma parte muito considerável das receitas do Estado vem daí. A base fiscal não-petrolífera é negligenciável. Para o funcionamento quotidiano do Estado, começamos a entrar na zona de perigo. Houve uma tendência, nos últimos anos, para dizer que nem tudo em Angola era atividade petrolífera, mas essa atividade não-petrolífera, que de facto cresceu nos últimos anos, na verdade tem como base, paradoxalmente, a saúde macro-económica do sector petrolífero.
Há anos que és um observador atento das relações bilaterais Portugal-Angola, e numa perspectiva crítica em relação à forma como as elites portuguesas gerem este dossier. Nos últimos anos, os termos desta relação parecem ser largamente ditados por Luanda. Estamos perante uma situação de neo-colonialismo em sentido contrário?
As elites angolanas agem de forma racional e exploram pragmaticamente as oportunidades que encontram. Nesse sentido, há que pensar a influência de Angola em Portugal em continuidade com a grande influência construída na última década por governos e oligarcas de países ricos em recursos naturais – Rússia, Qatar, Emirados, Arabia Saudita- em Londres, Paris e outras grandes capitais ocidentais.
Os reguladores não submeteram ao escrutínio que se exigia as transferências de dinheiro de investidores angolanos (como possivelmente outros investidores internacionais) para Portugal
Dito isto, não há nada de natural no grau de absoluta assimetria, e ausência de real reciprocidade, que caracteriza esta relação. Nada disto é uma consequência inelutável da crise económica, da fraqueza de Portugal. Aqui eu enfatizaria as escolhas feitas pelas elites portuguesas nos últimos oito anos. Não estou apenas a falar de uma hipotética decisão estratégica de aceitar Angola de forma pouco crítica ou de construir uma relação baseada em relações personalizadas com as elites, e não com a população angolana de uma forma mais alargada. Estou a falar de dezenas e dezenas de pequenas ações e não-ações – e eu sublinharia estas. Por exemplo, o facto de os reguladores não terem submetido ao escrutínio que se exigia as transferências de dinheiro de investidores angolanos (como possivelmente outros investidores internacionais) para Portugal.
Por conseguinte, interessa-me a instrumentalidade para os interesses angolanos da praça portuguesa, mas sem negligenciar o papel ativo desempenhado pelos portugueses no estabelecimento dessa relação, e porque é que se chegou onde chegou.

▲ Álvaro Sobrinho no Parlamento: o caso BESA ilustra bem o tipo de relações que muitas empresas têm com Angola
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Possivelmente não faz muito sentido falar de um complexo de culpa colonial, porque houve momentos nesta relação de 40 anos em que os governos portugueses tiveram uma postura muito mais afirmativa – caso da questão do perdão à dívida angolana nos anos 1990, por exemplo. Agora parece haver uma atitude já não de deferência, mas até de submissão…
Esta relação, tal como está formatada atualmente, desprestigia Portugal. O neocolonialismo talvez seja uma analogia imperfeita para fazer sentido desta relação. Mas o facto da conversa do neocolonialismo angolano em Portugal estar banalizada no estrangeiro é desprestigiante em si mesmo. Eu não penso que isto tenha a ver com qualquer ingenuidade ou sentido de culpa. Portugal tolera esta relação assimétrica porque uma parte da elite portuguesa, pelo menos a curto e médio prazo, tem beneficiado dela. Mas revela uma miopia extrema ao pensar que a relação será lucrativa a longo prazo.
O caso BES é uma ilustração perfeita disto. Se se tecem relações com uma sociedade instável e imprevisível, em que o poder decisório está tão concentrado e personalizado, como em Angola, a ideia de que se está a construir uma relação que pode ser desigual, mas é estável e lucrativa a longo prazo, é desmentida pelo caso Espírito Santo.
O Presidente de Angola deu uma garantia soberana ao BESA e depois retirou-a. Obviamente que não podemos reduzir a crise do BES à dimensão angolana. O ponto crucial é que o que acontece em Angola não é algo que esteja fechado numa caixinha, e que beneficie uns poucos, mas consegue ser mantido em quarentena relativamente a outras esferas da vida política e económica portuguesa. Em parte devido à dimensão que a presença angolana adquiriu em Portugal, essa presença hoje em dia é co-substancial à vida pública do país. Nas empresas, nos partidos, nos escritórios de advocacia, etc., etc. Já não é uma presença que se consiga distinguir qualitativamente do resto da vida pública.
Dizia-se que as empresas angolanas se iriam tornar mais sofisticadas com base na interação com o sector privado português. Na verdade, foi o sector privado português que se angolanizou.
E nisso há um elemento de ironia. Algumas das visões mais optimistas, ou mais interesseiras, que em 2006-07, quando esta dinâmica se começou a manifestar, afirmavam que estas parcerias eram uma contribuição portuguesa para a “modernização” da vida empresarial angolana. Que as empresas angolanas se iriam tornar mais sofisticadas com base na interação com o sector privado português. Na verdade, foi o sector privado português que se angolanizou. Longe de se ter levado para Angola dinâmicas “virtuosas”, o que temos é um processo de importação de práticas e poderes angolanos para o centro da vida portuguesa.
A elite angolana adquiriu, durante alguns anos, a noção de que Portugal era um espaço de impunidade.
A elite angolana adquiriu, durante alguns anos, a noção de que Portugal era um espaço de impunidade. Obviamente que esta relação sui generis começou a receber muito escrutínio, tanto da parte de intelectuais públicos e ativistas angolanos que criticam a proximidade de alguns interesses portugueses ao poder angolano, como da parte de jornalistas, colunistas, ativistas e investigadores portugueses que, especialmente desde 2012, tem feito revelações importantes sobre o mundo turvo da relação luso-angolana. E vão continuar a fazê-lo. Penso que estamos num momento de grande fluidez, e que os parâmetros atuais da relação não são sustentáveis a longo prazo.
Havia alguma alternativa à estratégia de internacionalização da economia portuguesa que foi seguida nos últimos anos, muito orientada para mercados como o angolano, o venezuelano, o líbio, e por aí fora? Ou agora, em retrospectiva, é fácil descobrir os pontos fracos dessa estratégia?
As características desses mercados eram visíveis há 10-15 anos atrás. São mercados pouco exigentes, altamente politizados, em que sectores inteiros estão monopolizados ou cartelizados, que nunca poderão ter um efeito disciplinador ou de melhoria de competitividade das empresas portuguesas. São mercados em que alguém faça uma boa estrada ou uma má estrada, vai sempre receber um contrato porque conhece alguém na presidência. São mercados onde os custos podem disparar, porque o pagamento vem de um saco azul e se calhar até há um ministro que quer que os custos disparem para poder extrair disso o maior benefício possível. Estou a dar exemplos genéricos que não se aplicam só a um país específico, mas a muitos mercados do mundo em desenvolvimento.
Penso que a escolha de priorizar os mercados lusófonos revelou uma falta de imaginação confrangedora por parte de alguns políticos e empresários que não hesitaram em vender aos portugueses a imagem de Angola como um El Dorado. São pessoas que tem alguma responsabilidade no que diz respeito as oportunidades que Portugal não explorou, nomeadamente na Ásia, em mercados genuinamente competitivos, em que havia oportunidades para as empresas portuguesas. Estas oportunidades poderiam ter sido trabalhadas, mas isso teria requerido mais sentido de Estado, mais visão, mais investimento de conhecimento…

▲ A destruição da velha Luanda e a construção de uma espécie de Dubai angolano não tem precedentes
BRUNO FONSECA/LUSA
Queria deixar clara uma coisa: Angola é obviamente um mercado muito apetecível, onde vale a pena investir e explorar a vantagem comparativa de Portugal, que é o produto de uma história comum. Claro que sim. Agora, uma estratégia correta é, a meu ver, uma estratégia que coloca Angola e todas as oportunidades que esta proporcionou na última década num quadro global em que os portugueses não se tornam demasiado dependentes de um mercado específico, em que diversificam a sua internacionalização e evitam pôr os ovos todos no mesmo cesto.
E teríamos alguns instrumentos de soft power, digamos assim, para equilibrar esta relação?
Há cerca de dez anos, Portugal tinha espaço de manobra para influenciar esta relação, mesmo que muitas das suas patologias remontem ao período em que se reconfigura o relacionamento pós-colonial, no termo da Guerra Fria. Portugal sempre teve uma atitude bicéfala em relação aos estados no espaço lusófono: mitologia lusófona e cold hard cash. Logo nessa altura isso distanciou Portugal da visão talvez mais hipócrita dos países do norte da Europa, que ao mesmo tempo que tinham interesses comerciais em África, também iam colocando algumas questões de governação e de direitos humanos. Isto é a filosofia subjacente das relações bilaterais que vai definir tudo o resto. Já existiam as estruturas permissivas que iriam fragilizar Portugal quando o seu poder relativo diminuiu.
Mas há dez anos o que era Portugal? Era um país europeu, moderadamente próspero, com alguma influência e uma reputação internacional diferente da que tinha tido entre, digamos, as décadas 1950 e 1980. Portugal, enquanto Estado na esfera internacional, estava no momento mais prestigiante da sua trajetória recente. Angola representava uma fatia diminuta do seu volume de trocas. Pelo que é importante ver os passos específicos que foram dados, especialmente a partir de 2006-07, e que viabilizaram estratégias de negociação maximalistas que às vezes os decisores angolanos trouxeram para a mesa, pensando que iam sair dali com um compromisso, para depois os portugueses lhes entregarem tudo.
O caso da CPLP e da Guiné Equatorial, por exemplo, era um caso em que Angola e Portugal tinham visões diferentes e em que Portugal acabou por aceitar a visão angolana.
Continuo a achar, porém, que Portugal pode fincar pé em muitos contextos, e estabelecer uma relação forte e perene com Angola que transcende as amizades estreitas e personalizadas (e, a longo prazo, insustentáveis) com a elite, em favor de uma relação robusta com a população angolana. Portugal tem mais espaço de manobra do que pensa nesta relação.
O caso da CPLP e da Guiné Equatorial, por exemplo, era um caso em que Angola e Portugal tinham visões diferentes e em que Portugal acabou por aceitar a visão angolana. Portugal devia ter-se mantido fiel à visão inicial, que era a correta, e não me parece que as consequências negativas fossem enormes. Por outro lado, os decisores angolanos são orgulhosos e, tendo-se habituado a uma postura altamente tolerante da parte portuguesa, é provável que reajam de forma brutal a qualquer atitude menos conciliadora por parte de Portugal.
A ironia é que as mesmas pessoas que fizeram as escolhas que levaram a relação Portugal-Angola ao seu estado atual são as mesmas pessoas que agora dizem que esta relação assimétrica é um facto incontornável das relações internacionais de Portugal, e não um produto das escolhas que eles mesmos fizeram.

▲ A juventude urbana dos musseques tem ambições de consumo e já não a memória da guerra
BRUNO FONSECA/LUSA
Na conclusão, dizes que o dividendo da paz chegou ao fim e que a sociedade angolana está “ruidosamente a dar sinais de vida”. Em termos domésticos, quem poderá protagonizar os principais desafios ao status quo?
Antes de responder a isso, convinha fazer aqui um ponto prévio. Depois de 41 anos de guerra, e de 27 anos de guerra civil brutal, que terá morto quase um milhão de pessoas, os angolanos estavam exaustos. A maior parte deles não tinha conhecido outra realidade que não a da guerra. Estavam não só exaustos, como felizes por estarem vivos. E em todas as sociedades onde isso acontece, o grau de desmobilização social e política, no período imediatamente a seguir à guerra, é assinalável. A especificidade angolana no contexto subsaariano prende-se com a circunstância da vitória hegemónica do MPLA. E durante os dez anos seguintes, o MPLA conseguiu ser o único ator consequente no moldar da sociedade angolana.
Aquilo que aconteceu nos últimos três anos em Angola era aquilo que deveria acontecer mais tarde ou mais cedo, uma diluição do espaço de poder discricionário do MPLA.
Ora, este grau de hegemonia e de capacidade de intervenção sobre a sociedade é raríssimo, e não é sustentável a longo prazo. Nesse sentido, aquilo que aconteceu nos últimos três anos em Angola era aquilo que deveria acontecer mais tarde ou mais cedo, uma diluição do espaço de poder discricionário do MPLA. O que é que aconteceu nos últimos anos? Há três dimensões importantes de enfatizar aqui.
A primeira tem a ver com a demografia de Angola: hoje em dia, talvez 70% dos angolanos tem menos de 25 anos de idade. Para estas pessoas jovens, a guerra que terminou em 2002 é algo de tão remoto quanto a II Guerra Mundial para um europeu da minha geração. O passado é um país distante. E as exigências que eles fazem em relação ao poder político hoje não são baseadas numa comparação implicitamente positiva entre a vida que tinham durante a guerra e a vida que têm no presente, mas numa comparação explicitamente negativa entre a vida que têm agora e a vida que desejariam ter. Especialmente a juventude urbana dos musseques, que hoje em dia é bombardeada por uma cultura consumista global, muito brasileira, de consumo, de luxo, à qual não tem acesso absolutamente nenhum.
Mas sentem-na muito próxima.
Sentem-na fisicamente próxima, e em parte porque acho que há uma grande diferença na postura social dos ricos em Angola. Até há 10 anos, uma pessoa que não vivesse no centro de Luanda não via os ricos. A televisão era má, “soviética”, e os ricos viviam em Lisboa, ou entre Lisboa, Luanda e o Mussulo. Hoje em dia há uma televisão que chega a muitas partes do país, e há uma cultura pública do luxo e da ostentação, visível por exemplo nas telenovelas angolanas, que são decalcadas das brasileiras. Há uma latino-americanização de Angola, que passou de um país principalmente pobre a um país com as divisões sociais típicas daquela região. São sociedades que têm muitos pobres, mas também uma classe relativamente alargada com privilégios e uma cultura material bastante mais próspera. E isso está a testar, seriamente, a legitimidade do status quo.
O segundo desafio que se começa a tornar urgente é questão da sucessão do Presidente. Não há dúvida nenhuma que este sistema da paz é o produto das decisões do Presidente e do seu poder discricionário. Ora esse sistema, nos seus próprios termos, até tem aspectos bem-sucedidos, já falámos disso, mas também outros altamente dependentes de uma conjuntura que dificilmente conseguirá prevalecer sem JES lá estar. Isto é uma dimensão que vai dar turbulência ao país nos próximos anos.
Como é que a governação quotidiana de Angola vai ocorrer num contexto sem instituições, habituado a uma concentração do poder político na Presidência fora do vulgar?
Eu diria mais. Essa turbulência não tem apenas a ver com saber quem é que vai para lá a seguir. Eu consigo conceber uma transição inicialmente bem-sucedida, porque, no início, os oligarcas angolanos, as pessoas poderosas no MPLA, agirão racionalmente, ou seja, terão todo o interesse em viabilizar essa transição. Agora, o que está em jogo é algo mais vasto. Esse será o primeiro dia do resto da vida de Angola. Como é que a governação quotidiana de Angola vai ocorrer num contexto sem instituições, habituado a uma concentração do poder político na Presidência fora do vulgar? Como é que as forças sociais que hoje em dia são prósperas mas não poderosas, como os barões do MPLA e as forças armadas, pessoas que o sistema enriqueceu mas às quais não deu poder, vão reagir? Essas pessoas já são ricas, agora vão querer o poder que não têm, o poder de JES. E não vão permitir a um principiante qualquer sentar-se, de um dia para o outro, na cadeira de JES e reclamar para essa cadeira o poder que JES durante 36 anos acumulou.
A terceira questão com que o regime terá de lidar é a diversificação da economia. O governo de Angola, como muitos governos que são beneficiários de um boom petrolífero, tem uma linguagem inequivocamente desenvolvimentista e de diversificação da economia, mas em ambas estas dimensões os resultados da última década são fracos. Agora que estamos a entrar numa conjuntura de preços baixos estas questões vão adquirir uma urgência muito grande.