Título: “A Imagem Paradoxal. Francisco Afonso Chaves (1957-1926)”
Autores: “Victor dos Reis e Emília Tavares”
Editora: Direcção-Geral do Património Cultural
Páginas: 25€
Preço: 18 euros
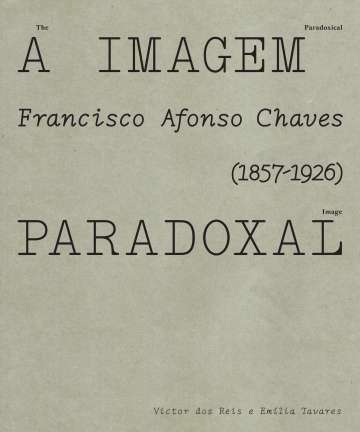
Durante meio século depositado nos armazéns do principal museu de Ponta Delgada (que ele ajudou a formar) sem que ninguém topasse no seu valor excepcional e chamasse para conhecê-lo quem então se ocupava da história da fotografia portuguesa, o extenso espólio de fotografias estereoscópicas do naturalista Francisco Afonso Chaves – algo como 10 000 espécimens — fascina a justo título quem mais notoriamente entre nós faz da “crítica da fotografia e da imagem” (sic) o seu ofício, beneficiando de estatuto académico ou de respaldo museológico privilegiado que lhe permite realizar pesquisas historiográficas publicamente financiadas mas que no entanto ganham contornos quase privados, como se de domínios exclusivos, ou monopólios até, se tratasse, quando haveriam de ser desenvolvidas em circuitos abertos a um maior — e desse modo mais abrangente e consequente — número de pesquisadores, em contexto multidisciplinar.
Não é apenas obtuso o facto de a investigação sobre fotografia portuguesa dos tempos idos estar confinada à reserva e domínio de um reduzidíssimo número de protagonistas. É também obtuso que a linguagem sobre esse cativante e primordial assunto fique inquinada por discursos estéticos ou metodologias arquivísticas e expositivas que tudo comprimem a um circuito fechado, enfraquecendo o efeito da descoberta desses espólios ignorados e a plena fruição, pelo maior número, dos materiais mostrados em exposições ou registados em livro.
De acordo com esta escola ou doutrina, uma imagem fotográfica deixou de ser um documento, para ser vista em si mesma, tornando dramaticamente irrelevante, por exemplo, saber-se quem são as pessoas ali retratadas e o que faziam naquele instante, da mesma maneira que o motivo de uma fotografia — de qualquer fotografia — passa a descender em linha recta (e em regime pretensamente erudito ou culto) duma cronologia da arte afinal fixada bastante a posteriori, em vez de se fundar tão-só na personalidade ou interesses do seu autor e do que a circunstância lhe ditou.

Outra consequência desta tão particular abordagem é que a ampla moldura histórica que importaria conferir-lhe fica quase reduzida à diacronia e especificidade dos equipamentos utilizados ou à estilística mais ou menos canónica, ou mais ou menos revolucionária, dos enquadramentos escolhidos. Por exemplo, numa série de fotografias relativas à visita do príncipe Alberto do Mónaco aos Açores, em 1904, o que se destaca — desse ponto de vista — não é o impacto local dessa expedição, o confronto estético com outras fotoreportagens do mesmo dia, a especial simpatia de fotógrafo e fotografado ou o tão precursor reconhecimento do arquipélago como epicentro da melhor oceanografia europeia, mas o facto de uma dessas imagens registar, lado a lado, num palanque, o transbordo tecnológico entre pintura e fotografia (v. cat. 264, p. 174)…
“Focador de paisagens ilhoas”
A figura de Francisco Afonso Chaves é das mais sugestivas da rica e talentosa gente açórica de inícios do século passado, uma pléiade hoje praticamente ignorada, ostracizada ou diluída, e podemos até dizer que rivaliza com a dum outro açoriano de excelência, Vitorino Nemésio (1903-78), certamente o mais conhecido de todos. Aliás, nem Victor dos Reis nem Emília Tavares ou Conceição Tavares e Margarida Medeiros tiveram esse gesto essencial dos historiadores que é ir ler os jornais da época, pois teriam descoberto o que o autor de Festa Redonda e de Mau Tempo no Canal escreveu no Correio dos Açores de 14 de Agosto de 1927, por ocasião do lançamento da primeira pedra de um monumento em homenagem ao coronel Chaves, como era chamado.
O escritor então com 25 anos admitia nunca ter conhecido o falecido, embora o tivesse visto “à distância conveniente a que se contempla uma estátua de que nos dizem Veja. Ali tem o menino uma das glórias pátrias”. E reconhecendo nele “um exemplar consumado das virtudes ilhoas mais vivas, as que estão na base do espírito cosmopolita, sete-partidas que desde a fase colonial dos Açores se ilustra e espalha por esse mundo de Cristo”, Nemésio refere-se também — de uma forma muito elíptica, é certo, mas creio que pela primeira vez — à sua actividade de fotógrafo, quando o apresenta como “focador de paisagens ilhoas”, além de “um pouco humanista e historiógrafo, amador de bons livros e etnógrafo”.
Em Outubro de 1935, José Agostinho (1888-1978) — colaborador longevo, maior discípulo e continuador de Francisco, e um dos fundadores da Sociedade Afonso Chaves em 1932 (também omisso na bibliografia deste livro) — descorreu no Ateneu Comercial de Ponta Delgada sobre a vida e a acção do coronel, para detalhar, além da filantropia e da frugalidade, a generosa e abundante cooperação científica com correspondentes e instituições europeias da sua especialidade, a quem oferecia fotografias das paisagens açorianas, sem todavia se aperceber — embora estivesse em excelente posição para isso — da importância desse portefólio que sequer revistas de história e cultura regionais como Açoreana e Insulana vieram dar a conhecer desde então, embora o tenham feito para muitos escritos do seu patrono. Aliás, Agostinho — que julgo reconhecer em fotografias da p. 89, embora aí não seja identificado como tal — passa inteiramente distraído, quando diz que Chaves “foi dos primeiros a possuir ou introduzir nos seus serviços o fonógrafo, a máquina de escrever, a máquina de calcular, o aparelho rádio”, mas não refere a fotografia.
Outra figura de relevo na vida do arquipélago, o Padre Ernesto Ferreira, escrevendo longamente em Agosto de 1936 (Açoreana, n.º 3, pp. 135-46) sobre o coronel enquanto naturalista, tão-pouco esclarece quanto o autor de Bibliografia Zoológica dos Açores (Imprensa Nacional, 1906) havia colocado a fotografia estereoscópica ao serviço do seu “labor inteligente e aturado”. E sequer em 1957, aquando de comemorações do centenário do nascimento que mobilizaram de forma especial várias instituições regionais, a fotografia de Afonso Chaves foi dada a conhecer.
Por isso se poderá dizer que paradoxal, verdadeiramente paradoxal em tudo isto é que, como algures reconheceu Victor dos Reis, tenha sido uma investigação patrocinada pelas comemorações do centenário da república a trazer a claro — e de forma casual — a singular obra fotográfica deste colaborador e amigo pessoal de D. Carlos (“le notre Roi”, como escreve certa vez a Alberto I), também ele fotógrafo de fôlego, com mais de 3000 imagens, uma pequeníssima amostra das quais recentemente vista.
Ainda que nenhumas datações explícitas fixem o exacto início da obra de Chaves como fotógrafo estereoscópico, ela afirma-se precisamente com a visita régia aos Açores em 1901, cuja apoteose em movimento pelo porto e ruas de Angra do Heroísmo o naturalista registou, carregando a sua máquina fotográfica sobre pesado tripé de madeira de teodolito (v. p. 84). Três anos mais tarde, faria idêntica fotoreportagem aquando do desembarque em Ponta Delgada de um outro especial amigo, o príncipe Alberto I do Mónaco (1848-1922), que fizera daquelas ilhas atlânticas a base das suas campanhas oceanográficas. E no verão de 1924 acompanhou a célebre missão dos continentais aos Açores, fotografando-os junto à sepultura de Antero de Quental, então homenageado por palestras e um monumento desenhado pelo escultor Teixeira Lopes, cuja distinta figura barbuda facilmente seria reconhecível pelos curadores caso o contexto da imagem tivesse sido inquirido (a legenda é um lacónico “grupo de pessoas no cemitério”; cat. 7, 9, p. 19).
O cientista, meteorologista e tudo
Mas ainda que a fotografia de vocação científica e as paisagens das ilhas atlânticas sejam, naturalmente, os vectores principais, como resultante do seu périplo como director dos serviços meteorológicos regionais, o registo de viagens a capitais europeias ou, noutros campos, pelo sertão africano ou de grandes monumentos do nosso país, também interessaram Francisco Afonso Chaves como fotógrafo. Para um ilhéu, a vida a bordo de navios tinha de ser motivo de muitas fotografias (pp. 27, 103, 106, 112, 178, 188, 189, 192, 198), como também desembarques em praias pedregosas (p. 188) ou em cais de madeira (Mazagão, p. 117), remadores em botes ou canoas (p. 121, 98) ou trabalhos científicos (p. 37, 38), como a bela ascensão de papagaios meteorológicos das pp. 190-91.
O cientista geralmente focado nas extensas massas pétreas que emergem do mar atlântico também admira as grandes e sublimes construções humanas em pedra — as cúpulas da catedral de Milão e da sé de Évora (p. 119), a catedral de Reims (p. 109), o coliseu de Pozzuoli (p. 123), o fórum romano e a praça de São Pedro, em Roma (p. 180), a de São Marcos em Veneza (p. 123), a Grand-Place de Bruxelas (p. 183), e naturalmente o nosso mosteiro da Batalha (p. 99) — ou em ferro, principal prodígio do seu tempo: ponte Forth na Escócia (p. 152), roda gigante em Londres (p. 155) e torre Eiffel em Paris (p. 151).
Particularmente ilustrativas duma consciência pró-activa em favor de uma cultura científica são as fotografias tiradas em grandes museus de história natural, como os de Londres (pp. 57, 58) e Madrid (p. 54), como aliás à vasta colecção particular do rei D. Carlos no Palácio das Necessidades em 1904 (pp. 56, 58) e, inevitavelmente, às salas do Museu Carlos Machado dedicadas à etnografia africana, com alfaias marítimas e também esqueletos de grandes cetáceos (p. 49-51). Pena é que o interesse de Francisco Afonso Chaves pelo quadro Círiaco de Joaquim Leonardo da Rocha (c. 1787, fotografia na p. 54), representando um célebre — e por vários retratado — jovem negro afectado por uma despigmentação da pele, não tenha sido objecto de comentário específico nesta publicação.
O curador Victor dos Reis destaca neste fotógrafo uma “consciência visual notável e assombrosamente moderna”, e, quanto à tecnologia, “um projecto visual único, tanto no contexto português, como em termos internacionais”, mas Margarida Medeiros já havia ido mais longe, classificando-a como “uma das mais originais e poderosas obras da história da imagem moderna em Portugal”. Tomara que depois das exposições em Lisboa e Ponta Delgada, que este livro-catálogo testemunha, a visibilidade internacional do trabalho de Francisco Afonso Chaves se torne uma série tarefa séria da nossa diplomacia cultural.
Sete anos depois de ter sido descoberta, exposta e comentada pela primeira vez, a obra fotográfica do coronel Chaves espera ainda a anunciada digitalização integral e respectiva colocação em linha, a cargo do Museu Carlos Machado, de São Miguel (uma pequena parte dela continua com os seus herdeiros). Só então se poderá avaliar publicamente a riqueza desse material, sem dúvida da maior relevância para os Açores. Pessoalmente, acredito que daí virão boas surpresas, como a de ele ter fotografado Raul Brandão aquando da sua viagem exploratória para As Ilhas Desconhecidas, de 1927.
Dado como “anfitrião fotógrafo”, como fez com cientistas marinhos ou geológicos em visita às ilhas, Francisco conheceu Raul, que aliás, numa das suas raras notas de rodapé, cita profusamente um dos seus trabalhos etnográficos, e informou-o por carta sobre migrações de aves e outros temas. (Chaves escreveu mesmo de Paris, a Raul Brandão, avisando-o de que em breve passaria por Guimarães, e propunha-se visitá-lo na Casa do Alto.) Devido ao foco metodológico referido no início, e exemplificado pelo caso Teixeira Lopes, um tal lapso é razoavelmente previsível. Mas vamos sempre a tempo de repará-lo…





















