Titulo: Instinto
Autora: Ashley Audrain
Editora: Suma de Letras
Páginas: 338
Preço: 18,80€
Publicado em simultâneo em 30 países, Instinto, de Ashley Audrain, chegou a Portugal pela mão da Suma de Letras. Desconcertante, assim que começa, destrói. Como uma bola de demolição que faz explodir paredes, intui-se desde o início que ao leitor não restará neurónio em cima de neurónio.
Na narrativa, há uma família que se forma e auto-destrói. A premissa de que parte é a de uma expectativa não cumprida: será obrigatório amar-se os filhos? Partindo-se deste desconcerto, não há respostas claras, apesar de haver só uma versão.
Audrain começou a escrever o livro durante a gravidez e a estadia no hospital junto ao seu filho recém-nascido, que esteve às portas da morte. O cerne do romance não é pastiche da sua vida, mas o livro desmistifica a idealização – a romantização – da maternidade. O âmago que explora é denso e negro. Todas as dúvidas são doridas, as certezas são desconfortáveis.
Partindo da idealização da maternidade (“Todos nós esperamos ter, casar com, ser boas mães”, p. 17), do que se espera de uma mãe, da única hipótese de mãe possível – a amante incondicional, a apaixonada pelos filhos, a auto-relegada para segundo ou terceiro plano em prol deles –, a autora, em entrevistas, já salientou que, quando se põe um filho no mundo, não se sabe quem está lá. Não se sabe quem vai ser. E, portanto, abordar a quebra da expectativa do amor maternal incondicional – que é global – passa por trazer, literalmente preto no branco, um tabu escancarado para a literatura. E será esse o papel desta arte: enfrentar os cornos da vida, pegar neles, escarafunchar o desconforto, permitir que o desconforto se alastre, não ter medo de encarar ou apanhar traumas, ir ao âmago mais profundo da psicologia humana, pôr os pés noutros sapatos. A literatura, assim, permite-se imiscuir-se em terreno proibido pela vida. Enfrentar tabus é isso mesmo e esse é o seu grande triunfo: entrar em lugares secretos, expo-los, dá-los, ser outras cabeças, ampliar as cabeças dos leitores ao dar-lhes mais mundo de bandeja.
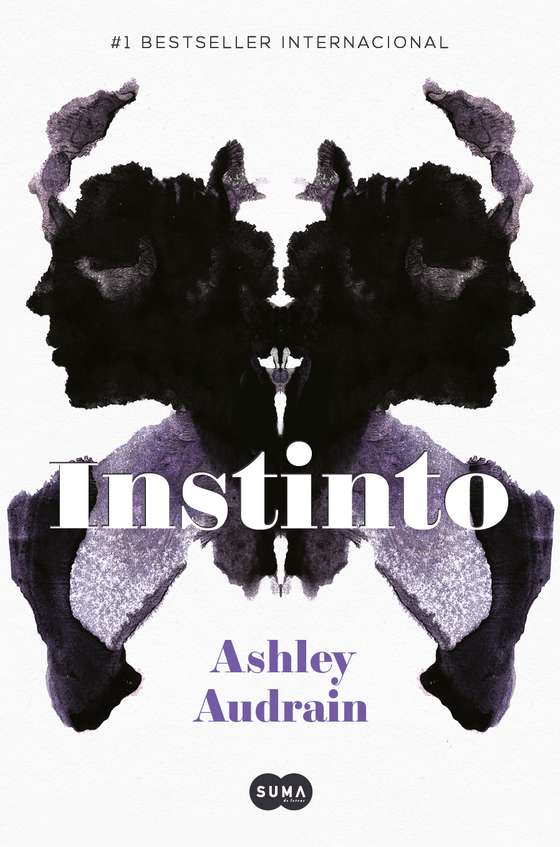
A capa da edição portuguesa de “Instinto” (“The Push”, no original; Suma de Letras)
Assim, Ashley Audrain põe-nos dentro de uma cabeça (Blythe) que não quis ter aquela filha (Violet). Ao fim de algum tempo, admite-o para si própria, já que a aversão é por demais evidente, tornando-se claro o asco que a presença da filha provoca, assim como o seu próprio desconforto, que também se torna em asco, por ser mãe dela. Incapaz de se desfazer dessa carga – a responsabilidade do nascimento de Violet é sua, a da sua sobrevivência também –, não entende no início se é ela que não está talhada para ser mãe, se é a miúda que não merece amor.
Contra a ficcionalização do eu, assume-se alguém em bruto e que um dado adquirido é uma falácia – e até, ao longo da narrativa, que se põe em causa quem não aceita esse dado adquirido. A ideia da ficcionalização do eu passa aqui pela imagem que é suposto uma mãe dar e pela forma como alguém se mede pela sua capacidade maternal e não se aceita que não se possa tê-la de forma inata. Entende-se, já que à maternidade está associada a necessidade biológica de cuidar. Assim, a imagem exterior deve ser a da paz, a da melhor profissão do mundo, a do amor incondicional, a do mundo cor-de-rosa da imagem fabricada em que se mostra o que é bom, fácil, invejável. No romance, subjacente à pressão de dar a imagem certa, estão mil dúvidas que deixam a narradora em xeque, que a fazem duvidar de si. E, ao expo-las, fazem com que os outros também duvidem dela. Mas até que ponto se pode filtrar, simular, fingir? Há uma hora em que Blythe tem de perceber a origem do problema. Será ela interiormente incapaz de amar a filha, de ser mãe para além de genitora?
Em cima da mesa do romance, está o tabu: uma mãe pode arrepender-se de ter um filho. E pode alimentá-lo numa simbiose natural, ser o seu laço mais estreito à sobrevivência (e, antes disso, à sua formação biológica), e não ter nada para lhe dar do ponto de vista emocional. Pode olhar para um humano criado e ver só o que lá está, sem a magia da primeira vez, com o pragmatismo da existência.
Em simultâneo, pode ver o que lhe tira, e contra a idealização da maternidade aparece a realidade em bruto: as noites sem dormir, o sangue expelido do corpo, os mamilos gretados, a exigência de um bebé que chora e exige atenção absoluta, submissão absoluta. E, perante o que parece ser o mundo cor-de-rosa alheio, sem exceções, sente o abismo das suas dificuldades, que parecem atestar uma incapacidade, uma incompetência:
“Tinha a sensação de ser a única mãe no mundo incapaz de sobreviver. A única mãe que não conseguia ultrapassar a circunstância de ter o períneo suturado do ânus à vagina. A única mãe que não conseguia resistir à dor das gengivas de uma recém-nascida a cortarem-lhe os mamilos como lâminas. A única mãe que não conseguia fingir ser capaz de pôr o cérebro a trabalhar quando a insónia apertava. A única mãe que olhava para a filha e pensava: Desaparece-me daqui.” (p. 50)
No início, tudo parece encaminhado, não há nenhum tabu em debate. Blythe quer ser o estereótipo de mãe que não teve, quer ser veículo de amor incondicional. Quer, enfim, ser mais uma a cumprir a expectativa. E, logo no início, não só pensa no motivo pelo qual a filha, Violet, não lhe parece a melhor coisa que lhe acontece como ainda lhe parece que é ela que a impede de ser a mãe total, ao rejeitar-lhe o afeto. O problema, na sua forma de interpretar essa relação, é que mais ninguém a vê a rejeitá-la, e mais ninguém vê as violências e as maldades de que a acusa. No que parecem ser coisas próprias da idade numa criança, Blythe vê intenções e crueldade.
Tenta, ainda assim, cumprir o seu papel de mãe, mas, ao achar que a miúda rejeita o seu afeto, impede-se de lho dar. Volvidas algumas dezenas de páginas, não se percebe onde tudo começou, se o que diz da filha é uma interpretação sem propósito, se Blythe é a única a ver o impossível. É que ela olha para a miúda e intui que é nela que algo não está bem. A miúda, por seu lado, também sentirá que não leva da mãe a incondicionalidade maternal. Há um laço ali que não se forma. De quem é a culpa?
Ao mesmo tempo, a distância entre mãe e pai – esposa e marido – transforma-se num abismo. E Blythe ganha ressentimento à filha: “Quanto mais a Violet recebia de ti, menos me davas.” (p. 65). O marido, por sua vez, também se ressente ao sentir que a filha não é importante para a mãe. Aos poucos, perdem-se um do outro:
“Mas havia omissões subtis. Deixámos de fazer palavras cruzadas juntos. Já não deixavas a porta da casa de banho aberta quando tomavas banho. Passou a haver espaço onde dantes não havia, e esse espaço era ocupado por ressentimento.” (p. 65); “Querias que eu descansasse, para poder cumprir os meus deveres. Dantes, preocupavas-te comigo enquanto pessoa – com a minha felicidade, com as coisas que me permitiam florescer. Agora, era uma prestadora de serviços. Não me encaravas como mulher. Era apenas a mãe da tua filha.” (p. 67); “Atiraste-me uma toalha, com se estivéssemos a partilhar um balneário – costumavas secar-me o corpo devagar, costumava ser uma rotina nossa.” (p. 79).
Enquanto se perde a relação conjugal, não se ganha uma relação maternal. O abismo entre mãe e filha é evidente, as birras que a criança faz são vistas como vergonha: “Sentia-me humilhada – tinham pena de mim ou por ter dado à luz uma criança como a Violet ou por aparentar ser uma mãe demasiado fraca para conseguir aturá-la.” (p. 89). O desprezo e a descarada ausência de amor estão evidentes, e não se entende logo se Violet é uma criança difícil, se Blythe vê dificuldades na sua criancice. Mas o seu olhar destoa, algo ali não bate certo, mais ninguém vê o que não é suposto ver-se. Em todos os pequenos gestos, a mãe vê intenções da filha. Para o leitor, nada é claro: existirão mesmo?
O marido diz que ela imagina coisas e condena-a por ser capaz de julgá-las. É que, se ele fala da “rabugice própria de uma criança de colo” (p. 89), ela acha que o problema é não haver “a meiguice e o afeto próprio de outras crianças da sua idade” (p. 89). Blythe vinga-se como pode do desprezo que a filha lhe provoca, deixa-a chorar quando ela ainda não tem idade para contar, castiga-a pela sua presença. Enquanto trabalha, põe os auriculares e finge que a filha não existe. Violet, ao ter a mãe por perto de novo, reage esperneando e dando chapadas, e então já Blythe procura na Internet sinais precoces de distúrbios comportamentais ao mesmo tempo que não tem “vontade de ser mãe de uma criança dessas” (p. 90).
Ao pôr a filha em causa, o diagnóstico é claro: Blythe é uma má mãe. Durante o livro, questionamo-nos acerca da sanidade mental da narradora. Ainda por cima, com o nascimento do segundo filho, Sam, a mãe disciplicente é, afinal, mãe. Ama o filho, como expectável, mas odeia a filha em simultâneo. Com esta distância entre um e outro, teme que a segunda ponha o primeiro em causa – em perigo.
E a relação entre irmãos vai acontecendo ao mesmo tempo que a mãe vê intenções que talvez não estejam lá – e que vê ações, gestos, mãos, que talvez não estejam lá. Não se sabe. Não se apercebe se o que relata é o que acontece, se é reflexo do ódio à filha. Não se percebe se o livro é uma versão que justifique a falta de amor, que a isente da obrigação moral e humana de amar a sua criança. Não se percebe se apresenta a miúda como incapaz de ter empatia para justificar a sua falta de empatia. Se a filha for natural, intimamente, má pessoa, talvez não seja ela que é má mãe. E, quando a acusa e o marido a acusa de acusá-la, a sentença é clara: “O problema não sou eu.” (p. 111). Mas, claro, ninguém quer ouvir a possibilidade (e será que existe?) de o problema ser uma criança.
Estando na cabeça de Blythe, vendo o mundo através dela, o leitor consegue, ainda assim, vê-la de fora. Põe-na em causa, chega a conculsões diferentes. Percebe que o que vê não é o que lá está. E depois duvida, julga que afinal só viu o que ali estava.
Com Instinto, o leitor senta-se para ler sossegado e, sem saber como, está a permitir-se levar porrada. Permite que Ashley Audrain o espanque durante 338 páginas que são 338 socos. É porrada psicológica e emocional numa literatura que é combate, renúncia da fofura, realidade como humanidade.
O livro não só não dá nenhuma resposta como coloca mil perguntas, e a sua grande magia é a confusão que provoca. Não será possível lê-lo incólume, sem querer saber o passo seguinte e, acima de tudo, sem querer compreender os anteriores. Quem provocou quem? Quem odiou quem? O que parece inato é aprendido? Imaginar que não há amor provoca o desamor? Daí ao ódio, vão quantos centímetros? E tudo isto numa tensão que se aguenta com uma mão narrativa tão firme quanto ferro literalmente até à última palavra.

















