À prática da fotografia, bem como à da escrita, cabe bem associar o conceito de hospitalidade, cuja tradição filosófico-literária não é, de maneira nenhuma, aqui compreensível ou catalogável. Nem de resto nos interessaria enveredar por tal caminho. Mais proveitoso será seguir a hipótese de leitura a que Humberto Brito, fotógrafo e professor de literatura na New York University, convida em A Luz e a Escrita, uma edição Relógio D’Água, na análise de um conto literário, A Lenda de São João Hospitaleiro, de Gustave Flaubert, incluída na presente edição na tradução de Pedro Tamen, a par de excertos da correspondência, com tradução do próprio Humberto Brito, que o autor francês mantém com várias figuras do meio literário da época: Louise Colet, George Sand, entre outros.
Da hospitalidade — lembre-se a distinção do santo, São Julião Hospitaleiro, cuja hagiografia é aqui designativa — aprendemos com Derrida que é responsável pelo ajuste entre o movimento indeterminado do receber o outro e, embora não contrariamente, antes de modo ambivalente, a instituição de um conjunto de leis, termos e condições sobre a mesma recepção, o que marca uma aporia ou justamente o regime da ambivalência, aliás nos termos seguidos pelo autor do ensaio. Poderemos dizer que a ideia de hospitalidade vive da potência da reversibilidade: eu que recebo posso, invertidas as funções, ser aquele que é recebido. Mais: eu que recebo sou também, em concomitância, aquele que é recebido, por via dessas leis reguladoras e pelo facto de ser o inevitável medium de (tantos) outros fenómenos de registo igualmente implicados. Ora, Humberto Brito lê o texto de Flaubert sob o signo e a configuração do vitral, daí extraindo a seguinte premissa: o que ilumina é também iluminado e é, aliás, o ser iluminado que permite que ilumine. O que recebe a luz é também aquele que dá a luz que é, assim, acolhida, na superfície de um outro corpo.
Identificando a Lenda como um texto cuja composição desenha um arco em ogiva — à semelhança do vitral da Catedral de Rouen, a partir do qual Flaubert terá escrito o conto —, Brito prossegue de analogia em analogia, sem que tal gesto de leitura assinale a esquematização simplista e explicativa do texto e suas urdiduras. Trata-se de seguir uma composição literária afeita à formação de pares e duplos concetuais, cujo limite será a tentativa projetiva de apagamento do sujeito:
“Símile de Deus, o sol é aqui símile do autor, ou antes, da sua aspiração à condição de luz: a sua aspiração a ser ao mesmo tempo o sol que ilumina e aquilo que o sol ilumina. Estamos finalmente na posição de compreender a referência ao vitral, no fim da Lenda. Objecto cuja visibilidade existe na condição de ser atravessado pela luz natural, eis a forma como o conto mimetiza o vitral. Que a luz que lhe concede visibilidade não emita juízos sobre aquilo que mostra torna-a um símile flagrante das aspirações técnicas de Flaubert.” (63).
Procedendo a uma identificação entre o livro (pela afinidade contígua da referência, no fim do conto), o vitral (enquanto modelo da narrativa) e a figura do santo (conciliadora de uma faceta sagrada e outra profana), este ensaio propõe perseguir a ambivalência da figura (do santo) e do estatuto de um texto esculpido a partir de uma composição visual religiosa, tão particular (no que diz respeito ao vitral em Rouen) quanto abstrato (no que concerne à história, suas potências simbólicas e textuais, seu fulcro moral, de S.Julião), sem intentar nunca na escolha resolutiva de uma sobre outra faceta, força ou dimensão.
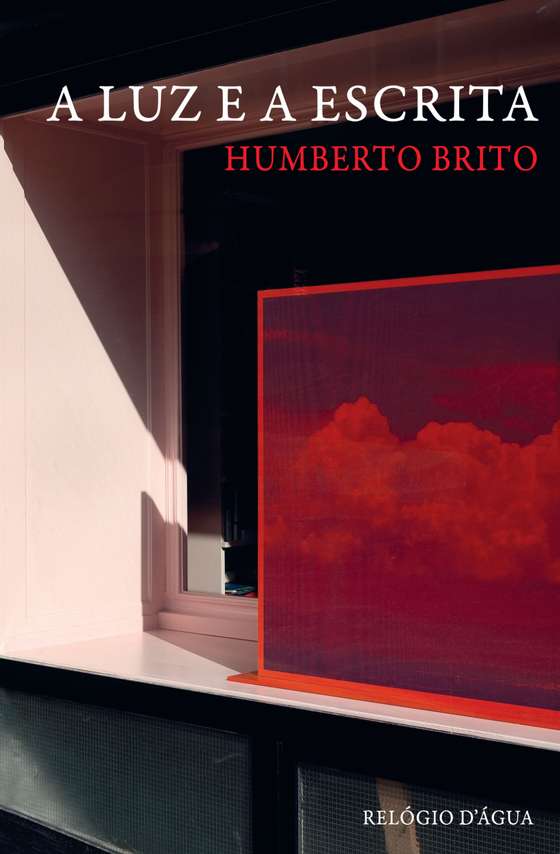
Título: “A Luz e a Escrita”
Autor: Humberto Brito
Edição: Relógio D’Água
Páginas: 165
É, aliás, um erro de tradução, derivando na sua homenagem neste ensaio veiculada — “O meu comentário tenta compreender (e homenagear) esse erro, que exibe a virtude da precisão” (17) —, que inscreve um dos fundamentos desta leitura. Erro incontornável, mas cuja inadequação desvelada (erro luzente, atravessando o vitral ensaístico, ele próprio fonte de luz sobre o texto, de Brito) aponta para o paradoxo como recurso premente e de valor semântico:
“Por insólita que seja, a tradução de Pedro Tamen [de basilic por ‘basilisco’, especificando o que dos vasos das janelas brotava, no castelo onde cresce Julião] é didacticamente justificável. Qualquer uma das traduções anulará a ambivalência do termo basilic. Todavia, a tradução mais frequente anula-a sem o ganho paradoxal de chamar a atenção sobre si mesma enquanto erro. Por via da conspicuidade da sua inadequação, a tradução de basilic por ‘basilisco’ salvaguarda que se repare, face ao par basilic e heliotrope, numa possível dualidade entre profano e sagrado.” (34).
Ambivalência que, além de apontar para a complexidade da figura de Julião — complexidade possibilitadora da sua ascensão aos céus e da elevação ao estatuto da santidade —, concerne igualmente a um jogo de luz e sombra que a disposição narrativa, sua estruturação em ogiva, impõe, concentrando no final a hipótese de o texto precedente ter sido, não só iluminador de uma hagiografia determinada, como sendo, afinal de contas, iluminada pela existência anterior de um vitral, presente numa catedral em Rouen.
Se a este tipo de desdobramento poderíamos apor a elaboração de uma cadeia iconográfica, da qual se estabelecesse um conjunto de exercícios ecfrásticos, essa opção é por Humberto Brito secundarizada, porquanto é-a já pelo próprio Flaubert. O que se torna verdadeiramente premente é que uma instância pictórica — de que o texto seria um exemplo — é, não só reflectida, mas tornada refractária em símbolos enigmáticos, resistentes num limiar indecidível, entre exterior/interior, passado/presente, claro/escuro, de que o texto como domínio fotográfico (texto que se vê a si mesmo) seria o suporte mnésico dinâmico. A “função do vitral descreve um procedimento técnico de Flaubert: a saber, o de manchar outras partes da história com reminiscências de episódios anteriores” (45). Suporte mnésico que procede tanto por um encadeamento lógico, quanto por um efeito de entropia, isto é, por acumulação de umas partes da história noutras, dando-se a impressão de que o texto não avança, senão por um efeito de intensificação progressiva, um aprofundamento gradativo, ao jeito de um processo de investigação — ou de revelação, para nos servirmos do vocabulário da fotografia —, à medida que se vão descobrindo novas referências, outras correspondências contextuais.
Tal não contribui, todavia, para o deciframento de uma qualquer chave de sentido, senão aquela que investe na forma a sua intencionalidade estilizada, revelada exatamente pelo desejo de a obliterar. Uma tal maneira de olhar o texto concorre, sim, para a procura de mais formas de ler. De facto, Flaubert declara a sua vontade em apresentar a Lenda juntamente com a ilustração, a colorir, da Catedral de Rouen — tal qual surge no livro de Hyacinthe Langlois, Essai Sur la Peinture Sur Verre —, enquanto documento histórico, e não na condição de ornamento ou ilustração. Isto é, recusando a função da legenda relativamente à Lenda. Daí, Brito discorre:
“Se a última frase da Lenda incita à releitura, ou é um envio para o início, estes [texto e imagem] deixam agora de poder acontecer numa posição de ingenuidade a respeito da existência do vitral enquanto referência formal e iconográfica. Isto introduz, desde logo, a questão prévia de saber que semelhanças são de facto relevantes. Visto a inclusão do desenho de Langlois ter a confessa finalidade de mostrar que o texto rejeita o vitral enquanto modelo ecfrástico, as semelhanças a ter em conta não são, por sinal, aquelas que pertencem ao plano da correspondência ecfrástica — o plano referencial (…) Muito do que o conto descreve não está no vitral e vice-versa. Pode ser, porém, que a maneira como o descreve tenha alguma relação com a forma do vitral.” (23-24).
Dá-se, de resto, da parte de Julião, e metaforicamente pelo modo como é tecida a narrativa, uma tentativa de libertação de toda a referência, no sentido de uma correspondência codificada, por via de um ímpeto de evasão relativamente ao destino do parricídio (Julião matará os próprios pais, confundindo-os com o corpo da mulher e de um amante imaginado, na cama), destino inúmeras vezes anunciado por vultos que vão surgindo às várias figuras da narrativa. Eis um exemplo do valor performático da palavra, cuja pronúncia parece conduzir ao desencadear do que ela própria veicula, precisamente como uma luz que incidindo sobre um corpo o obriga a declinar certas qualidades que eram as suas, na sombra.
De facto, Humberto Brito não dispensa advertir: “a própria sombra é sempre mais nítida e anónima quando a luz é dura” (17). O milagre final, ainda que encerre a narrativa, não pode já desambiguar o traço profano do sagrado, antes enigmaticamente os une, atribuindo-lhes um valor transcendental e, é claro, visual. Poder-se-ia falar mesmo num proto-cinema, sobretudo pelo movimento final da ascensão aos céus de Julião, começando pelo seu corpo agigantado, contra as paredes da cabana, quando abraça, socorrendo-o do frio, o leproso. O corpo cresce e essa é a primeira fase da metamorfose espiritual que se elaborará pela ascensão da alma aos céus e a consequente transformação de Julião em São Julião; e, é claro, o fim do texto que o definirá justamente enquanto Lenda de São Julião Hospitaleiro.
No que à estrutura do corpo da narrativa e à declarada tentativa de contornar cadeias referenciais diz respeito, note-se que, surgindo tão-só no final do conto a referência ao vitral em Rouen, ao mesmo tempo que um tal gesto sugere a releitura do texto, antevendo-se a possibilidade de construir uma leitura a partir do vitral, também é verdade que, nesse momento, o texto já está irremediavelmente lido. Isto é, há todo uma trama literária que é projectada instantes antes de se mostrar uma outra, invariavelmente nova no âmbito da nossa leitura da Lenda. Não será esta uma forma assaz engenhosa de destruir a primazia da precedência de que vivem as malhas citativas?
Há sempre um jogo de forças opostas, uma luta incessante de naturezas que remetem a narrativa que procura, no seu enredar, libertar-se de um encadeamento ecfrástico-citativo, para o território assombrado dos reflexos. Isto é, dos objectos que não podem escapar à sua própria visão, não obstante lançando-se para um lado-de-fora indeterminado que os apure com maior clareza. E essa será uma condição partilhada pela Lenda de São João Hospitaleiro, de Gustave Flaubert, e por A Luz e a Escrita, de Humberto Brito.

















