Já lhe chamaram freak, hipster, músico avant-gard, poeta, cantor folk. Definir Devendra Banhart, o artista norte-americano que nasceu no Texas e cresceu na Venezuela, não é tarefa fácil. E essa é uma pergunta à qual até ele tem dificuldade em responder. “O que é que gostava que me chamassem?”, interrogou. “Apenas um entertainer.“
Compositor de músicas para filmes, criador de “canções para canções”, pintor, desenhador, Devendra pode parecer um artista completo mas, quase dez anos depois de ter lançado o primeiro álbum (e em vésperas de editar um novo, Ape In Pink Marble), admite que continua sem saber como se compõe uma canção. É um “mistério”, diz. O maior de todos.
Mas não foi por isso que o novo registo demorou três anos a sair. É que, durante esse tempo, fez muito mais do que escrever novas músicas e aprender a tocar koto, um instrumento tradicional japonês. Lançou um livro de arte, I Left My Noodle on Ramen Street, que reúne dez anos de desenhos, e compôs a banda sonora de Joshy, um filme de Jeff Baena, que o ajudou a encontrar o som que queria que Ape In Pink Marble tivesse. Simpático e descontraído, conversar com Devendra é mais ou menos como fazer perguntas a um vizinho, mas especial.

Disseste numa entrevista que o teu álbum anterior, Mala (2013), fala sobre relações, mas de uma forma pessimista.
Nem por isso, acho que fui mal citado. O que estava a tentar dizer é que, de uma forma geral, sinto que é mais divertido escrever… Escrever sobre um desgosto de amor numa… Numa… Meu Deus, nem sei! O que quer que tenha dito, não foi isso!
Mas existe aquela ideia de que os momentos tristes são mais inspiradores. Não concordas com isso?
Não, não concordo com isso.
Nem que é mais fácil criar música assim?
Acho que é muito mais fácil escrever sobre coisas boas — é preciso menos esforço. Quando te sentes muito feliz, queres expressar essa felicidade. Se encontras alguém tão, tão especial que lhe queres dizer quão especial é, torna-se natural querer expressar isso. Parece que envolve menos trabalho. É preciso muita insolência, mas é um trabalho alegre. Mas entendo que, se te sentires muito, muito triste, que isso também acaba por sair cá para fora e que talvez trabalhes de forma menos cerebral. Suponho que sejam dois lados da mesma moeda.
Foi por isso que quando me perguntaste como é que estava, eu disse que me sentia neutral. Sinto-me bem, de uma forma neutral. Neutral é bom.
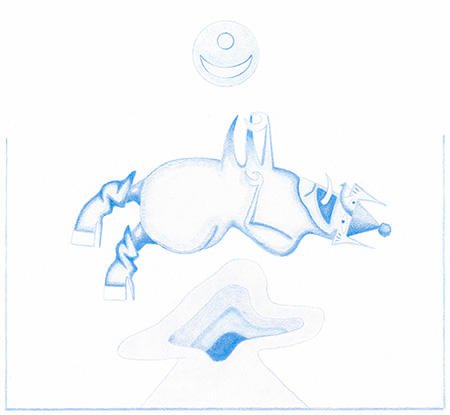
“Ape in Pink Marble”, de Devendra Banhart (Nonesuch; Warner) Edição: 23 de setembro
É sobre isso que gostas de cantar? Sobre a neutralidade?
Penso que a melhor resposta é que gosto de cantar sobre a neutralidade do amor, porque este pode passar por sítios horríveis, dolorosos e negros — e, se não te conseguires rir disso, só vais sofrer — e atingir picos bonitos. E também existe sofrimento aí. Se existe um zénite, existe um nadir. Por isso penso que a neutralidade é um bom sítio para se estar [risos].
O que eu quero dizer com isto é que a neutralidade é um tipo de harmonia. Passamos por muitas coisas pelas quais não precisamos de passar, elas simplesmente acontecem. Naturalmente. A vida vai ter os seus picos e os seus “vales”, naturalmente. Tentar evitar que as coisas más aconteçam é ridículo, é uma loucura, mas muitas pessoas tentam fazer isso — tentam sentir-se seeeempre bem. É de loucos, mas estão sempre a tentar fazer isso.
Ou a tentar sentir-se mal.
Sim, ou tentam sempre sentir-se mal. Dizeres a ti própria que és uma merda não é real — é a tua cabeça, é uma projeção, é algo que estás a criar. E é um grande sofrimento.
Muitas vezes sinto que estou a fazer canções para outras canções. Canções para canções. Às vezes, nem sequer existe um tema. A arquitetura de uma canção é uma coisa fascinante que ainda não consegui compreender. Limito-me a perder-me ali no meio e a trabalhar nela. Não sei se alguma vez senti que precisasse de comunicar alguma coisa a alguém através de uma canção. Uma parte de mim estava sempre a escrever músicas para engatar a miúda, mas nunca consegui engatar a miúda.
Acho que, para muitos de nós que escrevem músicas, é uma forma de dizer “sou assim quando ninguém está ao pé de mim”. Imagina que estás num encontro ou que tens uma discussão com um velho amigo, ou o que for. Ou estás a tentar provar que amas alguém, e começa uma discussão ou o encontro acaba e estás finalmente em casa sozinho. Fazes uma chávena de chá e pensas: “Gostava que me pudessem ver assim”. Estás calmo, não estás a dizer coisas estranhas sem significado. Não estás a falar e a pensar: “Estou mesmo a dizer isto? O que é que eu estou a dizer?! Para de falar!” (que é o que eu estou a fazer agora). Estás confortável na tua própria pele, não estás a pensar no que as outras pessoas pensam de ti. Esse é o teu verdadeiro eu e gostavas que te vissem assim. E é por isso que, muitas vezes, fazemos arte: para que possamos mostrar a alguém como é que somos quando estamos sozinhos.”
[um dos temas novos, “Saturday Night”]
Não estou a dizer que faço sempre isso dessa perspetiva. Se tudo o que escrevo fosse um exemplo direto de como sou quando estou sozinho, estaria na prisão. Apesar de, muitas vezes, ter uma história, um tema ou uma imagem que quero mostrar à minha própria maneira como ponto de partida, acho que ponho mais emoção na pintura do que nas músicas que escrevo. Para mim, é uma forma de expressão mais crua do que a música.
Porquê?
Porque às vezes construo as coisas tão clinicamente que nunca penso nisso como uma forma de expressão crua. Não escrevo de forma livre. Não carrego simplesmente “gravar” e deixo-me ir.
Acho que este álbum [Ape In Pink Marble] soa como se tivesse sido feito numa tarde, mas demorou três anos a fazer. Não estou a dizer que o meu trabalho é sempre cerebral. Claro que vem do meu coração, da minha alma, das minhas experiências, e isso é natural. Não podemos evitar isso, não podemos desligar essa parte. Sempre que termino um álbum penso: “Merda! Como é que se escreve uma canção?!”. Não penso: “Agora sei mesmo como é que se escreve uma canção, estou melhor!”.
Não sentes que te tornaste melhor músico com o passar dos anos?
Não, apenas aceitei. Não sei se estou igual, mas sem dúvida que aceitei que este é um jogo sem instruções. É um mistério. Cada vez mais acho que é um mistério em vez de achar que sei cada vez mais sobre música. Não. É algo que é cada vez mais misterioso.
Não é engraçado? É engraçado.
Disseste que demoraste três anos a fazer este álbum.
Não foram exatamente três anos.
Sim, fizeste muitas outras coisas durante esse tempo.
Fiz um livro de arte [I Left My Noodle on Ramen Street]. Cronologicamente, foram dez anos de arte, editados. Se tivesse sido feito à minha maneira — e fico contente que não tenha sido — era um livro que chegava ao topo deste teto Luis XIV [a entrevista acontece num hotel em Lisboa]. Foi um esforço colaborativo. Os editores queriam mais coisas pessoais, por isso é que há fotografias minhas. Só para esclarecer — se tivesse sido feito à minha maneira não seria um livro de arte com imagens minhas lá dentro. Mas OK, eu entendo! É preciso dar para receber.
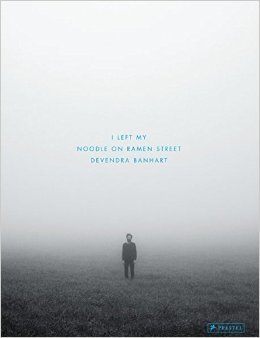
O livro “I Left my Noodle on Ramen Street”, de Devendra Banhart
Depois do Mala, comecei a trabalhar neste livro, e isso demorou cerca de um ano. Depois mudei-me para Los Angeles e depois é que começamos a discutir que tipo de álbum é que queríamos fazer. E houve duas coisas que demoraram imenso tempo: uma foi tocar koto, que é um instrumento clássico japonês. É talvez o mais evocativo do Japão e é um instrumento muito difícil. Não apenas para tocar, mas para afinar. Demorava tanto tempo a afinar aquela coisa todos os dias! E depois, o que levou muito tempo foi descarregar as baterias [para os sintetizadores].
Íamos à procura de baterias a lojas de segunda mão que tinham secções de eletrónica. Oferecia dez dólares por uma bateria e punha-a num sintetizador, que tocávamos quando estava prestes a desligar. Demora muito tempo a esgotar uma bateria — mais do que pensávamos.
Por isso, não foram exatamente três anos. Também houve este livro, que se chama I Left My Noodle on Ramen Street. Como é que se diz isto em português?
Deixei o meu noodle…
Noodle?
Sim, não temos nenhuma palavra em português para noodle.
A sério? Deixei…
… O meu noodle…
… O meu noodle… Na caixa do Ramen!
Na rua!
Sim, na rua! Na rua do Ramen!
Sabes, no Brasil chamam “bobo” a um relógio de pulso porque tens de ser muito “bobo” para usar um relógio de pulso na rua. Diz-me uma palavra de calão!
Para quê?
Para qualquer coisa! Por exemplo, para velho, ou assim.
[“Middle Names”]
“Cota”, mas é usado principalmente pelos jovens.
“Cota”? De onde é que isso vem? Qual é a etimologia?
Vem do crioulo africano. Temos várias palavras com essa origem.
Porquê?
Por causa das colónias em África, como Angola e Moçambique. Quando esses países se tornaram independentes, muitas pessoas regressaram a Portugal e trouxeram com elas essas palavras
E sabes outras palavras?
“Bué”, que quer dizer “muito”. E costumamos dizer “bué fixe” quando queremos dizer que uma coisa é muito porreira.
Bué fixe? Não acredito! Tenho de anotar isso.
E por falar em linguagem, as tuas letras são sempre muito simples. Por vezes fazem até lembrar a poesia japonesa, que é uma das tuas favoritas.
Gosto de poesia curta e doce. Gosto de poesia que é muito económica. Gosto de escrever como se estivesse num supermercado e só tivesse dois cêntimos para fazer uma refeição. É este tipo de economia — tentar dizer o máximo possível com poucas palavras. A tradição japonesa que faz isso de forma tão perfeita, mas seguindo regras rígidas, é o haiku. [Matsuo] Baishô é um poeta incrível, mas não trabalho recorrendo ao mesmo sistema. Mas considero que é a forma de poesia mais refinada, perfeita e simples e, ao mesmo tempo, profunda.

Mas tentas escrever assim?
Sempre, mas exagero sempre. Nunca o faço bem.
E achas que algum dia vais conseguir escrever poesia assim?
Talvez um dia. Dom Sylvester Houédard descobriu uma forma de destilar ainda mais um haiku muito conhecido de Bashô, que é algo como:
“Salta a rã
para dentro do velho tanque —
plop!”
E ele reduziu-o para:
“Rã
tanque
plop!”
Três palavras! E é uma sequência pequena. Acho que é fantástico.
E também tentas fazer música, arte, dessa forma — económica?
Não tão parecido quanto gostava, mas tento sempre destilar as coisas. Uma parte do processo é pegar nas páginas e reduzi-las a uma frase.
Como tivesse de fazer com o teu livro.
Sim, envolve muita edição. Edição, destilação. Se tivesse de escrever um livro dizia apenas que aconteceu alguma coisa, fim.
Nestes três anos também compuseste a banda sonora para o filme Joshy, realizado por Jeff Baena. Como é que foi essa experiência?
Sou um grande fã do Jeff Baena, gosto dos outros filmes dele. Quando ele me mostrou este, não só gostei muito, como também tinha alguns dos meus atores favoritos. Por isso fiquei muito contente por poder participar. Foi interessante, porque apresentei inicialmente uma coisa que era muito parecida com o tipo de música que estou a fazer agora mas que não servia bem o filme.
Percebi que não podes tentar contar a história que estás a ver — tens de te distanciar e apoiar as imagens. Até dá menos trabalho, de certa forma, porque quando compões sozinho estás a tentar contar a história, pintar o quadro, por o filme na cabeça das pessoas através das letras, do estado de espírito, da música. Foi uma nova forma de compor e penso que foi muito útil para este disco porque a banda sonora foi feita antes.
E também havia um momento particular da minha carreira que o Jeff queria explorar através do filme e, por isso, acabei por compor estas peças que soam a mim em 2005. Foi divertido — apresentei uma coisa nova, na onda do que ando a fazer, e ele pediu-me qualquer coisa do género do Rejoicing in the Hands. Esse tipo de música. Foi divertido voltar à forma como costumava compor. Sinto como se tivesse feito uma viagem ao passado.
É por isso que este álbum tem mais músicas onde só existes tu e a guitarra?
Não tanto quanto gostaria. Acho que seria agradável fazer um disco ainda mais despido.
Como costumavas fazer?
Sim, porque não? Não sei bem o que vou fazer a seguir. Talvez seja um disco de techno ou house. Podia fazer isso! Mas foi muito divertido trabalhar com o Jeff porque foi muito colaborativo — tentei tornar a visão dele real. Nunca tinha trabalhado dessa maneira e foi muito humilde nesse sentido. Estou muito contente com o resultado porque é um bom filme. E aqueles atores são muito, muito bons! Adoro o Brett Gelman, o Thomas Middleditch, a Jenny Slate e o Nick Kroll. Um elenco incrível! A Aubrey Plaza… Foi uma honra!
Era algo que gostavas de voltar a fazer?
Sim, sem dúvida. Por falar em bandas sonoras, o Rodrigo [Amarante] foi nomeado para um Emmy pela canção do Narcos. Estamos todos a torcer por ele! Acho que a música dele é tão melhor do que qualquer outra. Se ele não ganhar, é por causa de política.
Fixe… Obrigada por me ensinares isso. É incrível! Ensinaste um “cota” a dizer “bué fixe”.
Não és cota, mas há quem diga que és um músico folk e não gostas nada.
Não é que eu não goste, mas acho surpreendente porque não venho de uma tradição folk. Se venho de uma linhagem, é uma linhagem de pessoas que não vêm de uma linhagem! Estou só a copiar os meus heróis, e nem sei se eles eram assim tão folk… Não me incomoda. Atualmente, é uma fonte de humor para mim. Lembro-me que houve uma vez demos um concerto com três sintetizadores e voz e fomos apresentados como “aqui vem o músico folk!”. Acho que foi a única altura em que pensei “isto é incrível!”. Quero ser sempre chamado de músico folk quando forem três sintetizadores e alguém a cantar.
Foi ótimo, mas não sei como é que podes chamar folk a isso.
Sentes que muitas vezes não compreendem o que estás a tentar a fazer?
Suponho que não! Mas adoro música folk. Adorava dizer que sou um cantor folk, mas não sinto que tenha o direito de o fazer. Não penso que o seja.
Então o que é que gostavas que te chamassem?
Apenas entertainer.
Um cota?
Sim, exatamente! Um cota! Cota, cota, cota!














