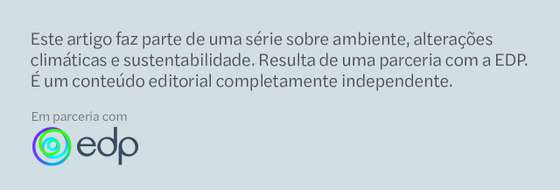Céline nasceu com um apelido sinónimo de mar. O seu avô, o francês Jacques-Yves Cousteau, foi o maior explorador marítimo do seu tempo e realizou notáveis documentários sobre os oceanos. O pai, Jean-Michel Cousteau, seguiu-lhe as pisadas. Com 9 anos, Céline já andava com os familiares na remota zona amazónica do Vale do Javari, uma experiência que marcou a sua vida e a sua dedicação às comunidades indígenas da maior selva do planeta. Habituou-se a que as pessoas presumam conhecê-la através do apelido, mas diz ser muito mais do que um nome.
Aos 51 anos, exploradora, cineasta, oradora, designer, Céline Cousteau baseia o seu discurso na interligação entre os seres humanos e o meio natural, reflexo do seu percurso académico em Psicologia e Relações Interculturais. Acredita que o indivíduo tem primeiro que cuidar de si para que, equilibrado, possa atuar positivamente na sua comunidade e ecossistema. Nas suas múltiplas viagens – assinou mais de 30 programas e séries documentais, realizou o filme “Tribes on the Edge” (“Tribos no Limite”) e escreveu o livro Le monde après mon grand-père (“O mundo depois do meu avô) – viu provas de severas alterações climáticas, que acredita poderem ser travadas através da transição energética e da redução global do consumo. Mas não crê que tenham de ser as crianças e os jovens a reparar os danos.
Em Madrid, para participar na Conferência We Choose Earth Tour’23, organizada pela EDP, Céline Cousteau fala com o Observador sobre as suas experiências e paixões, com a Amazónia à cabeça. Da última vez em que lá esteve, o governo de Bolsonaro quis saber o que andava a fazer. Sentiu-se ameaçada, precisamente no mesmo sítio em que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips seriam mais tarde assassinados. Mas um Cousteau não desiste – em 2024, Céline voltará à selva para navegar no Amazonas, desde uma fonte no Peru até ao Oceano Atlântico.
Testemunhámos recentemente a história de quatro crianças colombianas que sobreviveram um mês na Amazónia porque conheciam a natureza, o clima, os ecossistemas, os hábitos nativos. Crê que esta história ilustra aquilo que vem defendendo há algumas décadas – que o ser humano se deve reconectar com a Natureza?
Este é um exemplo extremo. Não creio que vá acontecer muitas vezes crianças ficarem perdidas na selva. Espero que não. Mas mostra, claro, que quanto mais conhecimento da Natureza tivermos, maiores serão as hipóteses de sobrevivência. Podemos transportar este caso extremo para outros mais comuns na nossa sociedade, como, por exemplo, o facto de cada vez mais pessoas quererem semear e produzir a sua própria comida. Crescemos com a ideia de que, por vivermos em cidades, estamos distantes da Natureza. Já não é assim. Estou em Madrid, olho pela janela e vejo erva, árvores e flores. No entanto, também vejo que a maioria das pessoas está sentada em cima de muros e de cimento. Não faz sentido. Portanto, é importante aproximarmo-nos do meio natural, de preferência desde a infância. Um artigo científico recente mostra que as crianças que têm acesso à natureza têm coeficientes de inteligência superiores aos que vivem num ambiente exclusivamente urbano. Estudos neurológicos evidenciam o impacto positivo de levarmos regularmente os nossos filhos a ambientes naturais. Os seres humanos são mamíferos e, por conseguinte, uma espécie que necessita de estar em contacto e em harmonia com a Natureza. Recomendo um livro: Last Child in the Woods, de Richard Louv, que fala do défice de acesso à natureza e dos seus efeitos negativos.
A Amazónia é um lugar especial para si. Porquê?
Sim, a Amazónia tem um lugar especial no meu coração. Aos 9 anos, acompanhei a minha família numa expedição à Amazónia e, como devem calcular, as experiências que se tem como criança num lugar assim ficam para sempre. O meu mundo era feito de barro e, por isso, moldável a todas as sensações que tive nessa viagem. O acesso privilegiado a esse ecossistema especial, a possibilidade de tocar, cheirar, interagir com as tribos, todos esses novos estímulos tornaram-se parte do que sou hoje. Nós somos aquilo a que somos expostos em criança e, portanto, a Amazónia passou a fazer parte de mim. Atenção, isso é diferente de dizer que sou de lá, pois as vivências e os contextos são totalmente diferentes. Mas a ligação ficou. É difícil explicar porquê, não é certamente por ser divertido, pois o trabalho que tenho feito na Amazónia é difícil, duro, mas essencialmente por estar carregado de compromisso, paixão e significado para mim. Isso abastece-me de energia e de um sentido, é claramente um propósito na minha vida.
Infelizmente, o local que tanto visita, o Vale do Javari, na Amazónia brasileira, foi onde o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram brutalmente assassinados, quando investigavam os crimes cometidos contra o ambiente e as tribos indígenas. O que está a acontecer no Vale do Javari? E quais os motivos por detrás dos homicídios de Bruno e Dom?
O sistema no Vale do Javari é bastante complexo. É o mesmo com que me confrontei durante a gravação do meu documentário “Tribes on the Edge”, em 2019. É uma zona onde decorrem inúmeras atividades ilícitas: pesca e caça ilegais, garimpo de ouro, desflorestação, passagem das rotas de narcotráfico, crime e violência. Desses produtos todos, só os da caça e da pesca ficam na zona, o resto é desviado da região clandestinamente para exportação. Com a ascensão de Bolsonaro ao poder, as pessoas que estavam a cometer ilegalidades no Javari sentiram-se legitimadas, no direito de continuar as suas práticas e assistiu-se a um crescimento da violência e da hostilidade. Foi nesse contexto que o Bruno Pereira, que era adorado e admirado pelas comunidades indígenas, levou o Dom para o terreno no âmbito de um livro que ele estava a desenvolver. A investigação não era nada favorável ao submundo do crime e acabou por resultar no assassinato. Apanharam os autores materiais do crime, mas ainda não sabemos quem o terá ordenado. É demasiado triste. O que fica, para já, é que se um jornalista estrangeiro não tivesse sido assassinado, as notícias provavelmente não teriam tido o impacto internacional que tiveram. Porque, infelizmente, não damos cobertura suficiente às pessoas que defendem os indígenas, e isso é terrível. Estas mortes e este impacto mediático não podem ser em vão. Que as suas mortes sirvam, pelo menos, para que nunca mais se repita algo assim e para reforçar a defesa da terra. Porque a lei para defender a terra e o seu povo, ela existe, mas têm de se reforçar os mecanismos para que seja cumprida. Pode levar tempo. Mesmo com a mudança de Governo, as pessoas no terreno não querem parar as atividades porque subsistem disso, há uma economia paralela por detrás. Tem de se encontrar uma alternativa económica para elas, para que possam sustentar-se e alimentar os seus filhos.
Também se sentiu ameaçada no Vale do Javari ou em algum outro lugar onde já trabalhou como ativista, cineasta ou exploradora?
O Bruno Pereira já tinha recebido ameaças de morte e hoje sabemos que tinha a cabeça a prémio naquela zona. A minha situação era diferente quando lá estive a gravar, há quatro anos. Naveguei naquele mesmo rio em que eles foram apanhados e nunca me senti em risco, embora tenha sido convidada pelos indígenas para fazer aquele filme e de também ser aliada deles. Soube, mais tarde, que afinal a ameaça estava próxima. Fui informada de que um membro do governo de Bolsonaro andou a perguntar o que eu andava a fazer no Vale do Javari. Ali toda a gente sabe que quando alguém do Governo faz essa pergunta, algo de mau pode estar para acontecer.
O governo de Jair Bolsonaro foi particularmente impiedoso com os indígenas da Amazónia. Por que razão acha que as pessoas comuns votam em políticos como Jair Bolsonaro ou Donald Trump, negacionistas das alterações climáticas, mesmo com o tema no topo da agenda mediática?
Acho que, atualmente, a maioria das pessoas está a par do problema do clima. Mas se não se importam e votam num candidato negacionista, qual a razão delas? Na verdade, é muito mais complicado do que dizer que não se importam, que não querem saber do ambiente ou dos indígenas. Se um eleitor ouvir um candidato dizer que vai melhorar a economia, criar mais igualdade, que vai conceder mais terra para explorar, mais emprego, é provável que acredite nesse político porque pensa que vai ter mais oportunidades. Possivelmente, ele até sacrifica a sua preocupação ambiental por essa ilusão de oportunidade. De uma coisa ninguém pode acusar Trump ou Bolsonaro: eles não escondem aquilo em que acreditam. A agenda é clara. Não nos esqueçamos que Bolsonaro elogiou os EUA por terem feito um grande trabalho em “limpar” o país dos indígenas deles, exemplo que o Brasil deveria seguir. Quando os brasileiros votaram, não creio que tenha sido por este depoimento. Foram pela promessa de melhorar a economia. É difícil para o eleitor identificar prioridades. Claro que a minha agenda é muito clara, eu conheço as minhas prioridades, mas eu não tenho de me matar a trabalhar para alimentar os meus filhos nem tenho de pedir esmola na rua. É fácil apontar o dedo a alguém, mas a verdade é que somos todos parte de um sistema muito maior. Claro que um líder político é uma peça muito grande deste sistema e que dá medo quando individualidades assim conquistam o poder, mas não é simples analisar a perspetiva dos eleitores. Para mim, que trabalho no terreno, é mais simples, porque os meus chefes são os povos indígenas.
A mudança climática está a ser discutida publicamente há mais de 20 anos. Quase toda a gente já testemunhou eventos dramáticos como incêndios florestais, inundações ou grandes tempestades que podem estar ligados às mudanças climáticas. Porque está a ser tão difícil e moroso para os líderes mundiais chegarem a respostas definitivas e precisas para reduzir os níveis de emissão de carbono?
Uma vez entrevistei, no Peru, um conhecido glaciologista chamado Lonnie Thompson, sobre o derretimento dos glaciares. Perguntei-lhe se dava para abrandar o fenómeno. Ele respondeu-me uma coisa curiosa que nunca mais esqueci: os seres humanos só reagem quando estão encostados à parede. Isso até costuma funcionar, mas, no caso das alterações climáticas, é tarde demais. Costuma fazer-se aquela analogia do sapo numa panela de água a ferver: a água vai aquecendo e ele naturalmente vai-se adaptando às condições, até que começa a ferver e morre sem poder fazer nada. É o que está a acontecer connosco. Primeiro, temos esta resistência intrínseca à mudança. Depois, estamos perante uma ameaça que não se vê diariamente; não vemos a subida dos mares, o degelo, o desaparecimento das espécies que compõem os ecossistemas, mas na verdade isto está a acontecer e nós estamos como o sapo na panela, a cozer aos poucos. Há esta dualidade, porque não reagimos apesar de sermos seres altamente criativos e muito adaptáveis. Construímos coisas em nosso redor para nos sentirmos confortáveis, para nos adaptarmos a constrangimentos e a mudanças. Quando temos de nos adaptar, fazemo-lo, inclusivamente às consequências da mudança climática: edificamos prédios com os sistemas mais modernos de climatização, passeios subterrâneos, tudo. Mas não estamos a ser capazes de alterar o nosso estilo de vida para atacar o problema de frente. O que acontece quando há uma aceleração brutal das alterações climáticas? Eu sou otimista, creio que há esperança, há soluções, não acho que seja tarde demais. Vai seguramente haver quem sofra, e talvez não sejam aqueles que mais responsabilidade têm pelo problema. Será certamente a geração mais jovem a que mais vai sofrer. Pessoalmente, não vou parar de tentar encontrar soluções. Mas o movimento ambientalista, no qual me insiro, talvez tenha de reavaliar a forma de abordar o assunto. Costumamos responsabilizar apenas os outros por as decisões necessárias estarem a demorar décadas, talvez seja também altura de refletirmos se estamos a cometer erros na mensagem. Talvez tenhamos de alterar o método.
Viajou pelo mundo inteiro, especialmente em zonas selvagens e remotas. Onde é que documentou efeitos claros das alterações climáticas?
A mais marcante foi enquanto gravava um documentário sobre a migração da baleia cinzenta, da Califórnia para o Alasca. Na aldeia nativa de Barrow, o ponto mais a norte nos EUA, já no círculo polar Ártico, o povo Inupiat estava a ver o oceano a galgar a sua costa e havia pessoas a mudarem-se por causa disso. Também estava a afetar o seu método tradicional de refrigerar os alimentos: durante séculos usaram o pergelissolo [camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada], ou seja, enterravam os alimentos e eles permaneciam conservados neste sistema natural de refrigeração. Com o aquecimento, o subsolo começou a derreter e deixaram de poder fazê-lo. Os ursos polares estavam a visitar a vila muito mais regularmente, à procura de comida. Foram sinais graves e claros das alterações no ecossistema daquela pequena vila perdida neste imenso planeta. Mas também na costa da Austrália, quando estava a gravar um documentário sobre tubarões, concentrámo-nos na barreira de corais e vimos que estavam em avançada fase de branqueamento. O branqueamento significa que os corais estão a morrer. Porquê? Porque, com o aquecimento e o degelo, não temos apenas a subida do nível dos mares. Quando a água está muito quente, os corais expulsam as algas que vivem nos seus tecidos, fazendo com que o coral fique branco e à beira da morte. Os corais são o epicentro do ecossistema marinho, quando morrem conduzem ao sofrimento de todas as espécies do meio. A World Resources Institute está a fazer um trabalho pragmático; fez uma triagem e catalogou os reefs do planeta em três categorias – os que já não têm salvação, os que estão em risco e os que estão saudáveis. Estão a incidir os seus esforços sobre aqueles que estão sob ameaça.
Para reduzir as emissões de carbono aos níveis propostos pela comunidade científica internacional, os países precisam de encetar rapidamente uma transição energética. Mas a energia renovável precisa de metais e terras raras que requerem atividades de mineração, prejudiciais ao meio ambiente e às comunidades locais. Como propõe resolver este dilema?
Não há respostas simples. Temos de aceitar que nenhuma solução é perfeita e que o ser humano provoca impactes, mas a mudança para a energia renovável é necessária. Nunca vamos ter emissões perto do zero, claro. Existem pessoas que conseguem ir para o campo e viver “fora da rede”, aqueles que conseguem produzir toda a sua comida, mas não podemos supor que toda a gente vai conseguir abandonar os seus hábitos. Não é realista. Na verdade, o problema é o nosso nível de consumo de energia — entre outras coisas —, que é exagerado. Dizem que o problema é haver gente a mais no planeta, mas o que há a mais são consumidores excessivos. Há quem tenha 10 filhos, mas vivendo no campo, numa cabana, plantando o que come, não gasta nada, enquanto uma família com dois filhos, quatro carros, um barco, tem um consumo muito superior. Não precisamos de tudo isso. Os nossos níveis de consumo precisam de ser reduzidos. Quanto à mineração necessária para a transição, fala-se agora muito de novas tecnologias de regeneração dos solos para mitigar os danos.

▲ "Na sua época, o meu avô foi um pioneiro, não havia mais ninguém a fazer aquilo. Hoje são muitos, o que o deveria encher de satisfação"
Teve a oportunidade de viajar com o seu avô, Jacques Cousteau, que foi um explorador mítico e cujo nome está diretamente ligado ao conhecimento sobre os oceanos. Qual foi a maior lição que ele lhe deu?
Eu tenho, obviamente, uma história diferente daquela que passou para o grande público. O que ficou mais vincado para mim foi a sua curiosidade ilimitada, uma paixão sem limites pelo oceano, que ele ligava com o seu talento para fazer documentários, para contar histórias e envolver as pessoas. Na sua época, ele foi um pioneiro, não havia mais ninguém a fazer aquilo. Hoje são muitos, o que o deveria encher de satisfação. Ele sempre passou a mensagem de que outros também podiam fazer o que ele fazia, executar e partilhar. Temos de olhar para o potencial de cada indivíduo para criar esperança. Temos de prestar atenção ao que estas pessoas estão a fazer e a partilhar, sendo que o problema atual é que muitas vezes nos sentimos saturados de informação.
Quando o seu avô olhava para os oceanos nas décadas de 1960 e 1970, ele já antecipava os desafios que os nossos mares enfrentam hoje? Ou as ameaças naquele período eram diferentes? O que mudou na forma como ele olhava para os oceanos e na forma como a Céline hoje olha para eles?
Ele era um explorador, portanto começou por desbravar regiões desconhecidas, observar, aprender, capturar histórias e trazer a público algo que ninguém tinha visto até então. Ao longo da sua carreira como documentarista, ele foi percebendo que também era preciso educar ambientalmente as pessoas. Já em 1992, na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, ele assumiu a sua passagem de documentarista a ambientalista, porque reparou nas alterações que os oceanos tinham sofrido durante a sua carreira. Se prestarmos atenção, também constatamos diferenças óbvias na paisagem ao longo do nosso tempo de vida.
Alguma vez acusou o peso do apelido Cousteau? Trouxe-lhe mais benefícios ou desvantagens?
Tive benefícios e também senti o peso do nome. Talvez os privilégios tenham tido ascendente sobre as desvantagens. Escolhi livremente a minha profissão e adoro o que faço. O meu apelido faz com que haja pessoas que instintivamente supõem que me conhecem. Mas eu sou muito mais do que o meu apelido. Então, convido subliminarmente as pessoas a rasparem a superfície para verem que há muito mais em mim. Levo as pessoas nessa viagem que inevitavelmente começa com o meu nome, mas que depois é como um icebergue: começam por ver os 10% que estão à superfície e depois de lhes contar a minha história percebem que há muito mais por revelar.
Sabemos muito sobre o trabalho do seu avô e do seu pai como exploradores e documentaristas, mas sabemos pouco sobre o papel das mulheres da sua família. Qual a importância delas para as expedições épicas? E o que aprendeu com elas?
Tanto a minha avó como a minha mãe estavam presentes nas expedições, mas atrás das câmaras. A minha avó tinha um grande conhecimento sobre a Natureza e ajudava também nas tarefas quotidianas. Os seus rostos não eram conhecidos pela audiência. Não se teria feito nenhum filme sem elas, como sem cada membro da tripulação. Ninguém faz o trabalho sozinho. Sempre que surge uma celebridade, há muita gente por detrás a tornar isso possível. Elas estavam no terreno antes de mim e, sem nunca terem feito uma grande campanha feminista, ensinaram-me que a mulher pode estar no terreno e escolher o seu papel. Não precisavam do reconhecimento público, pois viviam a sua paixão intrínseca, que vem de um lugar muito mais profundo. Com ou sem reconhecimento, também continuaria a fazer este trabalho. Se, como mulher, for uma inspiração, tanto melhor. Acredito mesmo que, neste ofício, ser mulher é vantajoso. Posso aceder aos mesmos lugares a que os homens acedem, e ao mesmo tempo tenho maior acesso à esfera íntima das mulheres. Além disso, acredito que nós criamos ligações mais fortes. Ou seja, os homens sentam-se juntos e têm mais tendência para ir logo para o negócio, enquanto nós fomentamos a conversa, levamos o nosso tempo.
Já fez algum projeto sobre a costa atlântica portuguesa? Quais as suas impressões?
Infelizmente, nunca trabalhei no terreno em Portugal, nem nunca vi muitos documentários sobre a costa portuguesa. É uma questão de oportunidades. Se houvesse um convite, estaria bastante interessada, porque me parece que o potencial é enorme.
As gerações mais jovens estão mais conscientes dos problemas ambientais? Têm mais ferramentas para lidar com os problemas melhor do que nós?
Como existe cada vez mais informação, os mais jovens estão mais a par, embora eu ache que muitas vezes recebem a informação demasiado cedo. Cada vez mais vejo crianças e adolescentes stressadas e assustadas com isto, a preocupação estampada nas suas caras, frustração, revolta e medo. Ouço raparigas de 15 anos dizerem que não querem ter filhos porque o planeta está perdido. Isso revela ansiedade, e com ansiedade não se faz um trabalho equilibrado. As crianças e os adolescentes não têm de se sentir responsáveis por reparar o clima. Até porque vários estudos apontam para que apenas com 20 e tal anos é que temos a capacidade neurológica de tomar decisões racionais. Gera-se então uma geração amedrontada pelo que está a acontecer à sua volta, sem as capacidades necessárias para gerir a ansiedade e encontrar com equilíbrio as soluções acertadas.
Costuma dizer que o principal problema é os humanos não estarem conectados consigo mesmos. Porquê? E se eles não estão conectados consigo mesmos, estão conectados com o quê exatamente?
Quando refiro que precisamos de nos ligar a nós próprios, é porque acho que cada indivíduo deve investir mais na consciencialização de si mesmo. Isso vai afetar a forma como nos comportamos e nos ligamos aos outros. De que forma? Acredito que, quanto mais nos preocuparmos com a nossa saúde mental e física, quanto mais segura for a autoestima, mais capazes nos tornamos de estar presentes para os outros. É como quando nos dizem nos aviões que, em caso de emergência, devemos colocar primeiro a máscara de oxigénio em nós próprios, mesmo antes de a colocarmos aos nossos filhos ou parceiros. É porque, se não estivermos bem, não conseguimos auxiliar os demais. Se trabalhamos a partir de um estado emocional de ansiedade ou raiva, não vamos conseguir transmitir os valores necessários. Pelo contrário, se partirmos do amor, isso vai irradiar de nós para o que nos rodeia. Isso vai ter um impacto positivo no mundo.
Acredita que ainda podemos salvar a Terra ou já é tarde demais?
Acho que ainda vamos a tempo. Escolhi ser otimista. Uma vez, um jornalista perguntou-me como é que eu conseguia manter o otimismo depois de ver tantos sinais negativos no planeta. Fiquei a pensar nisso. Escolhi sê-lo, ter esta atitude, este ponto de vista. Não estou otimista todos os dias, claro, mas os dias em que me sinto assim batem aqueles em que estou pessimista. Acho que está ligado aos exemplos inspiradores que tenho visto. Por exemplo, conheci a mulher que gere a organização Amazon Promise, que leva cuidados médicos a regiões remotas da selva amazónica. É um trabalho esgotante. Perguntei-lhe como é que ela aguentava. Disse-me que, se estiver a ajudar 50 pessoas, 30, mesmo uma que seja, pelo menos estava a fazer alguma coisa. Fazer algo, aí reside a resposta. Porque permanecer paralisado, apontar apenas o dedo a quem faz algo de errado ou ao que está mal, isso não transmite nenhuma tração. Ao invés, fazer alguma coisa tem um impacto direto e molda o comportamento de cada indivíduo até se tornar um bom hábito. A ação passa a ser automática e a motivação para a fazer passa a vir do nosso âmago. Por exemplo, se passares a não comprar plástico, muito rapidamente esse hábito se vai automatizar. Vais escolher tratar as pessoas com respeito, importares-te com o que te rodeia. A dado momento, já não terás dificuldades em fazer o que está certo. Basta seres quem és e as boas práticas acompanhar-te-ão.