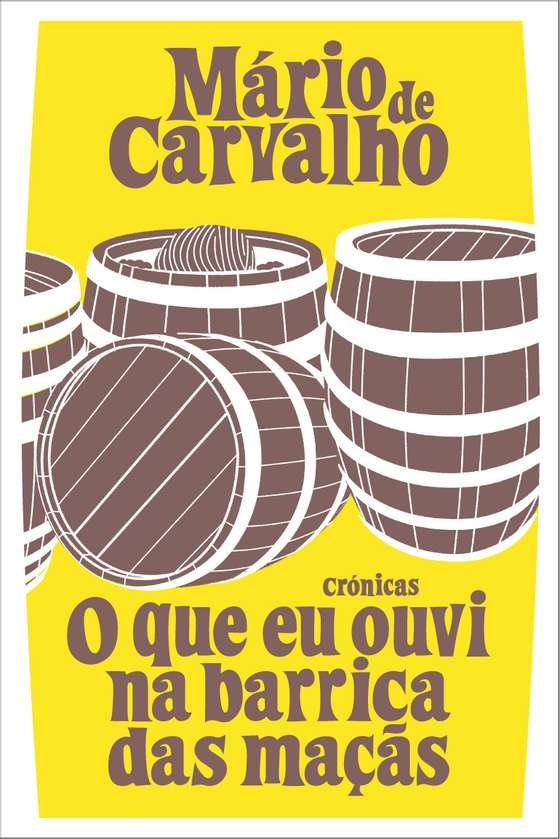No final dos anos 80 e inícios de 90, Mário de Carvalho escreveu crónicas para o Jornal de Letras e Público. Os melhores desses textos foram agora reunidos pela primeira vez no livro O que eu ouvi na barrica das maçãs, título da rubrica quinzenal que o escritor alimentou no Público e que alude ao capítulo XI de A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson.
Divididas em quatro partes, “que separam o escritor, o cidadão, o comunicador e o memorialista”, estas crónicas “são reveladoras de como a História é cíclica e alguns autores proféticos. E, como acontece na sua ficção, também aqui reencontramos o observador atento e o incomparável contador de histórias”, explicou a Porto Editora, responsável pela edição, em comunicado. O texto que o Observador aqui pré-publica, um dia antes de O que eu ouvi na barrica das maçãs chegar às livrarias (4 de abril), faz parte do primeiro capítulo, “Divagando”, e relata a experiência de Mário de Carvalho durante uma ida à barbearia, simpática e de bairro como ele gosta.
O volume será lançado para a semana, 10 de abril, no El Corte Inglés, em Lisboa, pelas 18h30. A apresentação estará ao cargo de Ricardo Araújo Pereira.
“A génese das serpentes”
Frequento uma barbearia simpática, mesmo ao lado duma esquadra de Polícia, o que me permite deixar o casaco tranquilamente abandonado no cabide, sem grandes ansiedades de estar sempre a olhar de viés.
Sempre escolhi barbearias de bairro. Sou pouco exigente em matéria de cortes. De três em três meses, sento-me na cadeira, de jornal aberto em frente (precaução contra os falatórios, porque sem óculos não vejo nada), e rosno sempre a mesma frase: «Curtinho, como se fosse pra tropa.» Sempre o barbeiro entende que um corte marcial não se coaduna com a minha idade ou a minha figura e deixa-me uns milímetros a mais, encurtando o intervalo, que eu desejaria muito longo, entre duas sessões de tesourada.
Não converso. Por natureza sou pouco convivente. Fico assustado quando alguém me dirige a palavra numa paragem de autocarro. Não sei o que hei-de dizer quando uma balzaquiana, ao balcão do café, me começa a falar de doenças e entro em pânico quando cidadãos entusiásticos querem trela sobre bola, golfe, estratégias empresariais, ou as virtudes curativas do barro radioactivo.
Mas se me deixarem sossegado, a fingir que leio o meu jornal, sou bom ouvidor. Jazia eu nesse preparo, paciente, sofredor e remansado, quando entra pela barbearia um fulano, de grande vozeirão, que começa a contar casos, a que eu chamaria milagres ou prodígios, mas que para ele tinham o selo incontroverso da verdade científica.
Deixado num frasco durante seis meses, um cabelo de mulher tinha-se transformado em cobra. Ele vira, claramente visto, com aqueles que a terra havia de comer. E essa certeza tremenda, desafiadora, impregnava a loja, fazia reluzir os espelhos, tilintar as tesouras, gorgolejar líquidos azuis nuns frascos. As lâminas que borboleteavam por cima da minha cabeça sentia-as mais geladas e menos respeitosas. Ai o barbeiro não se convencia?, trovejava o homem. Pois ele apostava já ali dez contos! E começou a exibir notas de banco. Aquela dúvida de o barbeiro não acreditar era meramente retórica. Pelo ar submisso com que o operador de tesouras e navalhas o ouvia estava-se mesmo a ver que acreditava. Tanto que não quis arriscar a aposta. Sorriu para o espelho, titubeou, e via-se bem que o que lhe apetecia era mudar de conversa.
«Ora aqui temos», pensei eu, «uma boa oportunidade de ganhar umas massas». E estive quase a rodar na cadeira e a estender uma mão enérgica ao outro: «Toque aí! Está apostado! Há testemunhas!»
Mas um rápido acesso de bom senso, de par com uma preguiça congénita, deixou-me ficar impassível, enfronhado no jornal. A perspectiva de passar uns meses a olhar para um frasco de água chilra inibia-me. O sentido do ridículo, deprimente resultado da educação que nos foi dada, lá estava mais uma vez a tolher uma excitante aventura e um acréscimo de fortuna.
O barbeiro mudou de assunto, instalou-se uma conversação catedrática sobre o jogo da bola, eu virei mais uma página inútil do jornal e perdi, de vez, a oportunidade de esmifrar dez contos ao homem ou, melhor ainda, de ver Pasteur refutado por um réptil não sei de que espécie cabeluda.
O acesso de melancolia veio depois: como é que é possível, ao aproximar do século xxi, com os céus cheios de lixo espacial, após décadas de ensino obrigatório, programas culturais do Carl Sagan e do David Attenborough, múltiplas idas ao médico, artigos de divulgação nos jornais, inquietações sobre o ozono e as florestas tropicais, trezentos anos após a descoberta da célula, que haja nesta cidade de Lisboa um sujeito que crê e aposta que se podem fazer cobras de cabelos? E estava ali todo impante, de peito feito, pronto a ateimar. E se houvesse votação na barbearia ele, se calhar, ganhava a votação. E se eu ousasse levantar a voz era acoimado de ignorante e ingénuo. E ficava ali humilhado, apenas por ter frequentado uns cursos, ter lido uns livritos e me atrever a contestar uma testemunha visual. E o homem era capaz de chamar mais gente, para desfrutar o pobre de mim que não acreditava em cabelos mutantes. E se calhar acorria a esquadra toda ali do lado, e eu tinha a autoridade a galhofar em volta da minha cadeira: «Olha para este que não percebe nada de cabelos e de cobras!»
Meu Deus, ainda bem que eu não aceitei a aposta e me fiquei muito caladinho. Não resistiria àquele vexame. Já não seria hoje o mesmo homem. Soçobraria. Se o leitor passasse à noite por essas ruas escuras veria, com piedade, uma figura hirsuta, de gaforina descomposta, a tropegar entre recipientes de lixo ao som dos miados de gatos caçadores e a resmonear umas frases ininteligíveis: «Não pode ser… as cobras ou nascem de… ou nascem de… que espécie de cobra? Ah, ah, ah» (gargalhada inumana) Seria eu!
Não, pensando bem, não perdi uma boa ocasião de ficar calado.
Mas porque é que há concidadãos meus assim? Trinta anos atrás, eu cuidava que este final de século havia de ser uma girândola de voos espaciais, com toda a gente entusiasmada pela ciência e pelo saber, a discutir apolineamente as últimas descobertas no planeta Titã, enquanto um solícito robô espremia para taças de metal insólito os frutos sumarentos que de lá vinham. E também imaginava, já não digo a felicidade de todos, mas pelo menos a remoção das causas primárias de infelicidade que injustiçam os homens. Vivia-se mesmo bem, nos meus sonhos de há trinta anos.
No entanto, cá chegado, para além das sórdidas e difundidas desgraças que são de todos conhecidas, que me dói enumerar e que já sobejam, ainda surpreendo uma criatura convencida de metamorfoses paracélsicas a aliciar-me a barbearia.
Se isto se tivesse passado nas serranias do Barroso, lá nas alturas esquecidas, em que os pastores solitários comunicam com os santos e as encantações, e ainda rezam «Venham bruxas, feiticeiras, meigueiras / mas não antes de eu contar / as areias do mar…», vá lá. Mas não, aconteceu pelas quatro da tarde, no bairro de Arroios, a dois passos da Praça do Chile, com sonoridades de fundo de buzinas de automóveis, sirenes de ambulâncias e música da Rádio Renascença. E o sujeito ainda por cima estava bem vestido, respirava saúde e mostrava-se inteiramente destituído de acabrunhamento.
Não digo que a culpa do acontecimento seja minha. É certo que passei a vida a bater-me, de uma forma ou de outra, bem ou mal, para que estas coisas não acontecessem neste tempo. Fui derrotado, é verdade, mas fiz o que pude.
Agora, a culpa do meu esmorecimento, essa, é mesmo minha. Tinha obrigação de saber que estas opiniões existem e vingam. Nos meios de comunicação social costuma dar-se voz a uns bruxos, a uns adivinhos, a uns charlatães que falam de parapsicologia, de astrologia judiciária e de objectos voadores identificados. Sempre tenho interpretado estas «aparições» como mundanidades, entretengas próprias da hora do chá, cheias de piscadelas de olho subentendidas. Costumo imaginar os autores dos signos que aparecem nos jornais como jornalistas enfastiados, de pirisca entalada nos beiços, colarinho desapertado, a escrever aquelas coisas, ao fim do dia, com sacrifício: «Bom, deixa-me lá dar uns bons conselhos a esta rapaziada. Onde é que está aquele almanaque do século passado?»
É verdade que com frequência ouço, nos transportes públicos e em conversas de consultório, umas pessoas a dizer que os Leões são assim, os Escorpiões assado e os Carneiros não sei quê. Na minha ingenuidade sempre tenho pensado que essa gente é extremamente versada em psicologia animal e chego a regozijar-me com a difusão que matéria tão especializada tem entre nós.
É que eu — e aqui sou, de facto, culpado — tenho convivido sempre com gente razoável, leitora de livros recomendáveis e, embora atormentada pela dúvida e por cepticismos vários, empedernidamente incapaz de confundir a fantasia com a realidade, salvo aquele natural empastelamento causado por algum erro de cálculo nos uísques.
E acabo por ficar surpreendido quando me aparece um tipo a querer fazer cobras com materiais impróprios. Devo penitenciar-me. Ando para aí a nefelibatar, não saio de casa, conheço mal o povo e depois…
Mas, caramba, um fulano que sustenta que uma cobra nasce de um cabelo num frasco com água em que é que acreditará mais?
Estão a perceber?