Índice
Índice
“O título deste capítulo é ‘Negociar com os mortos’ e a hipótese que levanta é a de que toda a literatura narrativa, e não apenas uma parte, e talvez até toda a literatura, seja motivada, no fundo, pelo medo e o fascínio pela mortalidade, por um desejo de empreender uma viagem arriscada ao Submundo e de trazer algo ou alguém de volta do mundo dos mortos”, escreve Margaret Atwood nas primeiras páginas de um ensaio incluído no livro precisamente intitulado Negotiating With the Dead.
A tese, como todas as teses gerais, é discutível, mas Atwood fornece múltiplos exemplos literários de autores e personagens que realizaram essa descida a um mundo desconhecido para trazer de lá um ente querido, das fronteiras a um tempo rígidas e fluidas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, dos rituais e superstições culturais através dos quais, ao honrar os mortos, os vivos reconhecem as suas obrigações e são confrontados com a sua própria mortalidade.
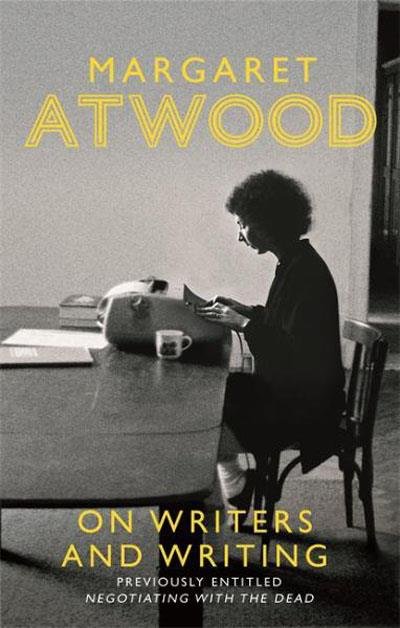
“On writers and writing”, de Margaret Atwood
O caso mitológico e literário mais célebre de uma personagem que passa para o lado de lá a fim de resgatar a amada é o de Orfeu, que arrisca uma descida ao inferno para trazer de volta Eurídice. Os deuses oferecem-lhe a possibilidade de resgatar a amada desde que Orfeu não ceda à tentação de olhar para ela até regressar ao mundo dos vivos. O desfecho trágico mostra o quão espinhoso é este empreendimento – exige um controlo total das emoções – daí que estas viagens e tentativas de contacto tenham sido ritualizadas e transformadas em momentos simbólicos, em metáforas vivas.
A memória: do Panteão aos livros
Os rituais ligados ao Dia dos Fiéis Defuntos (ou Dia de Finados), não sendo os únicos, servem de exemplo do vai-vem constante entre as duas dimensões. Atwood nota que é comum esses rituais envolverem comida, uma forma de os vivos sinalizarem que não se esqueceram dos seus mortos e de os apaziguarem. Na minha adolescência, lembro-me por exemplo que os ciganos do meu bairro, quando abriam uma garrafa de cerveja, deitavam sempre um pouco da bebida para o chão. Diziam que se destinava aos seus mortos.
No livro The Work of the Dead: a Cultural History of Mortal Remains, Thomas W. Laqueur procura explicar o papel dos restos mortais enquanto alicerces da civilização, papel que atravessa todos os tempos e todas as culturas e que tem que ver com o facto tão óbvio que nem precisaria de ser enunciado de que “os vivos precisam muito mais dos mortos do que os mortos precisam dos vivos”. É por precisarmos tanto dos mortos e por ser quase insuportável viver com a consciência da nossa mortalidade que o autor considera que “a obra dos mortos talvez seja o maior e mais misterioso triunfo cultural” do homem.
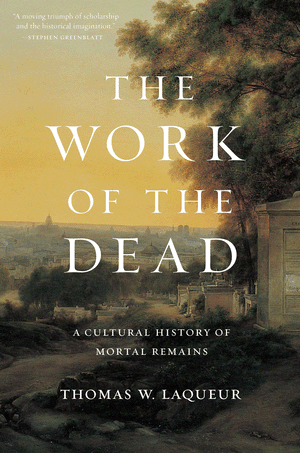
“The Work of the Dead”, de Thomas W. Laqueur
Numa época de descrença, sobretudo na sociedade ocidental, é curioso notar como os rituais relacionados com a morte não deixaram de inspirar respeito e que uma parte fundamental da nossa ideia de civilização continue a revelar-se na forma como tratamos os nossos mortos, seja nas discussões sobre quem é digno de ir para o Panteão ou no debate recente sobre a cremação dos entes queridos. Laqueur afirma que a obra dos mortos é uma espécie de “magia multifacetada em que acreditamos contra a nossa vontade. […] a morte não é nem nunca foi um mistério. O mistério é a nossa capacidade enquanto espécie, coletiva e individualmente, de retirar tanto significado da ausência e, mais especificamente, de um pobre corpo, despido e inerte”.
Nesse sentido, e é também essa a opinião de Atwood, a literatura é outro meio de atribuirmos significado à ausência e valor aos restos mortais, ou seja, é também uma operação ritualizada de resgate dos mortos. Não é o aspirar à eternidade através dos livros, antes o esforço de se recuperar para o mundo dos vivos, através de um trabalho de memória, arqueologia e investigação, as pessoas e as realidades sobre as quais a morte lançou um manto de incerteza e de esquecimento.
No seu pequeno grande livro As Pequenas Memórias, José Saramago escreve uma passagem sobre um amigo de infância que morreu. Sem ser num registo ensaístico, o excerto é uma exclamação teórica, um resumo em tom evocativo da responsabilidade pessoal e da missão do escritor: “Quero crer que hoje ninguém se lembraria do José Dinis se estas páginas não tivessem sido escritas. Sou eu o único que pode recordar quando subíamos para a grade da ceifeira e, mal equilibrados, percorríamos a seara de ponta a ponta, vendo como as espigas eram cortadas, e cobrindo-nos de pó. Sou eu o único que pode recordar aquela soberba melancia de casca verde-escura que comemos na borda do Tejo, o meloal dentro do próprio rio, numa daquelas línguas de terra arenosa, às vezes extensas, que o Verão deixava a descoberto com a diminuição do caudal. […] E também sou eu o único que pode recordar aquela vez em que fui desleal com o José Dinis.”
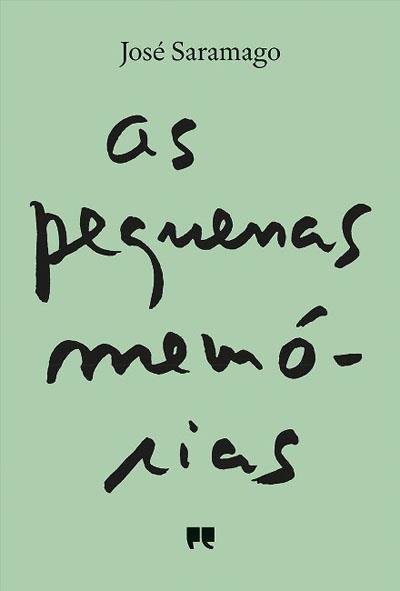
“As Pequenas Memórias”, de José Saramago
Ao escrever, o escritor repara injustiças e desafia a morte, cujo principal trunfo é o esquecimento absoluto (“é lógico resistirmos ao esquecimento porque essa é a derrota final perante a nossa grande inimiga”, escreveu a escritora espanhola Rosa Montero). Mesmo para quem não acredita na vida após a morte ou na eternidade da alma, uma das formas de lidar com a mortalidade passa por acreditar que à inevitável morte física não tem de corresponder o esquecimento, que esse, sim, seria a morte definitiva (seria a diferença entre o Hades e a Geena). Sobreviver na memória dos vivos é uma forma de eternidade, ainda que, do ponto de vista do morto, claramente insatisfatória (há a célebre frase de Woody Allen: “não quero ser eterno através da minha obra, quero ser eterno não morrendo”).
Por essa razão, e pelo desejo que o filho consume a vingança, o fantasma do pai de Hamlet pede-lhe que não se esqueça dele. É também à memória que o ladrão crucificado ao lado de Jesus apela. É uma questão importante. O homem não pede a Jesus que o salve daquela situação, que o poupe ao sofrimento. Pede-lhe que não se esqueça dele: “Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.” Os escritores, como se sabe, não têm reinos, têm livros e é nos livros que respondem aos apelos reais ou imaginados dos seus mortos.
Perdas concretas
“Como não tive filhos, o que de mais importante me aconteceu na vida foram os meus mortos, e com isto refiro-me à morte dos meus entes queridos.” É assim que Rosa Montero abre o seu livro A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te, escrito após a morte do marido. A decisão de escrever um livro sobre o processo de luto (embora o livro não seja apenas isso) não foi imediata (“a verdadeira dor é indizível. Se conseguimos falar do que nos angustia estamos com sorte: significa que não é assim tão importante”), até por uma questão de pudor.

“A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te”, de Rosa Montero
Durante muito tempo, Rosa Montero considerou que “fazer uso artístico da própria dor” era uma “indecência”. Com o tempo, mudou de ideias e chegou à conclusão que “é uma coisa que todos nós fazemos: embora nos meus romances evite com particular afinco a autobiografia, simbolicamente estou sempre a lamber as minhas feridas mais profundas.” E não haverá ferida mais profunda do que a morte daqueles que amamos. O que incentivou a escritora espanhola a escrever o livro foi, em parte, o desafio da sua editora para escrever um pequeno livro sobre Marie Curie.
Na história da primeira mulher a receber um Prémio Nobel, Rosa Montero encontrou um espelho do seu próprio sofrimento porque aos 38 anos, Marie Curie perdeu o marido, Pierre Curie, num acidente. Essa ligação com um processo de luto alheio, permitiu a Rosa Montero escrever um livro que, abordando a sua própria experiência de perda, respira fora desse emaranhado de dor, organiza o sofrimento, tenta conferir-lhe um sentido: “sei que escrevo para tentar atribuir ao Mal e à Dor um sentido que, na realidade, sei que não têm.” Esse sentido precário que procuramos é como a “magia multifacetada”, de que falava Laqueur, em que acreditamos apesar de nós.
Em Os Níveis da Vida, Julian Barnes realizou um idêntico exercício literário sobre o luto. O livro foi escrito após a morte da mulher, a agente literária Pat Kavanagh, e da mesma forma que Rosa Montero usou a biografia de Marie Curie como espelho e filtro da sua própria dor, Barnes trabalhou sobre uma metáfora, a do balonismo. Mas em vez de ascender aos céus, na terceira parte do romance, intitulada “Perda de Profundidade”, Barnes desce aos abismos da dor e do luto. A literatura ergue-se como monumento funerário e como salvação, na medida em que, através dela, o escritor procura conferir sentido à ausência, relevar a importância e o significado do lugar que ficou vazio: “os escritores acreditam nos padrões que as suas palavras formam, e esperam e confiam que eles produzam ideias, verdades, histórias. É sempre essa a sua salvação, com ou sem dor.”
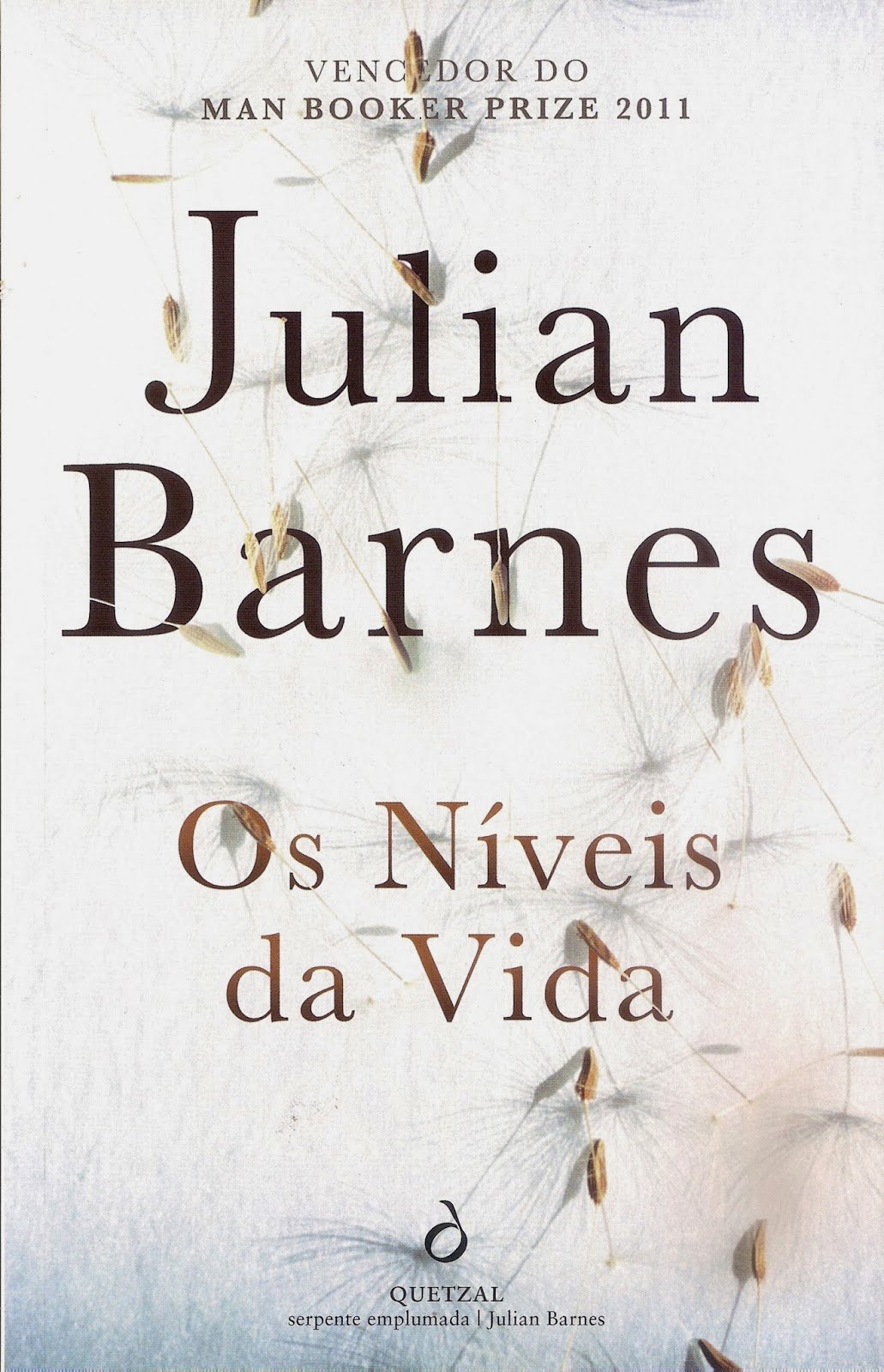
“Os Níveis da Vida”, de Julian Barnes
Barnes sabe que, após a morte de Deus, as descidas arriscadas a que se referia Atwood deixaram de ser possíveis, daí o título “Perda de Profundidade”: “Outrora, há muito tempo, podíamos descer ao Submundo, onde os mortos continuavam a viver. Hoje, para nós, essa metáfora perdeu-se […]” Ao contrário de Orfeu (Barnes relata a experiência de assistir à ópera de Gluck, Orfeu e Eurídice), não podemos negociar com os deuses uma viagem ao inferno: “Perdemos as velhas metáforas e temos de encontrar novas. Não podemos ir lá abaixo como ele [Orfeu] foi. Por isso temos de ir lá abaixo de outra maneira, ir buscá-la de outra maneira.”
Os mortos nas páginas dos romances
Perdida a metáfora, onde é que os mortos continuam a viver, onde é que os podemos encontrar? Onde sempre viveram. Na memória e nos sonhos dos vivos: “Ainda podemos ir lá abaixo em sonhos. E podemos ir lá abaixo na memória.” Barnes conta que foi essa perceção que lhe limpou do espírito a ideia do suicídio: “Percebi que, se ela ainda vivia algures, era na minha memória. […] Se estava em algum sítio, era dentro de mim, interiorizada. Era normal. E era igualmente normal – e irrefutável – que eu não podia matar-me, porque assim estaria a matá-la também.” Na verdade, a descida na memória é sempre uma viagem ao fundo de nós mesmos: “Carregamos os nossos mortos às costas […] Ou então somos relicários dos nossos entes queridos. Trazemo-los cá dentro, somos a sua memória”, escreve Rosa Montero.
Sendo impossíveis de controlar, os sonhos oferecem no entanto um consolo real. Há alguns meses, em entrevista ao Jornal de Negócios, o médico Francisco George falou sobre a morte da mulher e de uma filha num acidente. O jornalista perguntou-lhe como lidava com o luto: “Não esquecer. Deixar o subconsciente tratar de nós sem ajudas, sem interferências sem psicólogos, sem psiquiatras, sem comprimidos. Deixar funcionar as nossas defesas. Por exemplo, o sonho é muito compensador. Quando sonho com a minha filha e a minha mulher fico compensado. São sonhos bons. É como interromper as saudades.” Barnes diz que os sonhos são como “são porque já há suficiente arrependimento e autocensura no tempo vivido, real. […] são sempre fonte de consolação.” Curiosamente, em Os Níveis da Vida afirma que a memória, ao contrário do que imaginava, é mais falível do que os sonhos, um bilhete que nem sempre dá acesso ao Submundo.
“Afundamo-nos em sonhos e afundamo-nos na memória.” Barnes lembra os conselhos bem-intencionados de quem quer ajudar os outros a ultrapassar a perda sugerindo que deixem de viver no passado e agarrem o presente. Só que o presente não é apenas esquivo, como está saturado de uma ausência. Noutro livro de homenagem à amada que morreu (Fernanda, memorial de Ernesto Sampaio à sua mulher, a atriz Fernanda Alves), o autor escreveu que “através da morte, do «morrer», o que nos aparece com mais força é o carácter inapreensível do presente, essa ilusão que oscila entre dois sorvedouros, o passado e o futuro”. Como é que é possível viver num tempo onde se abriu a cratera profundíssima da ausência?
A escrita, as palavras, são a única forma de colmatar a ausência, de tornar tolerável o presente, de recriar, na medida do possível, a presença do ser amado. Os livros sobre a perda são monumentos funerários, jazigos públicos de dores privadas. São também viagens pessoais a lugares inóspitos de onde se regressa, sim, mas com o quê? Com os mortos? Com uma ilusão consoladora mas fugaz?
Numa entrevista ao jornal The Guardian, o crítico literário James Wood disse que “os romances trazem os mortos de volta às páginas apenas para os matarem uma segunda vez, para os condenarem ao pretérito perfeito. A magia da ficção é uma ressurreição aparente”. Isso acontece não só na “mecânica da ficção” mas também na dinâmica da memória. Julian Barnes diz que quando a memória lhe falha “parece que ela me escapa pela segunda vez: primeiro perco-a no presente, depois perco-a no passado”. Contudo, isso não significa que os rituais de celebração dos mortos – em que a literatura também se inclui – sejam inúteis. Tal como os restantes rituais, a literatura não traz ninguém de volta, mas ajuda os vivos a sobreviver num presente partido, mais que imperfeito.
Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor e autor do romance “As Primeiras Coisas”, vencedor do prémio José Saramago em 2015.















