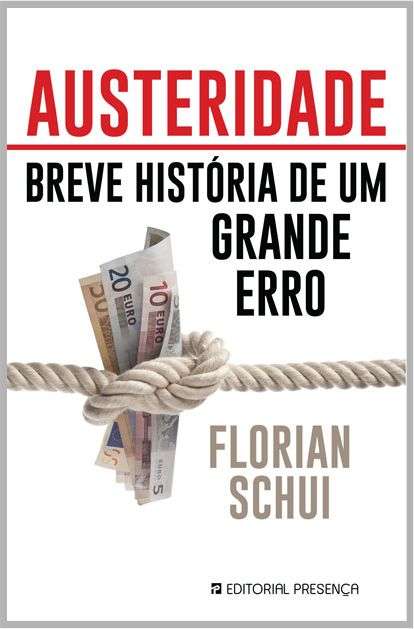Nunca um economista desfrutou de tanta popularidade como aquela que nos nossos dias envolve John Maynard Keynes. Não só é o único economista que o cidadão medianamente informado será capaz de nomear – para lá dos economistas que, em cada país, ganharam notoriedade no exercício de funções governativas, partidárias, de gestão ou de comentário no espaço mediático – como a sua popularidade ultrapassa a de todos os outros economistas somados. Mesmo quem se oponha às suas teorias tem de admitir que Keynes foi um pensador influente: entre as 75 individualidades que até hoje receberam o chamado “Prémio Nobel da Economia”, pelo menos 15 pertencem à escola keynesiana.
Keynes faleceu em 1946, 23 antes de o prémio ter sido instituído, senão teria, seguramente, sido distinguido. A sua morte causou comoção à escala global: teve direito a um dia de luto nacional na Grã-Bretanha, uma cerimónia fúnebre na Abadia de Westminster, com a presença de uma constelação de individualidades da política e da cultura, encabeçada pelo Primeiro Ministro britânico Clement Attlee, e homenagens, em paralelo, na Capela do King’s College da Universidade de Cambridge (a sua alma mater) e na National Cathedral, de Washington. Um dos elogios fúnebres, por um professor de Harvard, descrevia-o “cruzando a vida como um colosso da Renascença e fazendo todos os economistas e políticos dos nossos dias parecer, por comparação, figuras lamentáveis”. O obituário do The Times afirmava que “para encontrar um economista de influência comparável teríamos que recuar até Adam Smith”. É o mais próximo da canonização que algum economista alguma vez esteve.
O prestígio de Keynes entre os seus pares nunca esmoreceu e em 1998 o Prémio Nobel Paul Krugman defendia mesmo que “Keynes é mais importante hoje do que há 50 anos”, sem explicar se tal resultava de Keynes ter crescido depois de morto ou de entender que os economistas e políticos se tinham tornado, entretanto, em figuras ainda mais lamentáveis.
O cidadão comum acabaria, porém, por esquecer o autor da Teoria Geral de Emprego, do Juro e da Moeda – até que o crash de 2008, a concomitante crise das dívidas soberanas europeias e o debate que nasceu sobre a melhor forma de debelar a última, sobretudo nos países da Europa Meridional, trouxe Keynes de novo à ribalta.
Os que defendem a política de austeridade imposta pela troika e pela Europa do Norte alegam que não há outra forma de recolocar os países nos carris e que é preciso aguentar de dentes cerrados enquanto as empresas fecham, os trabalhadores vão para o desemprego e os salários e os apoios sociais se reduzem – e apoiam-se no arqui-rival de Keynes, o austríaco Friedrich Hayek.
Do outro lado, os adeptos de Keynes garantem que se uma economia está doente, a austeridade vai certamente matá-la. Advogam que a injecção de dinheiro pelo Estado, nomeadamente através de programas de obras públicas, é a única forma eficaz de dinamizar a economia quando um país está em recessão, e apresentam como prova da eficácia destas medidas, a actuação, inspirada por Keynes, da administração Roosevelt durante a Grande Depressão.
Entre os adeptos das políticas keynesianas contam-se economistas reputados e de grande projecção mediática, como Paul Krugman e Joseph Stiglitz (outro Prémio Nobel), e os autores de dois livros acabados de editar em Portugal: Keynes: Uma teoria útil à economia mundial, de Peter Temin & David Vines (D. Quixote), que explana a essência do pensamento keynesiano e o aplica ao presente contexto económico, e Austeridade: Breve história de um grande erro, de Florian Schui (Presença), que esboça a história da austeridade da Antiguidade Clássica aos nossos dias, colocando ênfase nas visões opostas de Keynes e Hayek sobre o assunto.
Schui lembra que “nos anos 30 do século XX, a maior crise da história do capitalismo foi vencida através de mais e não de menos consumo” e que devemos agradecer isso a Keynes e que, em contrapartida, quando, “nos finais da década de 70, [Hayek] foi escutado pelos que estavam no poder no Reino Unido [Margaret Thatcher] e noutros países, a consequência foi uma série de medidas políticas que agravaram a retracção económica”. Schui favorece tão inequivocamente as políticas expansionistas que rechaça até as ideias de contenção no consumo defendidas pelos ambientalistas em nome da preservação do planeta e da perspectiva de esgotamento de recursos naturais.
Em Keynes: Uma teoria útil à economia mundial, Temin & Vines explicam, de forma sintética, a evolução do pensamento de Keynes e a forma como este desafiou as concepções da economia vigentes no seu tempo e fazem uma resenha da história económica do século XX à luz de uma interpretação keynesiana. A análise de Temin & Vines assenta em modelos muito abstractos e que assumem tantas simplificações que acabam por ter escassa relação com o mundo real, mas tal não os impede de estabelecer paralelismos entre algumas situações no período entre-guerras e a presente crise económica, com relevo para o Sul da Europa: “Os países endividados na Europa são agora forçados a tentar regressar ao equilíbrio externo unicamente através da austeridade. Na zona euro, sendo a sua taxa de câmbio fixa [uma vez que partilham o euro como moeda], têm de reduzir os preços. Estão a ser colocados na posição da Grã-Bretanha depois da I Guerra Mundial, que gerou muita infelicidade e em última análise uma greve geral.”
Porém, embora Temin & Vines sejam keynesianos entusiásticos (o livro tem por vezes um tom hagiográfico) e reprovem a austeridade imposta aos países endividados do Sul da Europa, não preconizam para estes o aumento da despesa pública: “Só alguns países têm de alterar as suas políticas económicas para restabelecer o equilíbrio e a prosperidade na economia mundial. China, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos, todos têm activos internacionais ou podem contrair empréstimos a baixas taxas de juro”, que deveriam aplicar em políticas públicas destinadas a aumentar o consumo interno, o que “reduziria a pressão sobre os países com défice”. Por outras palavras – que Temin & Vines, que são irrepreensivelmente secos e formais, nunca usariam – a crise da Europa do Sul resolver-se-ia se a Sr.ª Merkel aumentasse os ordenados e as pensões na Alemanha, de forma que o Hans pudesse trocar a mortadela de marca branca do Aldi por presunto de porco preto alentejano alimentado a bolota e a Ulrike pudesse trocar as sandálias de plástico compradas no Lidl por umas Fly London ou umas Cubanas.
Porém, não faltam keynesianos que advogam que Portugal deveria enveredar por um generoso programa de despesa pública, assumindo automaticamente que o que funcionou nos EUA da década de 30 irá funcionar da mesma forma no Portugal de hoje, sem se interrogarem sobre se será o contexto análogo e as causas da recessão as mesmas.
Muitos keynesianos de hoje citam a todo o momento as recomendações do economista britânico para tempos de crise, mas esquecem a sua advertência para tempos de bonança. Até o anti-austeritários Schui dá destaque a esta célebre frase de Keynes: “A expansão, não a depressão, é a altura certa para a austeridade por parte do Tesouro”.
Não foi isso que Portugal fez nas últimas décadas, apesar de no período 2005-2011 termos sido governados por um keynesiano obstinado – José Sócrates. Os restantes países do Sul da Europa também ignoraram o conselho de Keynes para acumular poupanças em tempo de vacas gordas e até Temin & Vines reconhecem que “os empréstimos [contraídos pelos países do Sul] não foram usados para construir infraestruturas do tipo que suportaria o crescimento, mas simplesmente para acumular dívida”. O Estado português – como as empresas e os cidadãos – recorreram ao crédito barato, sem que a injecção maciça de dinheiro tivesse feito crescer significativamente o PIB ou impulsionado a estrutura produtiva para novos patamares de eficácia e competitividade – a economia portuguesa já tinha taxas de crescimentos anémicas bem antes de a bolha do subprime ter estoirado.
Então por que se acredita que a injecção de dinheiro na economia pelo Estado em tempo de crise será capaz de produzir o “efeito catalisador” que essa injecção não foi capaz de produzir em tempo de bonança?
Portugal em 2015 e os EUA nos anos 30
Considerem-se agora as diferenças de contexto entre o Portugal de 2015 e os EUA dos anos 30: o comércio internacional, que florescera no início do século XX (embora ainda muito longe da intensidade e velocidade que conhece hoje), regredira abruptamente com a I Guerra Mundial – nas palavras de Niall Ferguson, “o afundamento do Lusitania [em 1915] simbolizou o término da primeira era da globalização”.
A maioria dos países tenderam a fechar-se sobre si mesmos e os EUA foram dos que fizeram um “encerramento” mais drástico: em 1930, o Smoot-Hawley Traiff Act impôs tarifas aduaneiras inéditas sobre 20.000 produtos importados, contribuindo para fazer as importações e as exportações cair a pique (e cair muito mais do que a queda do PIB que acompanhou a Grande Depressão). Sendo os EUA um país de enormes dimensões e que se basta a si mesmo em muitos domínios, ficou convertido quase numa “ilha” económica. Nestas condições, o dinheiro investido pelo Estado num programa de construção de estradas no Iowa ficava em boa parte dentro do Iowa e ficava quase todo dentro do país, pelo que tinha um forte “efeito multiplicador” na economia nacional – Keynes calculou que esse efeito teria um factor de 1,8, ou seja, que cada dólar gasto geraria 1,8 dólares.
Tal poderá ter sido verdade nos EUA de 1935, mas dificilmente continuará a ser verdade nos EUA de 2015. Mais dificilmente ainda será verdade no Portugal de 2015, país pequeno, permeável, com uma economia aberta, que importa do estrangeiro muito do que consome (50 milhões de euros/dia), que tende a depender de mão-de-obra estrangeira para muito do trabalho sujo, pesado e mal pago e que, em tempo de vacas gordas e generosos fundos estruturais da UE, investiu em sectores não-produtivos: casas, rotundas, auto-estradas supranumerárias, campos de futebol, festas, fogo-de-artifício.
No Portugal de 2015, os fundos injectados pelo Estado são rapidamente dissipados nas turbulentas correntes da economia mundial. Muito desse dinheiro irá parar às mãos da Zara, da Apple, da Nestlé, da ExxonMobil, de uma fábrica de vestuário na China, da imigrante cabo-verdiana que o remete para uma conta na Cidade da Praia. E, last but not least, às mãos dos fabricantes de automóveis alemães: em 2014, mal despontaram perspectivas de algum alívio na situação económica portuguesa, logo a balança comercial foi desequilibrada pelo acréscimo de aquisições de Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen e Opel – as empresas alemãs parecem, afinal de contas, ser das principais prejudicadas pela austeridade impostas pela Sr.ª Merkel à Europa do Sul.
Talvez o famoso “efeito multiplicador” no Portugal de 2015 se aproxime de 1 e um euro gasto seja apenas um euro gasto – o que será preocupante se o pedimos emprestado.
Outra diferença de monta resulta de o peso da despesa do governo em percentagem do PIB ser bem diferente no Portugal de 2015 e nos EUA de 1930.
Em A Quarta Revolução: A corrida global para reinventar o Estado (acabado de editar pela D. Quixote), John Micklethwait & Adrian Woolridge traçam a evolução da natureza e papel do Estado nos últimos 400 anos. Até à viragem dos séculos XIX-XX, houve um confronto, com avanços e recuos, entre o pensamento liberal, que defende um Estado mínimo, e o pensamento estatista, com uma visão do governo muito mais intervencionista, mas a tendência genérica a partir da década de 1930 tem sido para o crescimento do Estado e, concomitantemente, do seu peso na economia – e Micklethwait & Woolridge são inequívocos ao atribuir ao keynesianismo o papel de “motor intelectual do Estado grande”.
Nos EUA, a despesa pública em percentagem do PIB era de 7% em 1900, subiu para 30% em 1918, devido ao envolvimento na I Guerra Mundial, desceu para 10% no final dos anos 20, subiu para 20% em meados dos anos 30 em resultado da aplicação de políticas keynesianas, atingiu um pico de 50% em 1945, com o país inteiramente devotado ao esforço de guerra, e tem oscilado entre 33-35% nos últimos 40 anos, com um pico de 40% na resposta ao crash de 2008.
A Europa Ocidental registou análogo crescimento da despesa do Estado ao longo do século XX, mas como o Estado Social tem mais preponderância que nos EUA, o peso da despesa do governo em percentagem do PIB anda hoje em torno dos 45-55%, com máximos de 58% na Dinamarca e 56% em França. Em Portugal, era de 33% em 1980 e subiu consistentemente ao longo das décadas de 80 e 90, de forma que tem andado, durante o século XXI, entre os 45 e os 50%.
Quando a despesa do Estado duplica, como aconteceu nos EUA nos anos 30 (onde passou de 10 para 20%), os efeitos são dramáticos – mas não podem esperar-se efeitos semelhantes quando se passa de 45 para 55% ou de 50% para 60%. Mas na Europa Ocidental a despesa do Estado já tem um peso tão grande que não é fácil aumentá-la em 10 pontos percentuais para suportar políticas keynesianas – afinal de contas, salvo se um país tiver sido abençoado com generosas reservas de petróleo, a despesa do Estado está intimamente dependente aos impostos colectados e poucos cidadãos estarão dispostos a ver a carga fiscal aumente de 40% (média da zona euro) para 50%. Keynes seria, provavelmente, o primeiro a opor-se a tal aumento, já que, como recordam Micklethwait & Woolridge, defendia que a despesa do Estado nunca deveria ultrapassar 25% do PIB.
Nenhum destes argumentos nos diz se a medida certa para tirar Portugal da presente crise é a política austeritária ou o aumento da despesa pública – mas se o segundo for eficaz, sê-lo-á por razões diversas das que o fizeram funcionar nos EUA dos anos 30 e não seria necessariamente a escolha que Keynes faria, já que o que hoje passa, no senso comum, por keynesianismo resulta da cristalização de alguns dos conselhos de Keynes, mas de nenhuma das suas advertências em sentido contrário.
Independentemente da adequação ou não de soluções supostamente keynesianas à presente situação portuguesa, os que as advogam laboram quase sempre em mais equívocos. Um deles é o de atribuírem-se qualidades infalíveis a Keynes – seria bom lembrar, por exemplo, que o distinto economista também previu que o horário de trabalho seria progressivamente aligeirado, de forma que em 2030 tomaria apenas três horas por dia, uma miragem paradisíaca que parece cada vez mais remota numa época em que, nos países desenvolvidos, se pede aos trabalhadores que trabalhem mais horas por dia, que prescindam de feriados e adiem a idade da reforma. E também abraçou causas muito pouco éticas, como seja a defesa da eugenia – considerava-a “o mais importante […] e genuíno ramo da sociologia” e foi director da Sociedade Britânica de Eugenia.
Outro equívoco é atribuir a Keynes uma aura de socialista e de inimigo do Grande Capital. Schui faz notar que Keynes “não queria derrotar o capitalismo. Queria, sim, moldá-lo de forma que funcionasse tão eficientemente como Keynes sabia que ele podia funcionar.” Afinal de contas, Keynes passou parte da carreira como gestor de fundos de investimento e a especular nos mercados financeiros e foi suficientemente hábil para gerar generosos proventos para os fundos do King’s College e para si próprio (a sua fortuna à data da morte equivaleria hoje a 15 milhões de euros).
Keynes defendia ainda que a intervenção do Estado na economia através do controlo de preços e do planeamento parcialmente centralizado (como existiu nos EUA durante a II Guerra Mundial) deveria ser apenas um expediente temporário, e na sua Teoria Geral rechaçou os argumentos esquerdistas de que o capitalismo era a principal causa das guerras. Para além disso, foi presidente do Liberal Club da Universidade de Cambridge e apoiou, ao longo de toda a vida, o Partido Liberal, que representou na Câmara dos Lordes.

John Maynard Keynes, ao centro, na conferência de Bretton Woods, em 1944 (Hulton Archive/Getty Images)
Micklethwait & Woolridge apresentam-no como “um elitista impenitente que queria preservar a alta cultura da intelligentsia vitoriana” e até Schui admite que “Keynes era muito mais elitista e muito menos um coração compassivo do que a imagem que muitas vezes dele tem sido apresentada”, e não perdeu tempo em busca de soluções para “assegurar que os resultados provenientes do aumento da produtividade fossem distribuídos de forma justa na sociedade do futuro”.
Não é, pois, inesperado que Keynes proclamasse que a teoria marxista não passava de uma conversa da treta complicada (“complicated hocus pocus”), que tinha por bíblia “um livro obsoleto que não só é cientificamente incorrecto como não tem interesse ou aplicação no mundo moderno”. E deixou claro que “a luta de classes há-de encontrar-me do lado da burguesia culta”.
Eis uma catadupa de baldes de água gelada que deveria extinguir instantaneamente os ardores dos devotos keynesianos na banda esquerda do espectro ideológico.