Índice
Índice
“Colheste as flores
da tua chama
apagaste devagar
os teus sentidos”
A voz é de Teresa Paula Brito, perante um auditório em silêncio, na Avenida Visconde Valmor, em Lisboa, expectante para um lançamento literário e discográfico que certamente seria recordado nos anos vindouros como um acontecimento notável, formador da canção portuguesa, com apresentação do poeta David Mourão-Ferreira e cobertura em peso dos jornais, rádio e televisão. Ao lado do palco, de braços cruzados, Maria Teresa Horta recolhe-se enquanto a plateia folheia o seu livro de poemas, Minha Senhora de Mim, e ouve uma versão rock’n’roll que acentua a insubmissão dos versos: “Meu aceso lume — Meu amor”.
“Sossegaste o corpo
em sua cama
desguarneceste em mim
os teus motivos”
Os motivos do poema eram claros, a volúpia do sexo que arde desgovernada pelo corpo, que sendo feminino em plena ditadura patriarcal é um “profundo segredo” de “secreto recanto”. As canções são transgressoras e necessárias, como o rock mais instigante que sobrevive ao teste do tempo, e os elementos estão todos alinhados: o cunhado de Maria Teresa Horta, Nuno Filipe, dá um andamento de rock progressivo, remete para a carnalidade do poema e para aquele momento particular do rock anglo-saxónico; a vocalista Teresa Paula Brito, apontada pela imprensa como a derradeira voz feminina desta geração, controla a tensão e cicia simultaneamente apaixonante e ameaçadora; e nos bastidores está a banda revolucionária de José Cid, o Quarteto 1111, que combatia na linha da frente pelo entrosamento da canção moderna com a música portuguesa.
“Que a vela acesa corte a madrugada
e lhe desdiga a calma e a palavra
Colheste devagar o meu queixume
Ó meu amor!
Ó meu aceso lume!”
Três semanas depois do lançamento do livro e do EP Minha Senhora de Mim, que a revista Mundo da Canção considerou ser “a gravação de música portuguesa mais importante do ano”, mais um candidato a lançamento do ano: numa audácia assombrosa, do cravo à marimba, José Cid grava sozinho todos os instrumentos no álbum de estreia. E continuemos em maio, agora no Estádio Municipal de Coimbra, onde a competição de bandas do Festival Pop-71 reúne uma plateia “trajando roupas um pouco bizarras”. O resultado do certame é divulgado no “Página Um”, o programa da Renascença reconhecido pelas transmissões em direto na Assembleia Nacional, logo nas intervenções dos deputados liberais que exigiam liberdade e limpavam o bafio ao debate político. E o início do programa é sempre assinalado pelo indicativo dos Pop Five Music Incorporated, a banda prog do Porto que grava discos em Londres para conquistar o resto da Europa. Aparentemente, o rock estava no lugar e momento certo: Portugal em 1971.
O preço a pagar por “Minha Senhora De Mim”
No centro da televisão, o Presidente do Conselho Marcello Caetano considera, em tom condescendente, numa das suas monótonas “Conversas em Família” com a nação portuguesa, que os novos deputados da Assembleia Nacional devem abrandar a ânsia de liberdade: “Procuro assim, prudentemente, levar o país a adaptar-se a novas ideias e a novas fórmulas, sem sobressaltos escusados, e que, seriam altamente inconvenientes na atual conjuntura nacional”. A atual conjuntura nacional fazia-se de três frentes de guerra, o que não impedia os deputados da Ala Liberal, desde Francisco Pinto Balsemão a Miller Guerra, de sugerir um aligeirar da censura nas manifestações culturais. Os jornais ecoam estes argumentos e o jornalista Viriato Dias transmite as sessões em direto no “Página Um”. O contexto de abertura — com o devido atraso — parece ser finalmente favorável para a juventude portuguesa criar a sua revolução social e cultural, em linha com as restantes convulsões do mundo Ocidental na década anterior, desde São Francisco a Paris.
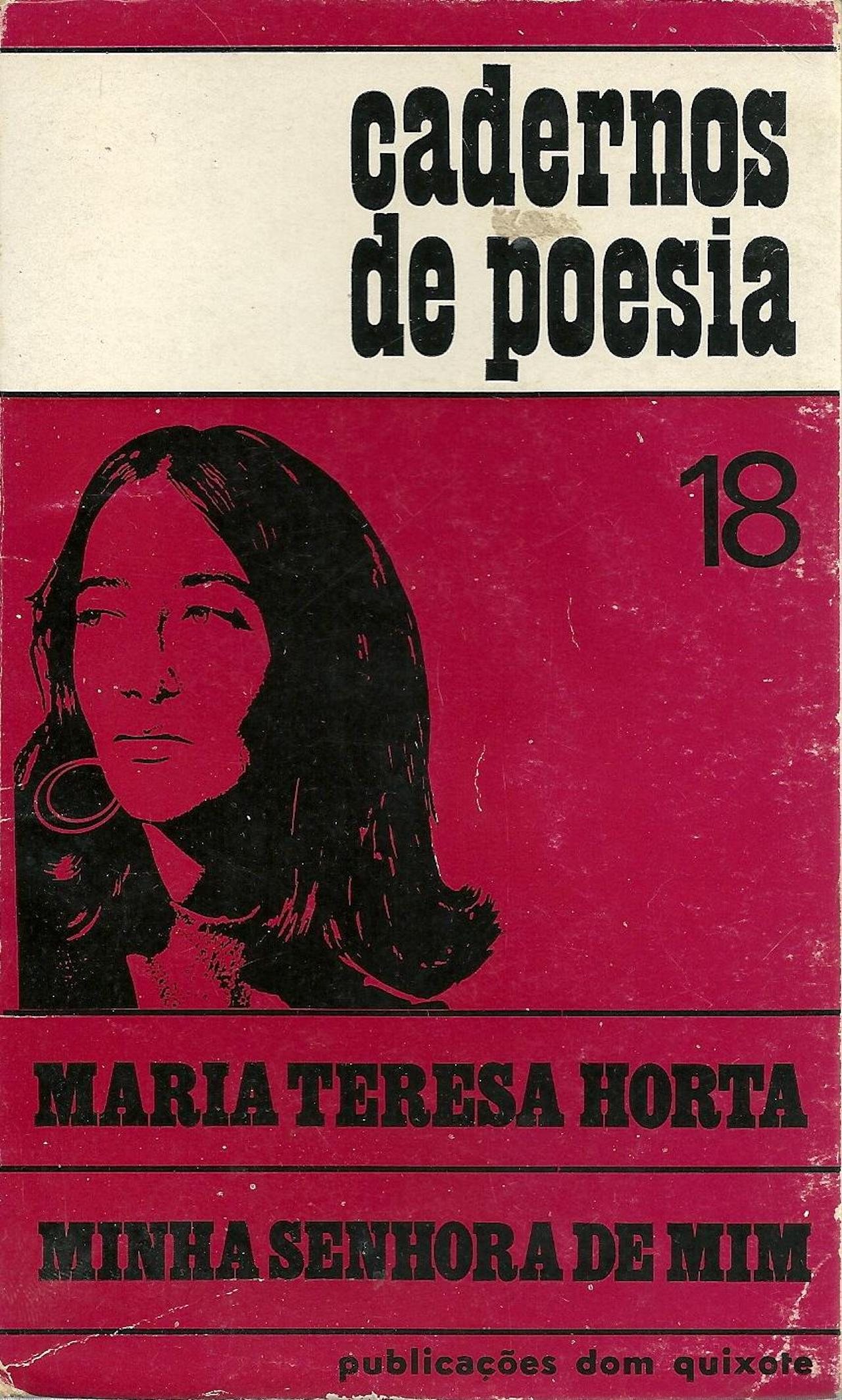
▲ A capa de "Minha Senhora de Mim", com os poemas de Maria Teresa Horta, livro publicado pela Dom Quixote
Um dos sinais que haveria em Portugal uma revolução cultural jovem em potência foi precisamente na mesma televisão pública em que Marcello Caetano entrava estático em cena, em longos monólogos. O fenómeno do “Zip-Zip”, o programa da RTP que definiu a canção jovem portuguesa, provou que existia uma audiência desejosa de ser retratada no televisor a preto e branco. Porém, o “Zip-Zip” transmitiu o último episódio em 1969, e a RTP tentava, em vão, repetir a receita. Uma hipótese é o “Curto-Circuito”, com o Conjunto Pedro Osório; outra é o “Canal 13”, gravado no teatro ABC, no Parque Mayer; e ainda, domingo à noite, o “Pop 25” — “programa novo para gente jovem” — que intercala entrevistas de José Nuno Martins com telediscos — “grandes sucessos musicais com pequenos filmes”. Entre estes telediscos, Maria Teresa Horta não perde a oportunidade para assinalar a José Nuno Martins, com coragem, que “as mulheres podem fazer poemas como os homens”, enquanto ouvem as canções lisérgicas de Minha Senhora de Mim. E isto numa altura em que estava nas bancas a revista Menina e Moça, que aconselha as leitoras à existência discreta e repudia “o tipo de canção que grita estridências de revolta e se faz acompanhar de contorções avulsas”.

▲ O "Zip Zip" de Fialho Gouveia, Raul Solnado e Carlos Cruz
A aliança de uma poesia sensual à canção divide as hostes. Por um lado, o crítico de música Tito Lívio elogia a “atmosfera de violência” com “uma guitarra ácida tão rara entre nós”. Mas Nelson de Matos, no Suplemento Literário do Diário de Lisboa, denuncia o “erotismo publicitário” destas estrofes ao jeito de cantigas de amigo, “que poderemos designar o estilo José Carlos Ary dos Santos”. E assim como o seu colega Ary dos Santos, que bate o ponto no lançamento de Minha Senhora de Mim na Avenida Visconde Valmor, Maria Teresa Horta acredita fervorosamente que a sua poesia deve entrar na canção, custe o que custar:
“A minha posição em relação à canção, foi, é, e será sempre a mesma: custe o que custar, uso este meio para uma divulgação mais eficaz da minha poesia; acho que todos os poetas deviam descer à canção (…) A minha poesia normalmente só atinge certas e determinadas elites. É um facto, o qual tenho que aceitar. Talvez porque não saiba fazê-lo de outra forma. No entanto, penso que essas elites foram alargadas em Minha Senhora De Mim.” (Mundo da Canção, 1971)
O músico Nuno Filipe, de Aveiro, com quem colabora há três anos, é uma escolha natural para musicar estes últimos poemas. E na voz, só existe uma possibilidade: Teresa Paula Brito. “No meio pobre, medíocre, do nosso meio musical, a sua voz cresce com um corpo diferente, um grito de autenticidade”, explica a poetisa à Mundo da Canção. Ary dos Santos concorda: “Teresa Paula Brito é um talento, palavra que já não se usa, é uma força, palavra da qual se abusa”. E a revista de música sentencia: “1971 para Teresa será o ano das concretizações.” A cantora vinha da escola da Emissora Nacional, mas ao contrário dos seus contemporâneos, do tal “nacional-cançonetismo”, escolhe o repertório a dedo, entrega-se espontânea e sem concessões, em colaborações que ecoam na nova música popular portuguesa, desde “Os Verdes Anos” com Carlos Paredes, a “Vai, Maria Vai” com José Afonso. E Teresa Paula Brito ainda domina a canção negra norte-americana, dos blues ao jazz, e agora, com desembaraço, o rock desgarrado de Minha Senhora De Mim, que culmina numa interpretação transcendente de “Existem Pedras”.
O preço pela ousadia de Minha Senhora De Mim foi caro. O livro de Maria Teresa Horta é imediatamente apreendido pela PIDE, que retira o alegado objeto de “imoralidade” e “pornografia” de todas as livrarias de Portugal. A editora do livro, Snu Abecassis, da Dom Quixote, recebe uma ameaça de César Moreira Baptista, secretário de Estado da Informação e Turismo, sem qualquer espaço de manobra: se voltar a editar Maria Teresa Horta, a Dom Quixote fecha portas. E César Moreira Baptista ainda garante que o nome da escritora desapareça da imprensa nacional, incluindo de A Capital, onde a própria é editora do suplemento de literatura. O episódio de repressão moral culmina com a poetisa a ser surpreendida a caminho de casa, na Avenida Marconi, por três homens que a agridem violentamente.
No ano seguinte, quais cantigas, Maria Teresa Horta canaliza a raiva e frustração para Novas Cartas Portuguesas, com duas amigas que também estavam no lançamento de Minha Senhora De Mim: Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa — “As Três Marias”. E o resto é história, ou melhor, não é história: o cunhado Nuno Filipe nunca mais gravaria um disco; e a suposta voz feminina da nova canção, Teresa Paula Brito, ainda em 1971, é “apupada pelo público” no Festival Casa de Imprensa, no Coliseu dos Recreios, e abandona o palco em protesto, voltando a gravar somente após a revolução, no auto-aclamado “primeiro disco feminista português”, até lhe perdermos o rasto novamente.
Hoje, 50 anos depois de Minha Senhora De Mim, o senso comum não recorda sequer a existência de rock em português antes de Rui Veloso e UHF. As razões são amplas, a começar pela Primavera Marcelista, um sol de pouca dura que dirigiu uma censura e repressão moral particularmente cruel com os elementos desalinhados e frágeis que formavam o rock português. Depois, a própria indústria musical e discográfica, e até a oposição ao regime, não apostam propositadamente neste género musical, seja pela falta de lucro das edições e espetáculos, ou pelas questões de fundo ideológico. Aos músicos restou o deus-nos-acuda do serviço militar e eventuais bailaricos, com sistema de som de feira. O tempo encarregou-se de abafar esta canções, definitivamente afastadas da música popular que pretendia sublevar Portugal em 1971, e o rock português percorre uma longa travessia do deserto.
José Cid: uma música portuguesa de expressão universal
Para muitos, a primeira evidência de que o rock português perdeu o comboio em 1971 é a edição de apenas dois álbuns de rock neste ano formador da música popular nacional. O primeiro álbum de rock português lançado é de José Cid, que sem qualquer pompa e circunstância, num estabelecimento duvidoso, no dia 21 de maio, edita o LP de estreia, homónimo. O lançamento é no Porão da Nau, uma cave na Rua Pinheiro Chagas com fama de casa de alterne, propriedade do empresário de espetáculos Rui Castelar que transmite o acontecimento no Rádio Clube Português. “O Porão da Nau era uma casa de meninas, mas tinha um palco”, confirma José Cid a partir de sua casa, em Mogofores, notando que Rui Castelar “sabia perfeitamente que estávamos a fazer coisas que não agradavam ao regime Marcelista”.
É sintomático do estado do rock português que a existência do primeiro álbum de José Cid se deva sobretudo ao desembaraço de um autodidata em estúdio e também à lição aprendida depois de um ano a bater de frente com a repressão política e policial do regime. “Tinha acabado de gravar o álbum do Quarteto 1111, que teve a duração de uma semana nas bancas e imediatamente é mandado retirar”, recorda o músico, referindo-se ao LP de 1970 do Quarteto 1111, de resistência e alarme social, que a PIDE destrói todos os exemplares à vista. E ainda em 1970, José Cid tentaria organizar nos Salesianos do Estoril um festival de rock em Portugal nos moldes utópicos de um Woodstock, sendo surpreendido em cima da hora pela Polícia de Choque de Oeiras que agride plateia e transeuntes. O resultado é que, feitas as contas, naquela época, poucos ouviram o álbum da banda de rock-pop socialmente consciente ancorado na tradição do cancioneiro português, ou seja, apagou-se da história o álbum que poderia ter introduzido com sucesso o rock na conceção da nova música popular portuguesa. “Devo dizer que a censura Marcelista foi ainda mais feroz que a censura de Salazar”.

▲ José Cid nas teclas com o Quarteto 1111, na garagem do Estoril onde o grupo ensaiava, em 1970 (foto cedida por Michel Mournier)
Em 1971, na Ota, o oficial José Albano Cid Ferreira Tavares vivia uma existência dupla: durante o dia cumpria o serviço militar e dava aulas de ginástica; de noite, estava entre uma garagem no Estoril — que o Quarteto 1111 transforma em estúdio com um gravador de duas pistas e paredes forradas de caixas de ovos — e os estúdios da Valentim de Carvalho. Em Paço de Arcos, a banda de José Cid está à disposição da editora para apimentar qualquer gravação com psicadelismo e guitarrada. “Nessa altura, eu escrevia muita coisa que não cabia no reportório do 1111”, explica José Cid, que certo dia depara-se com uma quimera nos estúdios de Paço de Arcos: um gravador de oito pistas. “Chego à Valentim de Carvalho e vejo uma máquinas daquelas, chegadinha de fresco, e não estou com meias ideias, pedi autorização, agarrei-me à máquina e comecei a tocar todos os instrumentos”.
A Valentim de Carvalho dá carta branca ao músico, que grava sozinho todos os instrumentos, desde bateria e baixo, ao cravo e vibrafone, acompanhado pelo técnico de som Hugo Ribeiro, e com orquestração posterior de Pedro Osório. O fiasco do álbum do Quarteto 1111 parece revitalizar José Cid, que está em estúdio como numa missão de salvação do rock português. Na capa deste LP homónimo, também conhecido como A Palha, José Cid está vestido de pastor transmontano, empalhado, remetendo ao âmago da canção portuguesa: o campo. Na contracapa justifica:
“Dedico esta minha obra a todos os faunos que se interessam primeiramente pela Pop Music e em consequência disso se tornaram aptos a fazer ou compreender uma música portuguesa que será assim forçosamente actual e universal”
E dois meses depois, nos bastidores do Festival de Vilar de Mouros, explica melhor à Mundo da Canção o seu desígnio: “O 1111 e eu procuramos uma música portuguesa de expressão universal, uma música de raízes portuguesas, mas que ultrapasse o nosso espaço”. O espaço que José Cid pretendia ultrapassar é a “Lisboa Ano 3000”, uma cidade que descreve “em posição fetal”, carregada de efeitos, através de um teclado manhoso que estava encostado ao canto do estúdio. Os habitantes desta cidade capturada são personagens como o “Vampiro Bom” e o “Dragão”, este último um colaborador do regime que espera a recompensa final. Ou o maçador “Dom Fulano”, a cantiga de escárnio e maldizer de D. Dinis adaptada por Natália Correia, a nova amiga de José Cid. “A Natália apareceu na garagem do 1111 e também o Ary, mas ele tinha uma data de cantores da minha geração a compor com ele e a Natália não tinha”, justifica. “Optei por trabalhar com a Natália”. No final do ano, colabora novamente com Natália Correia no EP natalício História Verdadeira De Natal, onde está ainda “Ficou para a Tia”, que José Cid e o Quarteto 1111 — incluindo Tozé Brito — apresentam no Japão em 1971, no Festival Mundial da Música Popular.
A principal lição aprendida por José Cid com a censura era não mencionar, de forma alguma, a Guerra Colonial. No entanto, enquanto estava na Ota, um colega da tropa, Soeiro Samuel, mostrou-lhe o poema “Ni Helile”, do músico moçambicano Fany Mpfumo, que José Cid decide cantar na versão original, no dialeto Xironga, e com uma marimba de empréstimo do Duo Ouro Negro. O compositor que denunciou a falácia da Guerra Colonial com o Quarteto 1111 não esquecia a África subjugada e abraçava ainda o distante Brasil sob uma ditadura militar, primeiro em “Gabriela Cravo e Canela”, uma versão de Jorge Amado — escritor que tinha os livros proibidos de circular em Portugal — e depois numa canção composta por um exilado. Esta canção, confessa, foi um golpe de sorte: José Cid encontrou Gilberto Gil nas esplanadas do deck, no Estoril, a caminho do exílio em Londres. Na garagem do Quarteto 1111, Gilberto Gil — acompanhado por Caetano Veloso e Maria Bethânia — entrega a José Cid, em primeira mão, a canção pós-tropicalista “Volkswagen Blues”.
Segundo Miguel Augusto Silva, o responsável da editora Armoniz que reeditou José Cid em 2013, a primeira edição do álbum teve somente 400 cópias e foi um extraordinário fracasso de vendas. “O meu problema nunca foi vender, foi fazer os discos”, considera o músico, que não esquece a falta de apoio promocional e a crescente desconfiança da editora com uma carreira sem eira nem beira. “Nos primeiros anos fui olhado de lado pela Valentim de Carvalho menos por uma pessoa, o Mário Martins, um homem de esquerda que percebeu que eu estava a cantar grandes canções de oposição ao regime de uma forma que mais ninguém cantava”. A própria crítica musical não entende o que leva José Cid a pegar em todos os instrumentos — “puro virtuosismo gratuito” — e a procurar uma mensagem de universalidade, ao invés da crítica contundente — “uma linha de uma utopia e idealismo catolicizados muito longe das realidades circundantes”, nota a Mundo da Canção. Em “Não Convém”, José Cid reflete este caminho de amadurecimento como compositor, que anos mais tarde, bem sabemos, resultaria em sucessos estrondosos:
“Que mais podes tu fazer?
Perguntas tudo ao teu pai
Que não te vai responder
Pois não lhe convém
Nem convém
A ninguém
Um certo Domingo à tarde
No sofá roxo do living
Estás a ouvir Em Órbita
E a pensar
Os teus amigos chegaram
Não pertencem ao teu mundo
Decidiste
Nunca mais representar”
“A censura endureceu, e muito”
Na semana seguinte a José Cid lançar o seu primeiro álbum, o programa de rádio “Em Órbita” anuncia a última transmissão. Escreve a Disco, Música & Moda, um jornal quinzenal da especialidade em 1971: “Epitáfio — por um ‘Em Órbita’ defunto e uma rádio gravemente doente”. O final do programa que cultivou o gosto rock de uma geração e renegou a lógica dos discos pedidos era anunciado como uma catástrofe. O compositor Nuno Nazareth Fernandes, ao Diário de Lisboa, admite a gravidade da notícia: “considero o fim do ‘Em Órbita’ o acontecimento mais grave para música portuguesa no corrente ano. Embora só transmitisse música de expressão anglo-americana, o seu aspeto formativo constituía um processo de educação musical sem concessões a moda”.
Segundo um inquérito da Emissora Nacional, a preferência dos ouvintes jovens era destacadamente de ouvir “música pop”. As direções das rádios e os anunciantes estavam atentos, e dois novos programas são líderes de audiências do segmento jovem: “Tempo Zip” e “Página Um”. Apesar do diagnóstico desastroso de “uma rádio gravemente doente”, estes dois programas evidenciam uma maior capacitação técnica, com profissionais formados na Rádio Universidade, que por sua vez, no rescaldo das crises académicas, é um embrião de contestação ao regime. Mas o que convence as emissoras e os anunciantes não é propriamente a contestação, é a transformação destes programas em espetáculos de grande audiência, com locutores entertainers e um jornalismo dinâmico — o “Tempo Zip” de Raul Solnado, Carlos Cruz e Fialho Gouveia, por exemplo, faz uma transmissão a bordo de um hovercraft entre Setúbal e Tróia.
Num segundo andar esquerdo na Rua Capelo, Chiado, o responsável pelos serviços comerciais da Renascença, Mário Pimentel, lia o noticiário em recortes de jornais, colados a resina, ou consultava diretamente o jornal, com vagar, para não se ouvir o folhear na transmissão. É neste cenário de pré-histórica que começa um programa de outra espécie mais evoluída. “O ‘Página Um’ era o programa mais jovem e o mais direcionado à massa estudantil, tanto na irreverência como na parte musical, e tinha reportagens e entrevistas, uma componente contestatária, dentro do possível”, reflete hoje o ex-jornalista do programa, Adelino Gomes, contratado por José Manuel Nunes, assim como Viriato Dias que cobre as intervenções na Assembleia Nacional. “Até que a Secretaria de Estado da Informação e Turismo proibiu a transmissão de partes do debate”, recorda-nos o próprio José Manuel Nunes, que é o responsável pela seleção musical e consegue desenrascar uma solução para estar um pé à frente da concorrência:
“A produção nacional era mínima em relação à música que eu pretendia tocar. A partir de certa altura tivemos ajuda de um colaborador no Porto, o Fernando Tenente, que estabeleceu uma relação com o Arnaldo Trindade e a Rádio Triunfo que representava em Portugal muitas etiquetas, e ele encarregou-se do fornecimento das últimas novidades para a Página Um”.
Eram colaboradores como Fernando Tenente — ou o próprio baterista dos Quarteto 1111, Michel Mounier, comissário de bordo da TAP — que garantiam que as últimas novidades do rock anglo-saxónico chegavam às rádios portuguesas, independentemente dos discos serem alguma vez editados em Portugal. O momento de fulgor destes programas é interrompido quando, já em 1972, Adelino Gomes decide lançar um comentário mais arrojado no ar sobre o Massacre nos Jogos Olímpicos de Munique, que o jornalista João Paulo Guerra replica no “Tempo Zip”. Os dois programas são imediatamente suspensos por Pedro Feytor Pinto, diretor da Secretaria de Estado da Informação e Turismo. Consequentemente, a Renascença decide formar uma redação profissional e implementar uma censura interna mais rigorosa, noutro episódio que escancarou a ilusão da Primavera Marcelista. Sublinha Adelino Gomes: “E meses depois, quando o programa regressou — a condição para isso era que eu não fizesse parte da equipa — a censura endureceu e muito”.
Pontualmente, o “Página Um” cedia espaço a alguma nova música portuguesa, um dos favoritos era Fausto Bordalo Dias, que convida o próprio José Manuel Nunes para participar no seu primeiro álbum, em 1970. O álbum Fausto apontava um caminho diferente — e porventura mais viável — para o rock português: a integração com a canção de intervenção. Em 1971, Vieira da Silva e Denis Cintra revigoraram o género da dita “balada” em “Do Menino Que Foi Jovem” ou “Canção de Ódio e Raiva Nº 2”; enquanto em Paris, Sérgio Godinho e José Mário Branco recorrem à guitarra e distorção para “Maré Alta” e “Cantiga para Pedir Dois Tostões”. O rock português poderia seguir esta evolução natural, de olho na revolução. Porém, ao contrário de José Cid, a prioridade destes cantautores não era uma música portuguesa moderna de expressão universal, era a agitação social e a resistência. Fausto, Denis Cintra e Vieira da Silva, por exemplo, entregam-se de corpo inteiro aos encontros clandestinos de associações, sobretudo na Margem Sul, ajuntamentos informais à revelia da PIDE onde não havia palco para conjuntos e guitarras.
Aos poucos, a canção de intervenção despe-se de rock, com o próprio Fausto a renegar publicamente o seu primeiro álbum. O divórcio era natural, afinal, parte da oposição ao regime que dinamizava esta nova música popular portuguesa prosseguia absolutamente resoluta que o rock estava a mando do capitalismo e dos EUA — “uma fabulosa máquina industrial” que está “manipulando a mal preparada juventude”, descreve Luís de Melo na Mundo da Canção sobre o rock em 1971, rematando: “Se alguém quiser brincar ao artista, que o faça em casa, só para a família, por favor”.
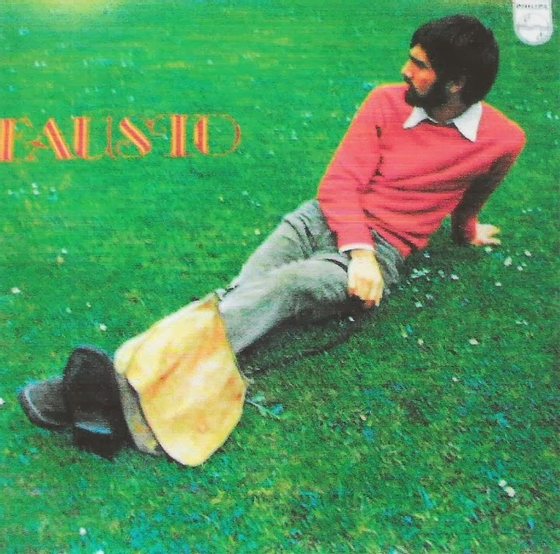
A capa do primeiro álbum de Fausto Bordalo Dias, “Fausto”, editado em 1970
“Estes rapazes estão entretidos, não estão a pensar em coisas…”
“O anglo-americanismo não é solução para vocês nem para ninguém neste país. Neste país só há uma solução para a música: é a música para este país”, escreve colérico Mário Castrim, crítico de televisão do Diário de Lisboa e militante clandestino do Partido Comunista Português, que tenta explicar à banda em questão, os Pentágono, que é necessária uma “consciência das necessidades e da verdade do nosso país”. Invariavelmente, no seguimento desta ladainha, surgia sempre o nome do músico que, ainda por cima, cantava com os Pentágono: Paulo de Carvalho. “Mas nós somos um povo muito engraçado”, diz-nos o próprio, em Lisboa. “Porque depois também houve a outra reação de orgulho: até temos cá um gajo que canta pop estrangeiro”.
Eu, Paulo de Carvalho é o segundo e último LP de rock português em 1971, de uma ambição extraordinária, gravado entre o estúdio da Polysom em Lisboa e o Estúdios Celada em Madrid, com 36 músicos e orquestrações de Thilo Krassman e Pedro Osório. Eu, Paulo de Carvalho é soul-pop com nervo R&B, com arranjos primorosos que aligeiram as canções para um estado de permanente serenidade. O cartão de visita é “Walk On The Grass”, composta pelo espanhol Manolo Diaz, que chega a Portugal num Citroen de dois cavalos para se apresentar pela primeira vez no “Página Um”. “O Manolo fez ‘Walk on The Grass’ que nas entrelinhas já falava de coisas proibidas na altura, o ‘Walk on The Grass’ é erva”, nota Paulo de Carvalho, que envia inicialmente o single às rádios sem o autor identificado para provar o potencial internacional da canção pop portuguesa. Conta à Mundo da Canção: “A rádio aderiu ao bombardeamento logo que reconheceu que se tratava de uma voz portuguesa num disco ímpar”.
1971 é o ano chave na carreira de Paulo de Carvalho. O ex-Sheiks — soldado 192 003/68 no quartel da Amadora — é a grande contratação da editora Movieplay, atinge o segundo lugar do Festival RTP da Canção e é entrevistado regularmente na imprensa portuguesa — “apoiado por uma poderosa máquina publicitária, canta, grava e aguarda os resultados”, acusa José Jorge Letria no Diário de Lisboa. “É filho único. O pai é embarcado, a mãe é doméstica. No Bairro de Alvalade tem decorrido grande parte da sua vida”, resume a revista Flama, notando que a entrevista decorre entre dois telefonemas femininos — “é um homem assediado” — e que 71 é de facto o ano de afirmação, mas não em Portugal: “Não me interessa trabalhar em Portugal pela simples razão que não há dinheiro nem espetáculos em condições.” “Eu Paulo de Carvalho foi feito exatamente com o intuito internacional”, confirma-nos o músico, confessando, 50 anos depois, algum arrependimento: “Deixei-me influenciar por isso. Achava que o caminho era por ali. Depois fui percebendo que o caminho não era por ali, que era pela música portuguesa”.
Hoje, Paulo de Carvalho lamenta as entrevistas em que desdenhou o mercado português, mas é inegável que não havia em Portugal “dinheiro nem espetáculos em condições”. No Estádio Municipal de Coimbra, o Festival Pop-71 tentava justamente colmatar a falta de um circuito de espetáculos para o rock português. A organização é da Associação Cristã da Mocidade, que falha à partida pela sua premissa anti-rock: “Pretende-se que o festival seja um grito de alegria e juventude. Mas um grito de alegria e juventude responsável”. Na plateia, a Mundo da Canção descreve “uma assistência calculada em duas mil pessoas, na sua maioria forasteira e jovem, vestindo cores vivas e trajando roupas um pouco bizarras”; e uma “moça” considera que, ao menos, “estes rapazes estão entretidos, não estão a pensar em coisas…”. A banda vencedora entre as 17 concorrentes são os Beatniks, de Lisboa, que cantam “Christine Goes to Town”, em inglês — “toda a gente aplaudiu, mas ninguém entendeu”.

▲ Os Beatniks na capa de "Christine Goes to Town", editado em 1971
Os vencedores do Festival Pop-71 parecem fadados ao sucesso: a Tecla anuncia a contratação da banda; tocam num festival internacional em Vigo; e vão ao “Pop 25”. Mas a escadaria do sucesso ficava por aqui, a meio caminho. Em agosto, três meses depois do Pop-71, enfim, os Beatniks são atração nas festas do Sardoal, partilhando palco com o Rancho Infantil de Almeirim e ainda, no recinto principal, com “uma prova de perícia automóvel”. A outra banda nas festas do Sardoal são os Objectivo de Zé Nabo, Mário Guia, o escocês Mike Seargent e o norte-americano Kevin Hoidale, que por estas e por outras, decidem criar a Nexus, uma sociedade de produção de espetáculos. Além das romarias de verão, e de noites pontuais de boates em Lisboa como a Beat, a Cova da Onça, a Tágide e o Maxime, os concertos de rock cingiam-se a bailes de finalistas. Em 1971, os Objectivo tocam para os finalistas do Liceu D. João de Castro, e os Beatnicks para os do Liceu Francês. Escreve a Disco, Música & Moda: “E se não fossem estas iniciativas esporádicas, onde teriam oportunidades muitos dos nossos grupos pop de atuar?”.
O marasmo do rock português
A principal missão dos Beatniks, segundo a contracapa do EP Christine Goes to Town, é “a introdução de música progressiva em Portugal”. Acontece que esse encargo estava bem entregue a uma banda que consegue, com mestria, traduzir em canção a profunda apatia de uma geração amordaçada. “Marasmo é algo que não mexe, não funciona, está parado, e a música também tem a ver com a ode marítima dos portugueses, a vontade de sair aqui do retângulo”, explica-nos Pedro Castro, que com o irmão José Castro fundou a banda Petrus Castrus e lançou, em 1971, o EP Marasmo. “É também uma resposta à crença que haveria uma abertura no Marcelismo que nunca aconteceu”.
A canção “Marasmo” distancia de imediato os Petrus Castrus das restantes bandas, compondo uma imagem tenebrosa em português:
“Estou afogado no mar
Dentro do sepulcro das algas
Onde o cortejo fúnebre do dia
Vem morrer”
Termina ao som fatídico do cravo e o bater das ondas. “Eu não via razão nenhuma para não cantar em português”, reflete o vocalista e teclista José Castro, irmão mais novo de Pedro Castro. “Não queríamos cair na banalização, na imitação completa, para fazer alguma coisa que efetivamente nos dissesse alguma coisa tinha que ser em português”.
No Areeiro — mais especificamente numa varanda da casa dos pais para evitar abanar as estruturas do prédio — os dois irmãos Castro ensaiam com um gravador Akai de duas pistas. “Estava no meu sétimo ano de liceu no Pedro Nunes e tinha um colega que escrevia textos no caderno enquanto estávamos nas aulas, todos dedicados a uma determinada Helena, que ele deveria estar loucamente apaixonado”, revela José Castro sobre o amigo António Sena que lhe entrega a letra de angústia adolescente “Marasmo”. A mãe dos irmãos Castro convence o Rui Valentim de Carvalho a ouvir as maquetes e, mal por mal, a editora consente que gravem rapidamente um EP em Paço de Arcos. Faltava o resto da banda: um amigo do liceu vai para o piano; e num concerto de baile nas Caldas da Rainha recrutam um baterista, João Seixas, e um então rocker desconhecido de barbicha, ainda sem cavaquinho, chamado Júlio Pereira.
“Há em Petrus Castrus a criação de um som próprio e de uma linguagem poética original, metafórica, surrealista mas de indiscutível qualidade”, analisa Tito Lívio na Mundo da Canção, notando uma influência evidente dos Moody Blues e Emerson, Lake & Palmer. “Nunca vi nenhum tostão, a editora assumia todos os custos, mas os discos não vendiam praticamente nada, por isso nunca passou na minha cabeça profissionalizar-me”, reflete José Castro, recordando-nos que, dois anos depois, o álbum Mestre dos Petrus Castrus é apreendido pela PIDE, em mais um episódio de particular maldade com o rock cantado em português.

▲ “Há em Petrus Castrus a criação de um som próprio e de uma linguagem poética original, metafórica, surrealista mas de indiscutível qualidade”, analisa Tito Lívio na "Mundo da Canção"
Uma solução para evitar azares com o regime era cantar em inglês, recurso recorrente para os Quarteto 1111 que estavam impedidos de tocar a maioria do repertório pela Direção do Serviço dos Espetáculos. Porém, esta estratégia tinha o seu custo. Escreve a Disco, Música & Moda depois da atuação dos Quarteto 1111 no Festival Casa de Imprensa: “São temas anglo-saxónicos dos quais não conseguimos perceber uma palavra. Também não nos interessa, pois ficaríamos em posição de desigualdade em relação a grande parte do público, que com certeza não teve o privilégio de andar no liceu”.
“Estamo-nos nas tintas para a renovação da música portuguesa”, anuncia na rádio, sem rodeios, um membro dos Pop Five Music Incorporated, em resposta à velha questão de cantar em inglês ou português. O Diário de Lisboa escreve a réplica: “É porque não conseguiram criar nada em português? Ou não acreditam na musicalidade da nossa língua? Ou acham que o que é bom é trabalhar para fora? E nós? E a música que nos falta?.” Os Pop Five Music Incorporated, banda liderada por Miguel Graça Moura, com o irmão de Sérgio Godinho na voz, Paulo Godinho, eram os ex-libris da cena prog do Porto e apresentavam o EP Orange em Lisboa, no Beat Club da Rua Conde Sabugosa. “A diferença é que o disco a ser gravado em Portugal nunca atingiria este requinte musical”, defende Miguel Graça Moura, pianista formado no conservatório e estudante de arquitetura, para justificar a gravação de dois EPs em Londres, nos estúdios Pye com 19 pistas, onde cada hora custa 2800 escudos. O sucesso de “Page One”, o indicativo do “Página Um” editado na Holanda e Alemanha, motivava uma conquista discográfica, do Porto para o resto da Europa.
A habilidade dos Pop Five Music Incorporated é incontestável, veja-se a meditação melódica de “Golden Egg”. Mas como é habitual nesta história do rock português, um ano depois das grandes pretensões internacionais, Miguel Graça Moura é mais comedido, considerando à Mundo da Canção que, tendo em conta os “condicionalismos”, enveredou “decididamente pelo ensino”. A entrevista de Miguel Graça Moura em 1972, com os Pop Five Music Incorporated praticamente extintos, serve o propósito de apresentar-se como o rosto do primeiro sintetizador Moog em Portugal, em parceria com a Casa Ruvina, na Rua Formosa, Porto. E vagarosamente, pé ante pé, mais sintetizador, menos sintetizador, o rock português procurava um caminho para fora desta travessia do deserto.
“Havia um grupo de gente, de músicos que na sua maioria nasce dos conjuntos, uns mais conhecidos que outros, que tiveram grande importância na música que se fez em Portugal, tanto na composição como na interpretação”, analisa, em cheio, Paulo de Carvalho, notando que o rock português desta época não pode ser revisto como um fracasso se serviu de escola para nomes incontornáveis da música portuguesa, como Júlio Pereira, Fausto, José Cid, Miguel Graça Moura, entre tantos outros. O exemplo dos Sindicato é paradigmático, uma espécie de Blood Sweat and Tears portugueses, sem qualquer pretensão de fazer história, que edita o único disco em 1971 e revela três craques de uma vez: Rão Kyao, Rui Cardoso e Jorge Palma.
“No plano artístico, procuramos o melhor, o que de bom se faz lá fora”, explica Jorge Palma à Disco, Música & Moda, que pergunta de volta: “Limitam-se portanto a uma função apenas imitativa”?. Responde Jorge Palma, aos vinte anos: “E já não é mau imitar o que é bom. É qualquer coisa.” No Portugal de 1971, uma data de miúdos em palco, a matar tempo até ao fatal serviço militar durante uma sangrenta Guerra Colonial, sem qualquer indústria musical que os ampare, era indiscutivelmente “qualquer coisa”.
No ano seguinte, Jorge Palma convence Arnaldo Trindade, da editora Orfeu, a lançar um single em nome próprio, em troca de uma máquina de lavar a loiça, enquanto conhece Ary dos Santos que o inspira a compor em português. Em 1973, Palma renega o serviço militar e torna-se num refratário exilado na Dinamarca. E aqui, entre a ilusão gloriosa de uma banda de miúdos em palco, a máquina de lavar a loiça como o único pagamento, o cantar em inglês ou português, a guerra e o exílio, está uma síntese desta época maldita do rock nacional.



















